A violência simbólica e o arbitrário cultural são da essência da escola e nela persistem. Tudo indica, no entanto, que já não podem ser exercidas com a tranquilidade de alguns anos atrás. E as reações estão aflorando de forma material, quer pela agressão verbal, quer pela agressão física.
Os professores do ensino básico, e particularmente aqueles que ministram aulas no ensino médio, estão habituados a uma violência nada sutil: a chamada indisciplina dos estudantes que praticamente tornam impossível o trabalho com os arbitrários pedagógicos próprias das práticas do professor.
Há alguns dias, eu esperava para ser atendido nos Correios, com uma daquelas senhas de “atendimento prioritário” que fazem a gente esperar mais ou menos 45 minutos para ser atendido. A meu lado, naqueles bancos reservados a idosos, senta-se uma senhora com uma senha alguns números depois da minha. Avisei que já estava esperando há 35 minutos e que a espera dela seria longa.
– Nossa! Não posso esperar. Eu tenho aulas para dar no começo da noite!
Perguntei-lhe que disciplina ministrava, e ela me respondeu que tentava dar aulas de Biologia no Ensino Médio e que era impossível dar aulas, que alunos transavam descaradamente dentro da sala de aula. E foi por aí…
Há menos de 15 dias estava eu a serviço do Sindicato dos professores do Estado de Sergipe, fazendo palestras em seus pré-congressos em cidades do interior. Tratava-se de um encontro de professores, aberto a todos, com o temário do Congresso já que deste somente participariam os delegados. Numa destas cidades, no turno da manhã, tentava ouvir a palestra de dois colegas da Universidade Federal de Sergipe. Impossível. A conversa, em voz alta, dos professores não permitia sequer que os escutasse estando nas primeiras filas do auditório… Em certo momento, não me contive e falei ao palestrante – Pare de falar! O colega demorou a entender, mas ficou quieto e o coordenador da mesa, por cinco vezes, até ser ouvido, pedia que os professores fizessem silêncio para que a atividade continuasse…
Durante o almoço fiquei pensando na estratégia que deveria usar no período da tarde: estaria sozinho das 14 às 17,30 com estes professores! Ao retornamos para o auditório – o Sindicato havia organizado um almoço para todos os professores – novamente a concentração do público foi nos fundos do auditório, como ocorrera pela manhã. Chamado para a mesa, situada no palco, dele desci com uma cadeira e fui até o meio do auditório, convidando aqueles que estavam sentados na parte da frente que viessem para os fundos. Eu falaria no meio do auditório. E disse “Como Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé”. Foi difícil conseguir atenção, mesmo tendo pedido que aqueles que não estivessem interessados, que aproveitassem a tarde passeando pela cidade. Por diversas vezes interrompi minha fala para que a conversa baixasse o tom.
Acabei a sessão me despedindo: “Até nunca mais porque, para cá, não volto. Depois dos 70 anos, prefiro falar para pessoas educadas!” A mesma violência simbólica que os professores sofrem, devolvem na primeira oportunidade em que estão na posição de escuta, mesmo que a ela cheguem voluntariamente. E aqui há uma diferença essencial: enquanto os alunos são “público obrigatório”, os professores, em eventos como este, não são “público obrigatório”. Mas a forma de violência é a mesma. A minha agressão no final da sessão, depois de responder minguadas perguntas, respondia a uma agressão que me deixou o dia todo encurralado, imaginando formas de chegar até eles e tratar dos desafios postos para a classe trabalhadora diante do desmonte das políticas públicas e dos direitos sociais.
Participei de pré-congressos em oito cidades do interior. Todos os professores receberam em suas pastas o texto que eu havia escrito – e que obviamente não li na exposição. No final do texto, deixei endereço eletrônico e oralmente me coloquei à disposição de quem quisesse discutir o texto, depois de lê-lo: poderiam me escrever e a conversa poderia continuar. Obviamente não recebi nenhuma mensagem, de ninguém. Com certeza, o papel gasto na impressão, apostando numa possível leitura dos professores, foi dinheiro jogado fora ou o estabelecimento de diálogos no estudo não faz parte da prática dos professores. Fiquemos com a segunda hipótese, uma forma de consolo para continuarmos escrevendo, neste faz-de-conta que tomou o lugar do estudo tanto de professores quanto de alunos, uns reclamando dos outros, quando o não estudar se tornou a prática de todos!
Há, pois, violência de ambas as partes: de alunos sobre professores, de professores sobre alunos. O que chamamos de indisciplina pode ser, na verdade, o modo que os estudantes encontraram para tentarem ser ouvidos. O diálogo transcrito por Cristina de Araújo na sua crônica de ontem, neste blog, mostra que “a aula preparada” tem que “ser dada” custe o que custar… No caso, a professora foi incapaz de rearticular sua aula, passando para o debate sobre as diferenças entre “ficção” e “realidade” e os atravessamentos que se dão nos textos: a realidade está na literatura, a literatura está na realidade. A violência simbólica que se perpetra na sala de aula (ou em eventos como o narrado acima) está no cotidiano da escola.
Mas agora, depois do tiroteio em Realengo; do assassinato de estudante dentro de uma sala de aula no interior de Sergipe; do assassinato de uma professora no estacionamento da escola; do tiroteio em Goiânia, a violência deixou de ser simbólica para se tornar física.
A questão de fundo que leva à violência física ultrapassa as quatro paredes da sala de aula, vai além dos muros das escolas e põe em xeque a própria estrutura social que cada vez mais condena a maioria à mera sobrevivência enquanto concentra todos os bens e benesses nas mãos de uma minoria. A violência do todo torna cada um violento, mesmo quando sujeito de espírito calmo!
E o tiroteio e as mortes de Goiânia, com pistola militar carregada por estudante para dentro da escola, reacendem a discussão da violência no ambiente escolar. Até o tiroteio do Realengo, reprisado agora em Goiânia, estes atos bárbaros pareciam distantes da nossa realidade: era coisa de norte-americanos, estes sim habituadas a matar e a carregar livremente armas e munições.
No entanto, mesmo nos EEUU, um sujeito entrar numa escola, descarregar sua arma e matar estudantes, e depois se suicidar, ainda merece manchetes na mídia, de modo que a violência arbitrária, quase inexplicável, não se tornou rotina nem lá, lugar de uma sociedade armada e favorável a guerras, abraçando todos, de republicanos a democratas, a doutrina Bush de que o mundo é um palco de guerra. Ora, a escola está no mundo, logo faz parte do mesmo palco.
Existem outras violências nas escolas, em que se unem a violência simbólica com a violência física auto-infligida. Todos sabemos o assustador número de estudantes japoneses ou coreanos que se suicidam! Estes suicídios devem ficar também na conta geral da violência na escola. Os suicídios de estudantes denunciam, mas ninguém ouve, a estrutura seletiva do sistema escolar, a condenação de sujeitos, através das avaliações, a profissões não desejadas, a menores salários, ao fracasso pessoal. Infelizmente, aos suicídios, responde-se como se fossem atos individuais e não consequências de uma sociedade doentia.
À violência que atinge proporções alarmantes, como os tiroteios, as reações clamam por segurança: querem a polícia na escola (aliás, o estado de Goiás tinha chamado policiais para dentro das escolas e assim mesmo houve este bárbaro tiroteio), querem detector de metais nas portas das escolas, etc. No entanto, para discutir a violência física perpetrada em ambiente escolar é preciso discutir também a violência simbólica que perpassa as relações professores/direção/alunos (ops! estou acostumado a falar em direção, mas parece que agora temos “gestores” e brevemente teremos “gerentes” nas escolas) e a violência incrustrada na forma de nossa organização social que beneficia poucos para relegar a maioria aos becos das sobrevivências escassas.
João Wanderley Geraldi é reconhecido pesquisador da linguística brasileira e formou gerações de professores em nosso país. Há já alguns anos iniciou esta carreira de cronista-blogueiro e foi juntando mais leitores e colaboradores. O nome de seu blog vem de sua obra mais importante, Portos de Passagem, um verdadeiro marco em nossa Educação, ao lado de O texto na sala de aula, A aula como acontecimento, entre outros. Como pesquisador, é um dos mais reconhecidos intérpretes e divulgadores da Obra de Mikhail Bakhtin no Brasil, tendo publicado inúmeros livros e artigos sobre a teoria do autor russo.
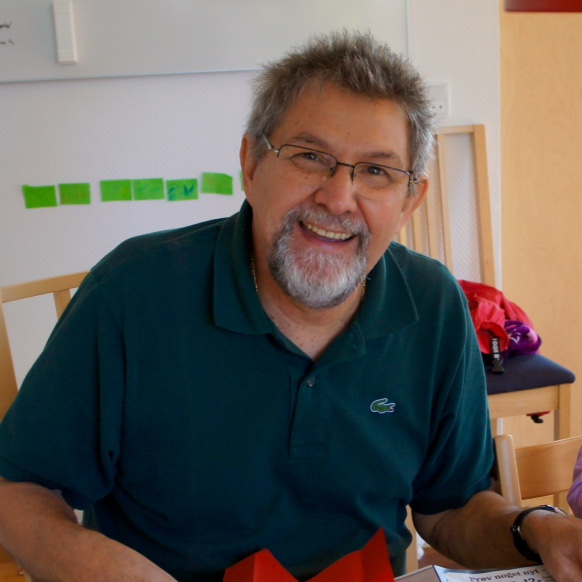
Comentários