Um Mia Couto é sempre um Mia Couto: de produzir fôlego, paradas e sofreguidão. É um autor que conhece seu ofício como ninguém. E reúne em suas obras, mas particularmente neste Terra Sonâmbula um misto de realidade e realismo mágico, um olhar europeu da África e um olhar africano sobre os desfazeres europeus colonizadores.
Este romance, um dos mais festejados e reeditados de Mia Couto, tem como estrutura o desenrolar de duas histórias, de dois meninos-rapazes, Muidinga e Kindzu: são dois enredos, duas histórias, personagens distintos que não se entrelaçam, ainda que o leitor desde a leitura do primeiro Caderno de Kindzu se pergunte como se unirão estas histórias, porque alguma razão conduzia a independência das histórias paralelas, mas que reunidas num mesmo livro deveriam ter, em algum momento, um encontro.
O pano de fundo de realidade é a guerra civil moçambicana, ainda que esta não seja seu tema. Ela existe. E a existência das personas das histórias é marcada pela guerra, pelos bandos e pela “nova organização” política do pós-independência de Moçambique, não sem farpas aos “administradores” da nova ordem que invocam sempre os inimigos da nação num discurso eivado de uma “dialética marxista” distante a anos-luz da obra de Karl Marx.
Vamos às histórias:
Na primeira história, somos apresentados a Muidinga e Tuahir, já caminhantes em estradas sem vida. Encontram um machimbombo (um ônibus) queimado, de que fazem alojamento depois de enterrarem os corpos carbonizados e um corpo de homem que fugira. Junto a este encontraram uma mala contendo mantimentos e um conjunto de cadernos. Estes cadernos contaram a segundo história que assumirá de fato o primeiro plano da narrativa. É a leitura destes cadernos que darão vida a Muidinga e Tuahir, que num mundo parado pela guerra estão alojados sem terem para onde ir ou sem saberem para onde ir. Suas andanças limitam-se aos arredores do ônibus, andando sempre em círculos. Poucos são os episódios que dão movimento a este mundo de um velho e um menino: o encontro com Siqueleto, o velho magro e esfomeado, sobrevivente de uma aldeia saqueada pelos bandos em guerra e abandonada por seus habitantes, restando Siqueleto que se faz semente para que uma nova aldeia surja; o encontro com o fazedor de rios, que cava a terra para “fabricar um rio” que efetivamente vem a correr enquanto dura uma grande tempestade; o encontro com as idosas que em rito contra a praga dos gafanhotos foram surpreendidas por Muidinga, que presenciando suas danças atravessou um interdito e foi castigado com um “estupro” coletivo, antes mesmo de sua iniciação por “mãos sonhando mulheres”. Chega enfim um momento em que Tuhair concorda com Muidinga e afastam-se do ônibus alojamento em busca do mar, passando um pântano em que picado por mosquitos, Tuahir adoece e vai morrer quando chegam ao mar, o corpo posto em uma canoa de nome Taímo: aqui se encontram as histórias. O barco que fora a “locomotiva” de viagem de Kindzu servirá de esquife para Tuhair… e Muidinga se descobre Gaspar.
A segunda história, aquela contida nos Cadernos de Kindzu, são escritas como se fossem memórias deste: um registro de sua vida. Ao contrário de Muidinga que não se lembrava de seu passado, Kindzu conheceu família, pai Taímo e mamã (surpreendentemente não nominada, é sempre “minha mãe”), a aldeia com seus moradores, incluindo um comerciante indiano (Surendra Valá) com quem Kindzu gastava tempo em conversas. Houve a independência e como sua mãe ganhara logo após um filho, o pai lhe deu o nome de Vinte e Cinco de Junho. Ficou chamada Junito, este que por ordem do pai é largado no galinheiro, coberto por vestido de penas tecido pela mãe. Junito passa a viver com as galinhas… até fugir e sumir na história restando como lembrança para Kindzu. Depois da morte do pai, este descobre a existência de guerreiros da justiça, os naparamas. Juntar-se a eles tornou-se o sonho de Kindzu e sai em barco para não deixar rastros e não ser seguido pelo pai, a quem deixava, com a viagem, de levar os alimentos da tradição. Kindzu viaja pelo mar, chega a Matimati, um povoado “despovoado” pela guerra mas repleto de deslocados famintos. O povoado é administrado por representante da “nova ordem”, por um “administraidor” como o chamava a mulher. Kindzu não é bem recebido no povoado. Mas na praia fica sabendo que um navio com mantimentos havia naufragado. A narrativa do episódio é conduzida por um ex-assessor da “administração” numa linguagem burocrática. Segundo esta narrativa, neste contínuo desdobrar-se de narrativas que compõem os Cadernos de Kindzu, “… toda a tripulação desapareceu por intermédio de ondas gigantes e de duração interminável. As autoridades imediatamente desencadearam uma ofensiva de averiguações político-ideológicas tendo apurado a presença do inimigo da classe”. Kindzu, saindo de Matimati, acaba também ele no navio naufragado e nele encontra Farida, a mulher que passa a amar e a quem promete encontrar seu filho Gaspar. Esta promessa faz que Kindzu retorne a Matimati inciando sua busca. E nesta busca se dá a formação do homem Kindzu, que reencontra no povoado seu amigo, o indiano Surendra Valá que junto com o ex-assessor estavam montando negócio de comércio, sempre muito lucrativo em tempos de guerras, com um estoque já amealhado com o desvio dos donativos chegados por navios anteriores. Chegam a inaugurar a loja, no antigo casarão de Romão Pinto, o pai adotivo de Farida e também pai de Gaspar! No convívio com os habitantes de Matimati, desenrolam-se inúmeras histórias que comporão a busca por Gaspar, passando pelas aventuras de Kindzu com a mulher do administrador, Carolinda. Guiado por Quintino, um bêbado de Matimati, Kindzu chega a um campo de deslocados, onde encontra a tia de Farida, Euzinha que lhe diz que Gaspar havia sido transferido para outro campo porque os meninos e jovens que os bandos encontravam eram obrigados a se “alistarem” e irem para a guerra… Desiste Kindzu de sua busca, volta a Matimati e lá toma um ônibus em retorno a sua aldeia. Nesta viagem, Kindzu já dado por falecido depois do incêndio do ônibus, vê Muidinga e o chama (talvez de outro mundo) de Gaspar… E as histórias se encontram.
O leitor, percorrendo os dois mundos das duas histórias, desde o começo desconfia: onde os fios se encontrarão. De início, seria de esperar que Junito, o filho tornado galináceo, poderia ser o ponto de encontro, não sendo mais do que Muidinga. Não foi. Muita história correu até o encontro de Farida, o conhecimento da existência de Gaspar, filho do estupro praticado pelo colono tuga Romão Pinto.
Como em toda obra de Mia Couto, a narrativa é perpassada por mitos moçambicanos, mitos africanos, histórias e mais histórias. Elas desvelam a dicotomia de que a própria obra é exemplo: escrita em português, preenchido de léxico das línguas da terra, o próprio enredo de invenção se deixa penetrar por enredos míticos que povoam o imaginário africano e que são inacessíveis ao pensamento europeu. A duplicidade da história é também a duplicidade do dizer narrativo e a origem do povo moçambicano de que Mia Couto é parte.
O livro está cheio de metáforas. Junito, aquele que recebeu por nome a data da independência é encerrado num galinheiro em vestes que não lhe são próprias. Moçambique, independente, se tornar uma república socialista, em vestes e palavras que não lhe são próprias. Como Junito teve que aprender a cocoricar, a administração da nova ordem tinha que aprender o jargão: o discurso de Assane, o ex-assessor da administração de Matimati e as falas do próprio administrador, chamado pela mulher de “administraidor” revelam esta dualidade entre o espírito cultural próprio e o que se lhe impõe de fora.
Mia Couto encanta em suas histórias. Mas também é um dedicado descobridor que mobiliza os recursos da língua portuguesa fazendo-a falar magicamente. Em qualquer obra de Mia Couto perdemos o fôlego de instante a instante pelo inusitado, pelo que nos mostra que estava ali, nas palavras… Extraio da narrativa algumas passagens, descontextualizando-as. Se há ações que praticamos com a linguagem, como narrar e performaticamente se apresentar como escritor de “brincriações”, há no trabalho sobre a língua um esmero que talvez somente o trabalho da língua na constituição duplicada do cidadão moçambicano possa iluminar. Este duplo constitutivo (do eu europeu e do eu africano) abre caminhos para o fazer estético que implica uma ação sobre a língua. Chama atenção neste livro, para além das analogias e das metáforas, da presença do mito e da ironia, das imagens em cena, também a “produtividade lexical” que faz a língua dizer mais do que diria sem o esforço da ação estética. Vamos a alguns exemplos (os grifos são meus):
- Sempre a água me trouxera facilidades, nela eu ficava no à-vontade de gafanhoto em capinzal. Naqueles momentos, porém, concorriam confusas desordens. Me vinha vontade de regressar, tornar a alimentar meu falecido velho, me simplificar no nada acontecer da aldeia.
- As ideias, todos sabemos, não nascem na cabeça das pessoas. Começam num qualquer lado, são fumos soltos, tresvairados, rodando à procura de uma devida mente.
- Sou eu que ando a ratazanar seu juízo.
- O velho sai ao desengonços, tropernando pelas escadas…
- Que protestava o velho assim tão espalhafarto.
- É melhor a gente se emborar.
- À volta, se escuta apenas o silêncio pingando.
- Timiudamente, despontam os primeiros fios de conversa…
- O velho Tuahir admolestava: não se chateie, miúdo.
- Minhas mãos tinham o malvoroço de quando seguramos um recém nascido.
- Mas vendo seu tamanho maiúsculo me dava ainda mais pena lhe ver assim perninulo.
- … ver o céu, todo redondo, estrelinhoso.
É impressionante a capacidade de Mia Couto de fazer a língua falar, juntar palavras em parte de palavras por um jogo paradigmático, em que a forma da própria palavra chama outra palavra fazendo com que reunidas elas digam a si próprias e mais que isto. Tornar “espalhafatoso” em “espalhafarto” é um achado linguístico. A questão não é somente de ordem semântica (todo o espalhafatoso é farto de espalhafatos), é de ordem do trabalho sobre os recursos expressivos que fazem-nos ultrapassar sentidos e formas.
Uma pesquisa de um linguista poderia apontar os modos de composição lexical de Mia Couto. Certamente isso é possível. Mas certamente encontrar o algoritmo da produtividade lexical não será suficiente para explicar esta falta de fôlego que ler um livro de Mia Couto nos traz: pela história que conta aliada aos modos de contar chegando à filigrana da alteração e criação lexical. Tudo isso faz com que Mia Couto ao escrever sempre está em interinvenção: inventando e intervindo (Interinvenções é o título que Mia Couto deu a uma coletânea de crônicas, ensaios e conferências que proferiu durante certo período; depois, seguiu-lhe outra coletânea: Pensatempos).
Uma nota da ordem da história do meu exemplar: ganhei-o da colega Profa. Dra. Helena Sá, da Universidade de Aveiro, em 2003, quando por lá estive como professor visitante. A dedicatória: “Lisboa 2?/03/03 Finalmente posso oferecer-lhe a minha primeira descoberta da literatura africana, o primeiro fascínio com a linguagem de Mia Couto (que vou agora continuar numa outra voz, com Guimarães Rosa, uma descoberta vossa). Espero que esta leitura lhe dê tanto prazer quando a mim. Helena”. Havíamos conversado, antes de eu receber sue presente, sobre a aproximação da linguagem de Mia Couto à linguagem de Guimarães Rosa. Eu me surpreendera com algumas páginas do escritor moçambicano e imediatamente fiz a ligação com o autor brasileiro. Somente muito mais tarde, num dos textos de Interinvenções descubro o tributo que faz Mia Couto a Guimarães Rosa.
Quem ainda não conhece qualquer livro de Mia Couto, saiba que está perdendo muito, muito mesmo…
João Wanderley Geraldi é reconhecido pesquisador da linguística brasileira e formou gerações de professores em nosso país. Há já alguns anos iniciou esta carreira de cronista-blogueiro e foi juntando mais leitores e colaboradores. O nome de seu blog vem de sua obra mais importante, Portos de Passagem, um verdadeiro marco em nossa Educação, ao lado de O texto na sala de aula, A aula como acontecimento, entre outros. Como pesquisador, é um dos mais reconhecidos intérpretes e divulgadores da Obra de Mikhail Bakhtin no Brasil, tendo publicado inúmeros livros e artigos sobre a teoria do autor russo.
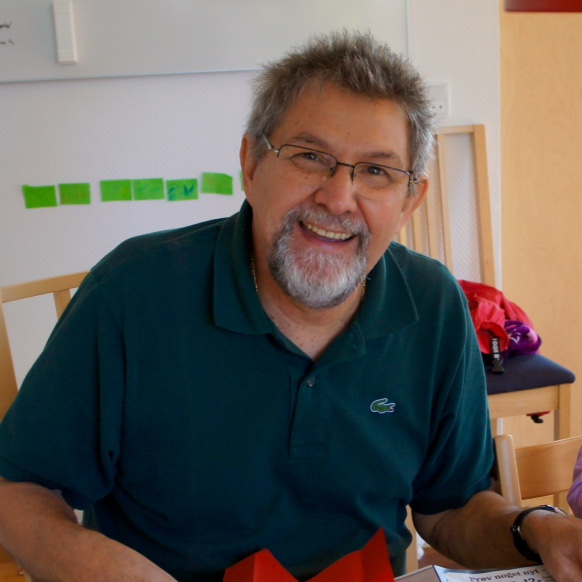
Trackbacks/Pingbacks