Nota prévia
Inicialmente, as ideias aqui expostas foram a base de uma palestra no V Seminário Integrado de Língua e Literatura, realizado em Porto Alegre em outubro de 1989. Escrito logo a seguir, este texto teve duas publicações praticamente simultâneas: na revista Contexto & Educação (n. 16, out/dezembro de 1989) e Letras de Hoje (vo. 25, n. 1, março de 1990). Depois foi expandido em minha tese de doutorado, parte da qual foi publicada (Portos de Passagem, SP: Martins Fontes, 1991). Há muito tempo vinha criticando não os livros didáticos em si (participei da equipe de pesquisadores que elaborou, a pedido do INEP, o livro “O que sabemos sobre o livro didático – Catálogo analítico” (Editora da Unicamp, 1989), mas a adoção do livro didático de uma forma tal que os professores deixaram de ministrar suas aulas para se tornarem apenas seguidores destes livros, tendo em mãos o “exemplar do professor” com todas as respostas já dadas. Nesta época também recebi um convite de uma editora nacional para escrever um livro didático na área, com a recomendação explícita de que deveria ser um livro para uso de um professor de baixa cultura e poucos conhecimentos, para alunos desinteressados e quase imbecis! Obviamente, recusei o convite! E mais razão ainda para continuar uma luta contra a adoção dos livros que conduzem a escolaridade brasileira. Do meu ponto de vista, não se trata de melhorar o livro didático em si. Trata-se de os professores recuperarem o direito de ministrar aulas de sua autoria. Nos debates, um dos argumentos mais usados era o de que o livro didático era o único material a que professores tinham acesso e seria para muitos o único livro que teriam na vida. Até hoje continuo defendendo que as más condições de trabalhos e as péssimas condições de acesso aos bens culturais não deve ser justificativa para eternizar uma solução que aprofunda estas mesmas condições, pois a presença material do LD dispensa professores – e alunos – de lutarem por bibliotecas e por melhores condições de estudo (de ambos). Mais de uma década depois, o PNLD torna a adoção deste material uma “política de estado” como defenderam equipes que o analisavam buscando sua melhoria… e eternamente buscarão! Hoje sabem também eles: o catálogo que elaboram, sendo indicativo, continuará a permitir que livros considerados de péssima qualidade continuem nas salas de aula… e os professores cada vez mais dependentes, de modo que tanto a formação inicial quanto a continuada se tornam praticamente dispensáveis.
O texto: um problema para o exercício da capatazia
Não é para entender que nós pensamos é para sermos perdoados. (Adélia Prado. Reza para as quatro almas de Fernando Pessoa)
Nas reflexões do náufrago Robinson Crusoé, na versão de Michel Tournier, poderíamos encontrar um parâmetro inaugural que permitiria iniciar esta conversa sobre o problema da avaliação de textos,q uer do ponto de vista da leitura, quer do ponto de vista da produção:
Sei agora que todos os homens trazem em si – e, dir-se-ia, acima de si – uma frágil e complexa montagem de hábitos, respostas, reflexos, mecanismos, preocupações, sonhos e implicações, que se formou, e vai-se transformando no permanente contato com os seus semelhantes. Privada de seiva, esta delicada florescência definha e desfaz-se. O próximo, coluna vertebral do meu universo… Todos os dias meço quanto lhe devia, ao verificar novas fendas no meu edifício pessoal. Sei o quanto me arriscaria perdendo o uso da palavra, e combato com todo o ardor da minha angústia essa decadência suprema. As minhas relações com as coisas, porém, encontram-se, também elas, desnaturadas pela minha solidão. Quando um pintor ou um gravador introduz personagens numa paisagem ou na proximidade de um monumento, não é por gosto do acessório. As personagens dão a medida e, o que é ainda mais importante, constituem pontos de vista possíveis que, ao ponto de vista real do observador, acrescentam indispensáveis virtualidades.
O outro como medida. E avaliação é presença do outro. Discutir o trabalho de avaliação que se faz na escola exige considerar esta perspectiva, já que o professor, enquanto outro que testemunha leituras do aluno que lê outro, o autor, ou enquanto outro-leitor que lê o aluno-leitor, enfeixa na avaliação perspectivas de diferentes vozes e, neste feixe, sua voz não é simplesmente de quem junta perspectivas sem lhe dar um sentido. É a construção deste sentido o tema que nos ocupará. Porque antecede e funda o trabalho de avaliação. Gostaria de ver emergir o tema vendo-o a partir de dois eixos: o da identidade social do ser professor e o da especificidade do trabalho com textos.
- A questão da constituição social da identidade do professor
Creio que a relevância do problema da avaliação no trabalho do professor de linguagem é hoje crucial porque nele se revela, sem qualquer retoque, uma contradição essencial entre a identidade de ser professor, social e historicamente constituída, e a especificidade do trabalho com textos.
Ainda que divisão grosseira, pode se distinguir três grandes momentos históricos definidores ou caracterizadores da profissão. Evidentemente, estes três momentos não são pontuais, datados, sem interconexões entre si. Estreitamente relacionados à formação social em que emergem, valem como pontos de referência, já que em cada um deles uma qualidade diferente se constitui.
- 1. Nos tempos das escolas de sábios
Inicialmente, o magistério não existiu como profissão, mas como ‘escola’. Um sábio, enquanto produtor de um saber, de uma reflexão, fala sobre este saber não a alunos, mas a discípulos, a seguidores. O outro não é visto como alguém a ser instruído, mas como alguém a ser conquistado para os pontos de vista defendidos pela ‘escola’. Sócrates, Platão, Aristóteles ou Galileu são produtores de saber cujos discípulos são interlocutores aliados, mesmo quando se trata de contrapor-se aos sofistas ou à inquisição. Mesmo na história da igreja talvez seja possível detectar na criação de conventos ou ordens religiosas uma base inicial na liderança intelectual de um pensador. O que identifica este tempo é a produção do saber. Entre aquele que ensina e aquele que produz conhecimento não há uma separação radical. Quem ensinava gramática era também gramático. Não havia diferença entre o filósofo e o professor de filosofia; entre o físico e o professor de física.
- 2. A primeira divisão social do trabalho
E a primeira alienação. Já nos primórdios do mercantilismo se dá uma divisão fundamental, com o surgimento de uma nova identidade: o mestre já não se constitui pelo saber que produz, mas por saber um saber produzido que ele transmite. Neste sentido, é instrutivo ler, na defesa que faz Cominus (1630) de seu método perfeito de ensinar:
… serão hábeis para ensinar mesmo aqueles a quem a natureza não dotou de muita habilidade para ensinar, pois a missão de cada um não é tanto tirar da própria mente o que deve ensinar, como sobretudo comunicar e infundir na juventude uma erudição já preparada e com instrumentos também já preparados, colocados nas suas mãos. Com efeito, assim como qualquer organista executa qualquer sinfonia, olhando para a partitura a qual talvez ele não fosse capaz de compor nem de executar de cor só com a voz ou com o órgão, assim também porque é que não há o professor de ensinar na escola todas as coisas, se tudo aquilo que deverá ensinar e, bem assim, os modos como o há de ensinar, o tem escrito como que em partituras?
De produtores a transmissores: uma nova identidade; do outro lado do fio, também uma outra identidade: de discípulos a alunos. Como vai se caracterizar agora este profissional/professor? De um lado, que poderíamos chamar de eixo “epistemológico”, o professor se constituirá socialmente como o sujeito que domina um certo saber (de que não é produtor). Em sua área de especialidade se coloca de imediata a questão de estar sempre atualizado em relação às últimas descobertas (o que ironicamente sempre significa estar desatualizado porque está sempre a se atualizar). Sua competência se medirá pelo seu acompanhamento, atualização, dos conhecimentos produzidos. Mas não só. Há os que sabem mas não sabem transmitir: o outro lado, que poderíamos chamar de “eixo das necessidades didático-pedagógicas” coloca os problemas de transmissão desse saber. Seu trabalho ou tarefa será de constituir, com base nestes dois eixos, o conteúdo de ensino. Ou seja, o resultado do trabalho científico (que o professor competente deve conhecer enquanto resultado sem que se lhe exija conhecer as razões de ser da pesquisa e de seus resultados) transforma-se em conteúdo de ensino face à imagem que faz o professor das dificuldades de compreensão que poderão ter seus alunos. Entre o produto da pesquisa e o conteúdo de ensino vai uma distância enorme: gradação, seriação, motivação, modos de ensinar etc. são alguns dos instrumentos com que se constrói tal diferença. E este trabalho, evidentemente, produz suas marcas no objeto transmitido. Entre a gramática de uma língua, no sentido de produto de pesquisa do gramático, e a gramática pedagógica vai enorme distância. O trabalho social do professor é o do articulador dos eixos epistemológico e das necessidades didático-pedagógicas. Mas há uma característica, em relação ao saber, que identifica de forma qualitativamente diferente o professor: trata-se de transmitir um saber já produzido. E do processo de produção deste saber não participam nem o professor nem o aluno. Entre o filósofo e o professor de filosofia, entre o físico e o professor de física, estabelece-se a diferença. Divide-se o trabalho. Na aprendizagem, não se trata de trabalhar com dados ou fatos para, refletindo sobre estes, produzir uma explicação. Trata-se de fazer exercícios para chegar a respostas que o saber já produzido havia previamente fornecido.
- 3. Os tempos mudaram
E como. O desenvolvimento tecnológico alterou profundamente as condições de produção de bens e com estas alterações novas divisões do trabalho. Na produção científica, mudam-se as relações. É instrutivo atentar para o fato de que hoje não se fala mais em “sábios” ou em “cientistas”, mas em pesquisadores (esta mudança de denominação não refletiria também uma mudança qualitativa nas relações de produção: emprego, salário, etc.?). A reflexão e a produção de conhecimento subordinam-se a relações de interesse e também a condições de infraestrutura técnica (como mostra Habermas). No que concerne ao tema desta exposição, a nova configuração introduz na área toda a produção de material didático posto à disposição do trabalho de transmissão. Trata-se de uma “parafernália didática” que vai do livro didático (para o professor, com respostas dadas) até vídeos destinados ao ensino de determinados tópicos dos conteúdos programáticos. Em relação ao trabalho do professor, a profecia de Comenius se concretiza: “tudo aquilo que deverá ensinar e, bem assim, os modos como o há de ensinar, o tem escrito como em partituras”.
Se na etapa anterior era de responsabilidade do professor articular os eixos “epistemológico” e “das necessidades didático-pedagógicas”, no mundo tecnologizado muda qualitativamente o papel do professor. A organização do conteúdo e a definição de modos de transmissão deste conteúdo passaram a ser responsabilidade do autor do livro didático. Do álbum seriado, das tecnologias diversas de ensino, dos vídeos, etc. Escolhido o material com que se trabalhará na sala de aula, ao professor cabe agora uma certa função de ‘capatazia’: o controle do tempo de contato do aprendiz com o material previamente selecionado, a definição do tempo de exercício e de sua quantidade; a correção do exercício; a verificação de aprendizagem (isto é, se as respostas dadas pelos aprendizes correspondem às respostas dadas previamente pelo elaborador do instrumento de verificação).
A tecnologia, que permitiu e permite a produção de material didático cada vez mais sofisticado, mudou as condições de trabalho do professor. O material está aí: facilitou a tarefa, diminuiu a responsabilidade pela definição do conteúdo de ensino, preparou tudo – até as respostas para o manual ou guia do professor. E permitiu: elevar o número de horas-aula (com as tarefas do tempo anterior seria impossível a um mesmo sujeito dar 40 ou 60 horas de aula, em diferentes níveis de ensino); diminuir a remuneração (o trabalho do professor aproxima-se, em termos técnicos, cada vez mais do trabalho manual, não que este deva ser mal pago, mas na sociedade em que vivemos, o trabalho intelectual sempre foi mais valorizado); contratar professores independentemente de sua formação ou capacidade (sabe-se quantos professores “leigos” estão nas redes de ensino ou, o que é pior, com formação pra uma área e atuando em outra). Some-se tudo e temos ao menos uma pista para compreender o “desprestígio” social da profissão.
É claro que, apesar de tudo, o professor e os alunos não rezam somente segundo a letra da cartilha que os adota (o material didático, em geral, uma vez selecionado, adota professores e alunos). Há nas salas de aula válvulas de escape de um tal projeto: muitas perguntas, do aluno e do professor, fogem do previsto. A existência de tais fatos não é suficiente para descaracterizar a identidade do projeto contemporâneo, que se poderia denominar de “exercício da capatazia”. Tais fatos apenas nos mostram pistas para um trabalho de resistência possível.
Em resumo, podemos caracterizar três diferentes identidades ou papeis para o professor, em diferentes épocas: (a) a produção de conhecimentos; (b) a transmissão de conhecimentos; (c) o controle da aprendizagem. O fim de um projeto (ou época) e o início de outro não é pontual. Estas diferentes identidades entrecruzam-se, em cada época, uma delas sendo a de maior relevo.
- A especificidade do trabalho com textos
O trabalho com linguagem, na escola, vem-se caracterizando cada vez mais pela presença do texto, quer enquanto objeto de leituras, quer enquanto resultado de um trabalho de produção. Parece-me que nem sempre o ensino de língua se caracterizou por tal presença (2). Independentemente das críticas que possamos tecer ao trabalho mais contemporâneo no ensino da língua, a preocupação com textos é inegável.
A presença do texto na sala de aula começa a ser, hoje, um complicador para o exercício da capatazia. Isto porque o próprio objeto de ensino atual é visto de diferentes formas: numa primeira perspectiva, o texto é tomado como um produto pronto, acabado, com mensagem explícita. Ler um texto é “extrair sua mensagem”. E ela é uma só. Ler bem um texto é interpretá-lo no figurino de leituras feitas por outros (professor, autor de livro didático, crítico). E o que não é pertinente fica fora. Leituras privilegiadas passam por a única leitura possível, nenhum problema para o exercício da capatazia.
Mas há outra perspectiva: uma nova categoria passa a ser considerada. O leitor, sua história, suas construções de sentido, no momento da leitura, situação, contexto, etc. passam a ser “o sentido desta leitura”. A natureza polissêmica do texto não é mais atribuída apenas ao texto, mas às leituras dos diferentes leitores. Para certas posições mais radicais, o texto quase desaparece. Emergem as leituras dos leitores. Na vulgarização escolar, “toda leitura passa a valer”; “é a minha leitura”; “é a minha interpretação”. Obviamente, na teoria, não é isso que se defende. A vantagem desta perspectiva é ter trazido à baila ou à luz do dia o leitor e as situações de leitura. Nesta perspectiva, o exercício da capatazia torna-se impossível. A solução “tecnológica” dos livros didáticos são os exercícios de “leitura e interpretação de textos” que ficam na superfície. Pergunta-se o que se pode transcrever do próprio texto. E o aluno, antes de ler o texto, lê as perguntas para já ir preenchendo os espaços dos exercícios. São trabalhos com texto que deixam insatisfeitos professores e alunos.
Há ainda uma terceira perspectiva. O autor de um texto opera com a linguagem que não é só dele. Por isso, pertencente a uma mesma comunidade interpretativa, pode calcular as leituras possíveis dos leitores virtuais de seu texto. Escrever, neste sentido, é fornecer pistas ou instruções de leitura. Ler é buscar, através das pistas fornecidas, o sentido ou os sentidos que o autor pretendeu comunicar. Nem sempre, evidentemente, o sentido produzido pela leitura corresponde pari passu ao sentido que o autor gostaria de ter transmitido. E isto não é problema. Na linguagem, encontram-se sujeitos. Na construção dos sentidos, os sujeitos se constituem. Agora, já não se trata de classificar uma leitura de adequada ou in adequada, pura e simplesmente (o que seria “natural” na primeira perspectiva). Também não se trata de dizer que o sentido do texto é aquele que esta leitura lhe deu, valendo qualquer leitura (o que seria “natural” na segunda perspectiva). Trata-se agora de reconstruir, face a uma leitura e um texto, a caminhada interpretativa do leitor. Ou seja, o sentido atribuído a um texto ou construído na leitura não pode ser simplesmente desconsiderado como inadequado. O importante é descobrir porque este sentido foi construído: a partir de que pistas, operando com que inferências, trabalhando com que categorias ou história de vida e leitura ou que elementos da situação concreta, o leitor chegou onde chegou.
É esta terceira perspectiva ou visão do trabalho com textos que mais corrói a identidade social e historicamente construída do que seja ser professor. Considerando o aluno, e cada um deles em particular, como sujeito leitor ou como sujeito autor, ser professor já não é exercer pura e simplesmente o controle em sala de aula. É ser do aluno um interlocutor ou mediador entre o objeto de estudos (produção e leitura de textos) e a aprendizagem que se vai concretizando nas atividades de sala de aula. Como cada criança é um outro, ele constitui pontos de vista possíveis, que confrontados com os pontos de vista do professor, fazem da sala de aula um lugar de produção de sentidos. E esta produção não pode estar totalmente prevista. Os percalços da interlocução na sala de aula, os acontecimentos interativos, passam a comandar a reflexão que fazem, aqui e agora, na sala de aula, os sujeitos que estudam e aprendem juntos: professor e alunos.
Ora, um trabalho com textos, assim concebido, leva a supor que uma nova identidade do ser professor está-se constituindo. É impossível o mero exercício da capatazia. Qual será este novo momento da nova identidade do professor é cedo para estabelecer. Mas uma coisa, se esta reflexão tiver algum valor, parece essencial: é a partir da especificidade do trabalho que se está corroendo a identidade contemporânea do ser professor de linguagem.
Notas
- Este texto é parte de um trabalho ainda em realização em que se discutem as consequências, para o ensino de língua materna, da assunção de uma concepção sociointeracionista da linguagem. Evidentemente, a exposição resulta das e dirige as preocupações com que se está trabalhando o tema mais amplo.
- Ainda que o texto, quer como objeto de leitura, quer como resultado de produção, sempre tenha estado presente no ensino de língua portuguesa, s relevância e a forma desta presença não foi sempre igual. Uma possível caracterização do ensino de língua portuguesa, no Brasil, constataria a existência dos seguintes momentos:
- de predominância do ensino gramatical – o texto era objeto de leitura (oral) em que melhor lia quem melhor se aproximava à leitura (oral) do professor ou era objeto a ser imitado na “prestação de contas” que se concretizava na redação;
- do ensino da gramática através de textos – o texto entra para a sala ade aula e às funções anteriores soma-se o fornecimento, pelo texto, de exemplos para o ensino da gramática (que continua a ser o português que se ensina através de textos);
- da “comunicação e expressão” – mais pela segunda (expressão) do que pela primeira, o texto e suas funções passam a ser estudadas em aula. Ironicamente, é um tempo de “quem não se comunica se trumbica”, mas em que ler e escrever textos (inclusive não verbais) passa a ser “conteúdo de ensino”;
- da produção e leitura de textos – período contemporâneo, emq eu o texto é presença obrigatória em aula.
Em certo sentido, estes períodos acompanham, com toda a carga de didaticização e vulgarização, uma atualização do “eixo epistemológico” com base nos estudos linguísticos. Texto e discurso cada vez mais vêm se impondo como objeto de estudos da Linguística.
João Wanderley Geraldi é reconhecido pesquisador da linguística brasileira e formou gerações de professores em nosso país. Há já alguns anos iniciou esta carreira de cronista-blogueiro e foi juntando mais leitores e colaboradores. O nome de seu blog vem de sua obra mais importante, Portos de Passagem, um verdadeiro marco em nossa Educação, ao lado de O texto na sala de aula, A aula como acontecimento, entre outros. Como pesquisador, é um dos mais reconhecidos intérpretes e divulgadores da Obra de Mikhail Bakhtin no Brasil, tendo publicado inúmeros livros e artigos sobre a teoria do autor russo.
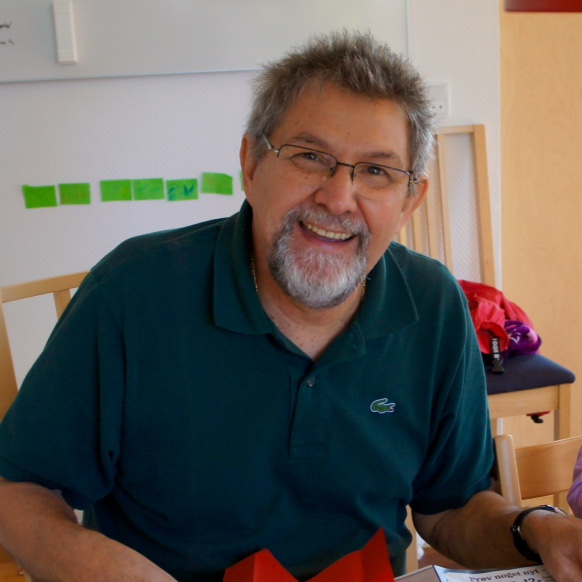
Comentários