Nota introdutória
Este texto foi publicado em Leitura: Teoria e Prática, ano 8, n. 14, em dezembro de 1989. Em geral, meus textos foram escritos seguindo o caminho da exposição oral em algum espaço – palestras, cursos, eventos – para a escrita. Este, no entanto, não provém de exposição pública e simplesmente registra algumas ideias da relação entre linguagem e educação. Retomei-o mais tarde e o reescrevi para o livro A aula como acontecimento, onde tomou o título “A linguagem e a questão escolar”. Creio que este seja o texto em que mais usei o senso comum, expresso pela presença numerosa de máximas e expressões populares que remetem a “verdades” sempre duvidosas.
Educação e linguagem
Nas salas de aula, nas salas de professores (onde as há), nos corredores, em todos os espaços da escola, ouvidos atentos podem detectar conversas informais entre professores, ou entre professores e alunos, que revelam uma insatisfação (em todas as áreas dos componentes curriculares) com o desempenho linguístico dos alunos: não leem e não escrevem; não interpretam adequadamente um problema; não extraem o relevante de um texto de história ou de geografia; não utilizam com precisão conceitos científicos etc. etc.
Fora da escola, a imprensa tem se encarregado de, amiúde, denunciar e apontar para o que tem chamado de “crise de expressão do estudantado brasileiro” (especialmente na época dos “vestibulares”, esquecendo também amiúde outros “vestibulares” que têm reprovado na vida os não-candidatos aos vestibulares oficiais).
E as culpas são distribuídas: o que há com a escola? o que há com as aulas de português? o que estão ensinando os professores? E mais do que depressa, surgem respostas que lembram a rapidez com que se passa adiante “a caixinha de surpresas”: que abri-la e executar a insípida tarefa caia para outro! Os professores passam a “batata quente” aos professores de português, que a remetem imediatamente aos professores das séries anteriores, que as enviam aos alfabetizadores. Estes, não tendo para quem jogar a bola, remetem para a família, para o “meio ambiente de onde vêm os alunos”. E a uns e a outros, carradas de razões:
- os professores das diferentes áreas sabem que a linguagem é condições para a aprendizagem e para o ensino de qualquer conhecimento;
- os professores de português sabem e vivem de perto os problemas de uma área de estudos que, tendo sua especificidade, espraia-se pelas demais, face à complexidade de questões envolvidas na linguagem (cogn itivas, expressivas, de referência ao mundo, de construção de mundo etc.);
- os alfabetizadores tentam, daqui e de acolá, mostrar com quantos paus se faz uma canoa (ou um aluno alfabetizado), quebrando galhos e imaginando soluções. A seus esforços, as estatísticas continuam respondendo com os altos índices de retenção, evasão, expulsão da escola já nos primeiros anos de escolaridade.
Enfim, parece que há uma consciência partilhada e compartilhada , na escola e fora dela, de que alguma coisa não vai bem. Alguma ou algumas? Para desafio grande, haverá possibilidade de traçar caminhos pequenos? Esta proposta de trabalho conjunto tem um suposto que é preciso ser posto: “o mosquito irrita o elefante”. A construção de soluções (que não se pretendam paliativas) é história que se vai tecendo, a pouco e pouco, em cada ponto, em cada nó.
Face ao reconhecimento, tácito ou explícito, de que a questão da linguagem é fundamental no desenvolvimento de todo e qualquer homem, de que ela é condição sine qua non na apreensão e formação de conceitos que permitem aos sujeitos compreender o mundo e nele agir; de que ela é ainda a mais usual forma de encontro, desencontro e confronto de posições porque é por elas que estas posições se tornam públicas, é crucial dar à linguagem o relevo que de fato tem: não se trata evidentemente de confinar a questão educacional à linguagem, mas trata-se da necessidade de pensá-la à luz da linguagem.
Os primeiros passos de uma tal reflexão iniciam-se por um deslocamento: não se trata de linguagem vista como repertório, pronto e acabado, de palavras conhecidas ou a conhecer e de um conjunto de regras a automatizar; nem da linguagem como tradução de pensamentos que lhe são prévios; muito menos de linguagem como um conjunto de figuras de enfeite retórico. Não se creia, no entanto, que este deslocamento pretende apenas esvaziar o ponto de partida, substituindo com nada concepções correntes. Trata-se de um deslocamento para. É eleição de outro lugar.
E o lugar privilegiado é o da interlocução, focalizada como espaço de produção de linguagem e de constituição de sujeitos. Antes de qualquer outro componente, a linguagem fulcra-se como evento, faz-se na linha do tempo e só tem consistência enquanto “real” na singularidade do momento em que se enuncia. A relação com a singularidade é da natureza do processo constitutivo da linguagem e dos sujeitos de discurso. Evidentemente, os acontecimentos discursivos, precários, singulares e densos de suas próprias condições de produção, fazem-se no tempo e constroem história. Estruturas linguísticas que inevitavelmente se reiteram também se alteram, a cada passo, em sua consistência significativa. Passado no presente, que se faz passado: trabalho de constituição de linguagem (e de linguagens).
Focalizar a linguagem a partir do processo interlocutivo e com este olhar pensar o processo educacional exige instaurá-lo sobre a singularidade dos sujeitos em contínua constituição e sobre a precariedade da própria temporalidade que o específico do momento implica. Trata-se de erigir a disponibilidade estrutural para mudança em inspiração. E consequentemente destruir fronteiras determinadas entre educação sistemática e assistemática, já que sua manutenção implica em alijar da escola o próprio processo constitutivo de sujeitos e a linguagem vital, momentânea e própria com que de fato o indivíduo assume sua condição de sujeito (sujeito de discurso é aquele que tem com as condições de emergência de sua fala uma relação de pertinência).
Neste sentido, não se trata de trazer para o interior da educação formal (a sala de aula) o informal (como se este lhe fosse externo), tomando a interação em sala de aula como um ‘recurso didático’ de apreensão de visões de mundo, de conhecimentos ingênuos etc., que ao longo do processo de escolaridade iriam sendo substituídos por saberes ‘científicos’, por ‘conteúdos’ universais. Procura-se e deseja-se algo mais: atribui-se ao acontecimento interlocutivo, em sua densidade, precariedade e singularidade, um estatuto diferenciado daquele de mero acidente de uso da expressão verbal, para tomá-la como fonte de produção de linguagem, dos sujeitos e do mundo discursivo.
Isto significa admitir:
- a historicidade da linguagem: pelo fato de acontecimentos passados terem construído (ou constituído) expressões linguísticas, estruturas sintáticas, variedades linguísticas, este produto do trabalho social e histórico de falantes não está de antemão pronto, acabado, cabendo ao sujeito de hoje simplesmente apropriar-se do ‘sistema’ para usá-lo segundo suas necessidades comunicacionais (pragmáticas ou não): o evento discursivo singular reconstitui a linguagem. É presente que, sendo história, faz história.
- a constituição contínua dos sujeitos: não há um sujeito pronto de um lado, que se apropriaria de uma linguagem pronta de outro lado. Também os sujeitos se constituem à medida que interagem com os outros, sua consciência e seu conhecimento do mundo resultam como produto deste processo. Neste sentido, o sujeito é social já que a linguagem que usa (na particularidade de suas interações) não é sua mas também dos outros e é para os outros e com os outros que interage verbalmente. Trata-se, pois, de um sujeito se completando e se construindo nas suas falas. Os conceitos que vai internalizando (a consciência é sígnica, na expressão de Bakhtin), as significações, negociadas a cada passo das interações, vão construindo um interdiscurso de que seu discurso é parte;
- o contexto da interlocução: os acontecimentos discursivos não se dão fora de um contexto social mais amplo; na verdade eles se tornam possíveis enquanto acontecimentos singulares no interior e nos limites de uma determinada formação social e esta “interdita” interlocuções (como já mostrou M. Foucault). Mas, dialeticamente, as interações não são, em relação aos limites impostos pela formação social, inocentes: são produtivas e históricas e como tais, acontecendo no interior dos limites, constroem limites outros. Que valha como argumento a existência de censuras, de proibições, de variadas ‘disciplinas’ na tomada da palavra.
Obviamente estes três eixos trazem à baila muitas questões. Uma delas é preciso, de imediato, explicitar: a questão da chamada “língua padrão” ou “língua culta”.
Habituados a observar as diferenças, nosso olhar para as variedades linguísticas tem esquecido, não raras vezes, que todos os dialetos são resultado do trabalho coletivo. Que muito da “linguagem popular” contém a linguagem culta. Que esta (resultante, aliás, do latim não culto) contém muito da “linguagem popular”. Não há fronteiras determinadas, explícitas. E não poderia deixar de ser assim: se a linguagem vai se constituindo nos inúmeros processos interlocutivos, é de sua natureza ela ser vária.
Posta a questão nestes termos, há um deslocamento da pergunta tradicional: “ensinar ou não a língua padrão?”. Importa aqui ter presente que a criança, ao chegar a escola, já resolveu seus problemas de linguagem (e da variedade linguística a usar) no contexto das instâncias privadas de uso da linguagem. O contexto da escolaridade não é o contexto de aprendizagem da língua padrão (apropriação de algo que supostamente estaria historicamente pronto), mas um contexto de aprendizagem de instâncias públicas de uso da linguagem. Os processos interlocutivos que aí se darão não têm por fim último substituir um padrão linguístico pelo outro. Vendo de uma perspectiva histórica, o confronto de diferentes formas linguísticas produz novas formas linguísticas: novo que contém velho, mas que não é o velho. E participar da construção do novo, ter acesso às instâncias públicas de uso da linguagem é construir-se em cidadão. Não se trata, então, de “aprender a língua padrão” para ter acesso à cidadania. Trata-se de construir a linguagem da cidadania, não pelo esquecimento da “cultura elaborada”, mas pela reelaboração de uma cultura (inclusive a linguística) resultante do confronto dialógico entre diferentes posições. Não é pelo silêncio e pela interdição que o novo se produz: é pelas enunciações (e novamente o processo interlocutivo reaparece como lugar de produção) e pelo embate dos enunciados que se poderá contribuir para a construção de uma sociedade de sujeitos.
João Wanderley Geraldi é reconhecido pesquisador da linguística brasileira e formou gerações de professores em nosso país. Há já alguns anos iniciou esta carreira de cronista-blogueiro e foi juntando mais leitores e colaboradores. O nome de seu blog vem de sua obra mais importante, Portos de Passagem, um verdadeiro marco em nossa Educação, ao lado de O texto na sala de aula, A aula como acontecimento, entre outros. Como pesquisador, é um dos mais reconhecidos intérpretes e divulgadores da Obra de Mikhail Bakhtin no Brasil, tendo publicado inúmeros livros e artigos sobre a teoria do autor russo.
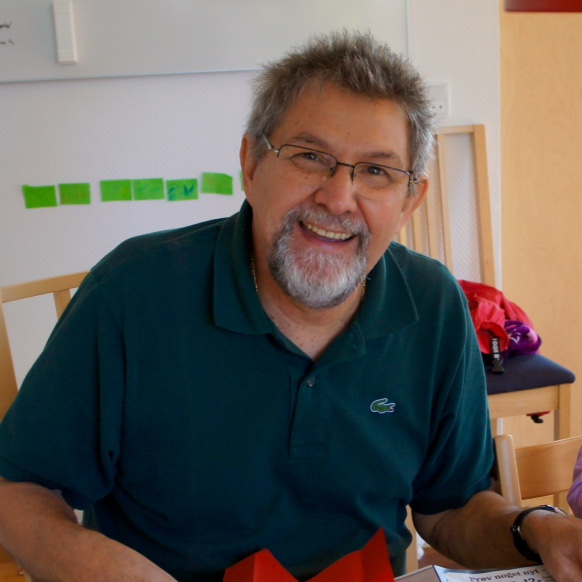
Comentários