Nota introdutória
Este é mais um artigo escrito para a revista Signo, de Santa Cruz do Sul. À época eu já estava na coordenação das publicações de revistas do IEL/Unicamp há mais de quatro anos e sabia que a maioria dos periódicos, naqueles tempos, acabava sucumbindo no quarto ou quinto ano. Ajudava meu ex-professor e amigo Ingo Voese a não deixar morrer a Signo! Naqueles tempos, o cotidiano do professor universitário não era povoado pelos controles de “produção acadêmica” e a carreira docente não se resumia a “correr atrás de papers”. Não existia o Qualis, as revistas iam sobrevivendo. Para fechar cada número, mesmo nas revistas da Unicamp, eu andava sempre à procura de artigos para publicar! Das quatro revistas então publicadas, a mais problemática era a revista EPA: Estudos Portugueses e Africanos. Para manter sua periodicidade, depois que a Profa. Maria Lucia Dal Farra se transferiu para Sergipe, percorri um calvário para mantê-la e com periodicidade. Hoje a revista não existe mais. Tudo “vem ao caso”, para usar uma expressão da moda, para justificar este curto texto que meu amigo Ingo incluiu no V.10. n. 16, outubro de 1985, na revista SIGNO. É coincidência que os textos dos alunos, aqui transcritos, tratem do desemprego nos idos de 1983… a história se repete, sempre como farsa.
Aprende-se a escrever, escrevendo
Neste texto não pretendo ir além de apontar para dois tipos de atividades que, executadas em aulas de português, são consideradas como suporte para a melhoria da expressão escrita: o ensino da gramática e a leitura. Creio que não há entre professores de português dois equívocos tão difundidos quanto a estes: o de que o conhecimento gramatical é indispensável à “boa expressão” e o de que lendo aprendo a escrever.
Em várias oportunidades apliquei um questionário em que solicitava a colegas professores que respondessem à questão “na vida prática, qual a utilidade dos conteúdos ensinados aos alunos?”. E como em resposta a outra questão anterior, haviam arrolado como conteúdos das aulas de português tópicos como “funções sintáticas”, “classes de palalvras”, “encontros vocálicos”, “leitura de textos” etc., com raríssimas exceções, a resposta a esta pergunta era de que tais conhecimentos “melhoram a capacidade de expressão oral e escrita dos alunos”. Tais respostas supõem que “o indivíduo que conhece gramática tem melhores condições para controlar sua expressão”.
Rodolfo Ilari (1978) resume com precisão os três objetivos que o ensino de gramática, assim concebido, deveria cumprir, sendo cada um deles condição para o seguinte:
- A assimilação de uma nomenclatura gramatical,
- a caracterização, mediante nomenclatura assimilada, do que sejam sentenças corretas,
- a efetiva prática de auto-controle, baseado nessa caracterização consciente da “correção”.
Teríamos, então, o que o autor chama de “a boa expressão como sub-produto da gramaticalização”, projeto que, evidentemente, discorda pois para ele “o objetivo específico da redação como exercício escolar não é a correção gramatical”.
O simples fato de um aluno dominar uma metalinguagem que o capacita a descrever sentenças não é garantia de que seja capaz de produzir, num texto, sentenças adequadas ao processo de interação em que está engajado ao produzir um texto. Este á um dos mais arraigados equívocos que tem norteado o ensino de português. É tão difícil superá-lo quanto superar outro equívoco, interno a este: o de que saber uma nomenclatura e com ela descrever sentenças dadas não é ainda uma prática de análise linguística, mas, tal como a gramática é ensinada na escola, apenas uma exemplificação de análises previamente existentes.
O segundo equívoco é o de que ler ensina a escrever: aqui se atribui à leitura uma função distinta daquela que ela realmente preenche. Este equívoco é responsável por ‘outras regras’ que funcionam na escola: só se deve ler “bons autores”, “boa literatura” (e eu até acrescentaria uma regra nunca explicitada: “só se devem ler autores de 100 anos atrás”). Escrever não é imitar o que os outros escreveram! No entanto, quanta coleção de “frases bonitas” os alunos destes brasis têm anotado em seus “florilégios”. Depois, não muito depois, os professores se veem às voltas com “o astro rei raiou brilhante”, “os pintos pipilavam alegres” e outras menos votadas e nem por isso menos frequentes.
Não estou, aqui, querendo negar valor à leitura. Estou querendo negar-lhe esta função, embora tenha defendido e continue a defender que a leitura de um texto pode ser pretexto para a produção de novos textos. E é precisamente a produção de novos textos que ensina a escrever. É o corolário do princípio de que se aprende a fazer fazendo, o de que se aprende a escrever escrevendo.
À esta breve reflexão sobre estes dois equívocos, gostaria de juntar dois textos produzidos por alunos de 6ª. série do 1º. grau . São textos produzidos em abril de 1983 (transcrevo as versões originais), e ambos têm como temática o desemprego. Na época, a questão do desemprego chamou atenção do país graças aos saques ocorridos em São Paulo, fatos amplamente noticiados pela imprensa. Os dois autores têm experiências escolares diferenciadas. O autor do primeiro texto, na série anterior, participava do projeto de ensino de português que se desenvolve em Aracaju; o autor do segundo texto, na série anterior, seguiu o ensino tradicional de português. Nenhum dos textos foi escolhido entre os ‘melhores’ dos dois grupos de alunos. Vamos aos textos:
Texto 1
O desemprego no Brasil
O desemprego no Brasil está insuportável, em São Paulo houve uma revolta dos desempregados, quebraram vidros de ônibus, arrombaram as lojas, foi uma coisa horrível.
No Rio de Janeiro, foi a mesma coisa, a Polícia Militar e Civil tiveram que jogar bombam e outras coisas.
Aqui em Sergipe o desemprego também está crescendo, o Ministério do Trabalho não sabe mais o que fazer. O governador João Alves já foi à Brasília, expor o problema ao presidente da República.
Ele está muito preocupado porque em São Cristóvão já tem mais de 6 mil desempregados.
Em Minas Gerais mais de 10 mil homens forma despedidos.
Em Pernambuco tem uma cidade que não tem desempregados, é a cidade de Nossa Senhora do Capibaribi.
Mais não é só no Brasil que esta havendo esta crise, os Estados Unidos, a Inglaterra e outros país também estão em crise.
Texto 2
Em São Paulo, o desemprego e o fato que todas as jentes comentão.
O desemprego estar pasando do limites, muitas pessõas, estão pasando fome. O povoado de São Paulo, e Rio, estão fazendo greve para o governador de São Paulo em Sergipe. O desemprego já esta também como o mesmo problema do desemprego, em São Cristóvão, o povo, já está proveniciano ão governador, o governador, esta muito do preocupado, com isso mais até aqui ele aida não fez nada, que tem o seu próprio emprego, esta na boa.
Não pretendo desenvolver qualquer análise mais profunda dos dois textos: sua transcrição tem o objetivo de permitir ao leitor uma comparação de resultados obtidos na estruturação textual, consequência de uma opção de ensino que, radicalizando posições, estabelece objetivos diferenciados e, consequentemente, altera as atividades desenvolvidas em aula. E duas das mudanças de atitude dos professores são precisamente a de não crer que “a boa expressão seja produto da gramaticalização” e a outra é de que para aprender a escrever é preciso escrever. Como os dois autores leram o mesmo texto (um noticiário de jornal) e participaram do mesmo debate em sala de aula, não se pode atribuir a diferença no manuseio da modalidade escrita à leitura, e sim à prática, ao convívio com o ato de escrever.
É óbvio que ninguém escreve se não tem o que dizer, pois o uso da modalidade escrita não foge à regra geral da interação verbal: o discurso é sempre o discurso de alguém sobre algo para alguém. Se o primeiro texto é melhor estruturado, é, por outro lado, excessivamente descritivo. Falta-lhe algo a mais para dizer sobre o desemprego, embora tenhamos que considerar, nesta crítica, quem fala: um aluno de 6ª. série, de escola de periferia de Aracaju. O autor do segundo texto, revelando boa percepção de nossa sociedade: “quem tem o seu próprio emprego está na voa”, frase que pode revelar uma crítica ao “salve-se quem puder” de nossas apatias sociais, não conseguiu estrutura seu texto para dizer sua palavra e, por não conseguir estruturá-lo, produziu um texto de difícil compreensão.
Bibliografia
Ilari, Rodolfo. “Uma nota sobre a redação escolar”, Estudos Linguísticos 2, GEL/fafil, p. 82-101, 1978.
João Wanderley Geraldi é reconhecido pesquisador da linguística brasileira e formou gerações de professores em nosso país. Há já alguns anos iniciou esta carreira de cronista-blogueiro e foi juntando mais leitores e colaboradores. O nome de seu blog vem de sua obra mais importante, Portos de Passagem, um verdadeiro marco em nossa Educação, ao lado de O texto na sala de aula, A aula como acontecimento, entre outros. Como pesquisador, é um dos mais reconhecidos intérpretes e divulgadores da Obra de Mikhail Bakhtin no Brasil, tendo publicado inúmeros livros e artigos sobre a teoria do autor russo.
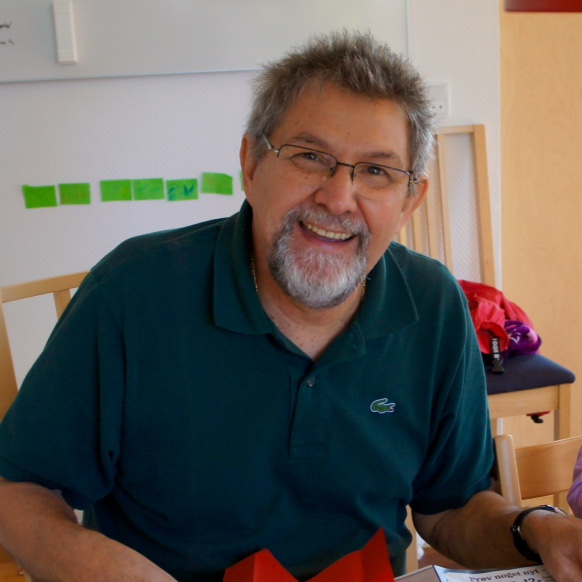
Comentários