Textos de Arquivo XIV: Formas de expressão de condições e hipóteses
Nota introdutória
Este texto foi publicado na revista Signo, vol. 9, n. 15, junho de 1984. Atualmente a revista é patrocinada pela Universidade de Santa Cruz – RS. Naquele tempo, ainda não havia a universidade e meu ex-professor, Prof. Ingo Voese, estava no Departamento de Letras da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e fundou a revista. Publiquei na revista dois textos, este foi o segundo e foi escrito a pedido do Ingo Voese. Ele estava com dificuldades de fechar este número da revista (este número tem apenas dois artigos). Como na época eu estava envolvido com a publicação das revistas do Instituto de Estudos da Linguagem – IEL/Unicamp na função de coordenador do setor de publicações (responsável então pela publicação das revistas Remate de Males (anual); Cadernos de Estudos Linguísticos (semestral) e Trabalhos em Linguística Aplicada (semestral) e Estudos Portugueses e Africanos (semestral)) sabia perfeitamente que a manutenção da periodicidade de uma revista era muito importante, particularmente porque inúmeras revistas acadêmicas, no Brasil de então, acabavam sua efêmera vida depois de quatro ou cinco anos.
Aceitei o desafio e fui para a minha velha máquina de escrever para compor este texto com anotações de leituras que havia feito para a minha dissertação de mestrado (defendida em 1978). O texto não tem outra pretensão que não fazer ver que é possível expressar condições e hipóteses de diferentes modos, e que a escolha de uma ou outra depende de decisões estilísticas. Cada fórmula sintática tem suas exigências estilísticas próprias: uma não vale pela outra, mas ter disponível um leque de possibilidades é salutar na composição de textos porque o que vinha chamando de “prática de análise linguística” fundava-se, de fato, nas possibilidades estilísticas de dizer de diferentes formas. Somente há pouco tempo foi traduzido o artigo de Mikhail Bakhtin que mostra a importância das possibilidades estílisticas no emprego de tempo verbal: sua proposta é explicitar estas possibilidades no ensino de língua materna (do russo, no caso).
Formas de expressão de condições e hipóteses
O objetivo deste trabalho é apresentar uma listagem sumária de formas de expressão de condições e hipóteses, já que os processos pelos quais o falante pode expressá-las não se esgotam na utilização das chamadas conjunções subordinativas condicionais, de que são exemplos típicos as sentenças
- Se Pedro vier, João virá. (condição)
- Se te interessa saber, parto amanhã. (hipótese)
Penso que uma listagem, como a que apresentarei aqui, tem no mínimo uma utilidade prática: possibilitar aos professores de português a organização de exercícios de “transformações intuitivas” de uma forma de expressão em outra. Fique claro, porém, que não defendo o ponto de vista de que expressar uma condição utilizando uma forma “x” ou uma forma “y”, “transformando”, por exemplo, a setença (1) em
(1’) Pedro virá? Então João virá.
seja uma mera questão de escolha sem consequências. Ao contrário, creio ser possível demonstrar que uma e outra forma não só obedecem a diferentes objetivos do fal1ante mas também abrem diferentes perspectivas no processo de interlocução e na continuidade do discurso. Isto porque ao descrevermos de maneiras diferentes um mesmo acontecimento, criamos situações diferentes.
Feita esta ressalva, tomo o esquema “Se A, (então) B” como identificador de forma de expressão de condições e hipóteses sem com isso querer reduzir os matizes semântico-pragmáticos de cada um dos demais esquemas a esta “matriz”.
Uma segunda observaç1ão necessária: nem sempre é fácil distinguir condição de hipótese quando o esquema é “Se A, então B”. Tradicionalmente, considera-se que a condição, ao contrário da hipótese, envolve uma relação de causa entre as duas sentenças, de tal1 modo que, na setença (1), ocorrendo a vinda de Pedro e a de João, a vinda deste será tomada como consequência da vinda daquele. O mesmo não se pode dizer da sentença (2), onde a partida1 do locutor independe do interesse em saber do interlocutor.
Segundo Abreu (1983), pode-se até mesmo dizer que
“CONDIÇÃO = CAUSA + HIPÓTESE”
O autor mostra as relações entre hipótese e causa, formando a condição, pelo gráfico (1):
HIPÓTESE Ex. Veja se ele saiu.
CONDIÇÃO Ex. Se ele precisar, vai me telefonar.
Uma vez que ele venha, você pode sair.
CAUSA Ex. Uma vez que ele veio, você pode sair.
Os dois últimos exemplos do autor mostram que não basta listar conjunções, classificadas previamente como condicionais, para que tenhamos expressão de uma relação condicional entre as sentenças.
Assim, o tempo e modo verbais em
- Uma vez que ele venha, você pode sair.
- Uma vez que ele veio, você pode sair.
distingue (3) como expressão de condicionalidade e (4) como expressão de causalidade.
A distinção entre condição/hipótese também pode ser buscada a partir de critérios disnti9os do conceito de “causalidade” e do tempo/modo verbais. Tomando as hipóteses da teoria dos atos de fala, distinguimos as duas relaç1ões observando que na condição apenas um ato de fal1a é praticado, e nele o locutor afirma/pergunta esta relação, enquanto que na hipótese há dois atos de fal1a distintos, um de suposição e outro de afirmação/pergunta, etc.
Consideradas as dificuldades apontadas, passo à listagem das formas de expressão de condições e hipóteses:
- Pelo emprego de verbos apropriados, do tipo “imaginar”, “supor”, etc. (para hi8póte4se) ou de expressões como “será suficiente que”, “será necessário que”, “x depende de y”, etc. Exemplos:
- Bas1ta que Pedro venha para que João venha.
- Suponho que te interessa saber que parto amanhã.
- Em elementos da própria proposição, de que é exemplo típico o esquema “sem + substantivo”:
- Sem avinda de Pedro, João não virá.
- Sem uma forte base militar, o candidato não terá condições de levar a frente o processo de recessão econômica.
- Na justaposição de orações quer pela utilização de orações independentes, quer pela utilizaç1ão de esquemas coordenativos:
- 1. Oração interregativa + oração declarativa
“Vejamos esta frase, própria da língua escrita: “Não leve o chapéu, se não lhe agrada.” A ligação entre as duas orações do período é perfeita, rigorosamente lógica: vem primeiro a oraç1ão principal, depois a subordinada, precedida da conjunção condicional se. Mas a língua corrente prefere a essa frieza intelectual, própria de gabinete, o alvoroço ativo, próprio da vida em comum. E diz assim: “Não lhe agrada o chapéu? Então não leve!”. Houve aqui um verdadeiro terremoto. Em primeiro lugar, desapareceu a ligação lógica, introduzida pela condicional se. A ordem dos elementos foi invertida, e a entoação mudou por completo, passando de narrativa a interrogativa e exclamativa.” (Rodrigues Lapa, 1970, p. 206)
- 2. Imperativo + (e) oração declarativa. Exemplo:
- Compre agora e economize!
“Nestas construções, o imperativo muitas vezes é mera ficção retórica. Não se espera que o ouvinte cumpra a ação, porém se convença mais prontamente do que asseveramos na proposição subsequente.” (Said Ali, 1969, p. 137)
- 3. Duas orações declarativas
“É este uma dos recursos mais eficientes da língua oral1 para exprimir a hipótese e sua consequência. Encontramos vários exemplos em escritores modernos: “Tranca Pés encostoru a ponta da faca na barriga do cabra: – Triscou via também!” (João Felício dos Santos, João Abade, p.229). Observem-se a rapidez que a justaposição confere à frase, sugerindo rapidez de ação, e o efeito df1e certeza que p0roduz o emprego de um pretérito e um prsente, em relação ao momento do futuro.” (Vaz leão, 1961, p. 59)
- 4. Posposição do sujeito/ (e ou que)
O processo consiste na anteposição do verbo (no pretérito ou no presente do subjuntivo), justapondo ou coordenando as duas oraç1ões através de “e” ou de “que”. Exemplos:
- Era uma época difícil. Pensassem os subordinados diferente do chegf1e e (ou que) estariam bem arranjados.
- Saia fulano do esconderijo que será preso.
Vaz Leão observa os seguintes tipos de construção:
- Que fulano saia do esconderijo e (ou que) será preso.
- Fulano que saia do esconderijo e (ou que) será preso.
em que, para a autora, não se expressa somente uma relação de condicional1idade entre “sair do esconderijo” e “ser preso”, mas também a atitude do fal1ante frente aos fatos: desafio em (12) e apreensão em (13).
- Em orações subordinadas
A expressão de condições através do destaque destas em oraç1ões subordinadas própria pode-se dar através de formas reduzidas ou através de conjunções subordinativas.
Entre as formas1 reduzidas, pode-se notar:
- 1. Orações com verbo no infinitivo, introduzidas por “a”, “no caso de “, “sem”. Exemplo:
- Reconhecem que já não é possível, sem por em riscos os seus privilégios, manter um sistema discricionário de escolha de dirigentes.
- 2. Orações com verbo no gerúndio:
- Confirmando a maioria na Câmara Federal1 e alcançando resultado decoroso na eleição direta, o governo atual terá fechado com saldo a sua conta.
- 3. Orações com verbo no particípio:
- (Uma vez) devolvida a autonomia à cidade, o atual prefeito nomeado entregaria o cargo.
Para a gramática tradicional, a conjunção condicional por excelência é “se”, as demais se formando por composição ou mudança de classe. Entre elas temos:
- 4. salvo se, a não ser que: para excetuar uma hipótese. Exemplos:
- Eu não tenho nada de especial para conversar com ele, a não ser que ele tenha alguma novidade para contar.
- O1 governo não tem planos para promover eleições diretas, salvo se houver mudança radical1 na situação política.
- 5. conquanto que, com a condição de que: usadas para representar condição imprescindível e taxativa de que depende o cumprimento de outra ação, ou ainda a condição única que se exige ou se deseja, sendo indiferente o cumprimentio da outra ação, conforme os exemplos obtidos por Vaz Leão:
- Entrego-te as joias contanto que (ou com a condição que) me restituas o dinheiro.
- Duigam o que quiserem contanto que não me ofendam.
- 6. sempre que, uma vez que, desde que: exprimem aquilo que se exige como condição:
- Severo Gomes admite ser candidato desde que fosse conveniente.
- 7. caso: exprime sempre uma condição necessária:
- O presidente prometeu que agiria com firmeza caso as denúncias de violência correspondam à verdade.
- 8. Quando: arrolado entre as conjuções condicionais pela gramática tradicional, é quase impossível, para Vaz Leão, distinguir o que há de condicional1 do que há de concessivo na relação que exprime. Para Epiphânio Dias, “em asserções gerais, as orações de quando avizinham-se muitas vezes das condicionais de se. Ex.: Não se é pobre quando se tem esperança. As orações de quando são propriamente condicionais quando a oraç1ão subordinante diz o que há de, ou havia de acontecer em um caso (indicado na oração de quando) cuja real1idade não é afirmada nem negada”. (E. Dias, 1918, p. 288)
Exemplo:
- Quando respeitada a pureza do jogo, qual1quer processo é democrático. Este n ão é o caso do colégio eleitoral.
- 9. Sem : considerada como conjução condicional, a expressão “sem que” admite várias interpretaç1ões:
- Exprime concessão:
- Ele é responsável, sem que o saiba, por todas essas coisas erradas.
- Nega uma consequência:
(25) Saiu sem que fosse percebido.
c) nega uma causa:
(26) Estudou sem que lhe pedissem.
Depois de oração principal negativa, a expressão “sem que” indica que a consequência se repete sempre que ocorre o fato expresso na principal:
(27) Não brinca sem que acabe chorando.
(28) Não passará sem que estude.
É no esquema “não-A sem que B” que se expressa uma condição, mas inversamente ao esquema “Se A, (então) B”: a oração introduzida por “sem que” é a consequente; a oração principal (negativa) é que exprime, semanticamente, a condição:
Antecedente/subordinada Consequente/principal
Se brincar acaba chorando
Antecedente/principal Consequente/subordinada
Não brinca sem que acabe chorando
Esta listagem mostra, de um lado, o grande número de possibilidades df1e articulação de sentenças na constituição do texto (e no caso apenas da expressão da condicional1idade) e, por outro lado, ap0onta também para as diferenças entre uma e outra forma de expressão. Seria necessário não só complementar esta listagem mas também rastrear as análises existentes na gramática para verificar até que ponto se mantêm as distinções impressionistas apresentadas pelos gramáticos.
Nota
- O gráfico do autor, que não reproduzo aqui, se apresenta na forma de dois círculos com intersecção. A hipótese está num dos círculos, a causa em outro. Na intersecção está a condição.
Bibliografia
ABREU, a. s. (1983) “Articulação sintática e construção do texto (Um estudo da sintaxe de condição em português)”. Letras, 2, 1: 31-38 (Revista do Instituto de Letras da PUC-Campinas)
GERALDI, J. W. (1978) Se a semântica fosse também pragmática… ou para uma análise semântica d1os enunciados condicionais. Dissertação de mestrado, Unicamp.
DIAS, Epiphânio (1918). Syntaxe histórica portuguesa. Lisboa. Livr. Clássica Editora, 4ª. Ed. 1959.
RODRIGUES LAPA, (1970). Estilística da língua portuguesa. RJ, Acadêmica, 6ª. Ed.
SAID ALI, m. (1969) Gramática secundária da língua portuguesa. SP, Melhoramentos, 8ª. Ed.
VAZ LEÃO, A. (1961). O período hipotético iniciado por se. Belo Horizonte, Univ. de Minas Gerais, Tese de cátedra.
João Wanderley Geraldi é reconhecido pesquisador da linguística brasileira e formou gerações de professores em nosso país. Há já alguns anos iniciou esta carreira de cronista-blogueiro e foi juntando mais leitores e colaboradores. O nome de seu blog vem de sua obra mais importante, Portos de Passagem, um verdadeiro marco em nossa Educação, ao lado de O texto na sala de aula, A aula como acontecimento, entre outros. Como pesquisador, é um dos mais reconhecidos intérpretes e divulgadores da Obra de Mikhail Bakhtin no Brasil, tendo publicado inúmeros livros e artigos sobre a teoria do autor russo.
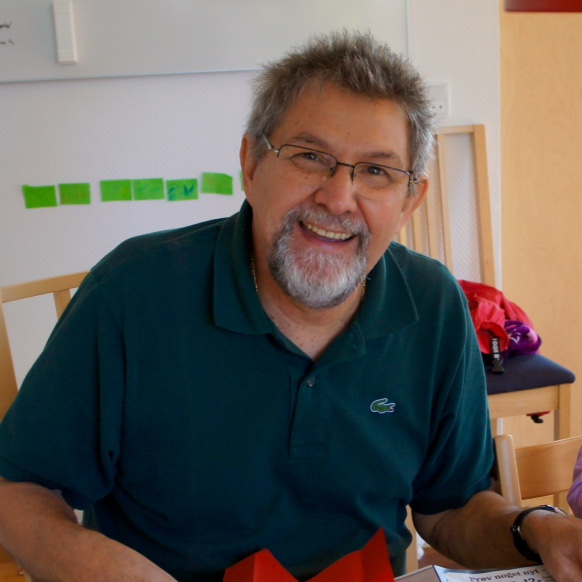
Comentários