Nota prévia
Este texto foi escrito para a mesa-redonda “De leitor para leitores: a produção do que se lê”, proposta por mim para o 7º. COLE, realizado de 8 a 10 de setembro de 1989. Foi publicado nos anais do evento. A ideia era puxar outros fios na malha das leituras. E esta mesa em especial trouxe a voz de autores (dois autores de literatura: Nilma Gonçalves Lacerda; Marcos Rey e Lucy Ayala), um jornalista (Jeferson Barros), uma editora (Lucy Ayala, da revista Sala de Aula) e uma crítica de literatura (Marisa Lajolo). O texto do coordenador deveria funcionar como ponto de partida para a discussão da mesa e desta, do público. Tinha-se em vista o processo de produção do que se lê, por isso a seleção dos expositores, passando por diferentes esferas de uso da língua escrita como instrumento essencial do trabalho de cada um. O resultado está nos Anais, hoje disponível, talvez, em algumas bibliotecas universitárias.
A propósito do outro: imagem, construção e cumplicidade
O senhor… Mire e veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas elas vão sempre mudando. Afinam e desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. (Guimarães Rosa)
Possivelmente não causa qualquer perplexidade o fato de se encontrarem aqui, no tempo e espaço desta mesa-redonda, num congresso que reúne pessoas (pre) ocupadas com a leitura, pessoas que se dedicam à produção do que se lê: por mais amplo que possa ser o conceito dado à leitura, há sempre um objeto que se lê. A leitura é sempre, no mínimo, um predicado de dois lugares: tanto exige uma agente/leitor quanto exige um objeto que se lê.
Ultimamente nossas preocupações vêm focalizando um dos argumentos deste predicado: o leitor. Mas o foco não paga a obviedade da existência do objeto lido ou a ser lido. E este objeto de leitura tem atrás de si um agente/autor. Reúnem-se, pois, as duas pontas de um mesmo fio – autores e leitores – para discussão no espaço de seu encontro: o meio caminho em que significações se produzem, o texto.
Talvez a perplexidade maior advenha da circunstância de se reunirem. Numa mesma sessão, pessoas que se dedicam diferentemente à produção de textos: autores de ficção, jornalistas e críticos. Estes, sem serem cidadãos acima de qualquer suspeita, têm como seu objeto de trabalho precisamente o que os outros dois produzem. A inexistência de textos deixaria sem emprego a crítica, ainda que esta viesse – se isto fosse possível – a produzir, em abstrato, poderosos instrumentos de análise. Os jornalistas, por seu turno, tomam a objetividade e a transparência por bandeira: em seu trabalho a referência ao mundo factual (e a verdade desta referência) é o fio condutor com que tecem sua tapeçaria (para tomar à ficção uma imagem). Aos ficcionistas não se pede qualquer evidência factual: não tratando do mundo que é, constroem um mundo que não é para falarem de um mundo que é, que poderia ter sido ou que, sem sua construção, foi. Utilizando-se da mesma linguagem, anulam as convenções de verticalidade para beneficiar-se da construção de outros horizontes (para tomar, agora, à ciência uma imagem).
Para nós leitores, produzem os três, em seus textos, categorias que unidas ou contrapostas às categorias com que os lemos nos permitem não estar sempre iguais, andando no afino e desafino da verdade maior de Guimarães Rosa.
É, pois, o texto, objeto concreto de entrecruzamento de nossos interesses. Mas sua concretude não quer dizer acabamento: o texto produzido completa-se na leitura. Neste sentido, o texto é condição para a leitura e a leitura vivifica os textos.
Aceitando-se esta via de mão dupla, é possível aproximar-se do texto com uma perspectiva interacionista da produção da significação: o texto sozinho (como o locutor no diálogo) não é responsável pelas significações que faz emergir – o que cria um primeiro problema para os textos que se querem transparentes: o leitor não é totalmente livre na construção das significações, já que um dos instrumentos com que opera nesta construção é precisamente o texto presente, cujo processo de produção manuseia também as mesmas ‘regras’ de interpretação existentes numa “comunidade interpretativa”, de que o autor é parte. Mesmo textos produzidos em épocas distantes, lidos hoje, quando de sua produção levavam em conta as condições de interpretação existentes – o trabalho dos filólogos o mostra. Hoje, evidentemente, recebem tais textos significados outros, até pelo simples fato de existirem outros textos disponíveis, como aponta Bourdieu.
Neste jogo, o autor aposta nos “deveres filológicos” do leitor empírico, fornecendo-lhe pistas de interpretação (embora não possa dirigir todos os usos que diferentes leitores podem fazer do texto que produziu); por sue turno, o leitor toma essas pistas como instrumentos legítimos para a construção dos significados dos textos que lê. A partir daí, suas leituras seriam leituras legitimáveis. Mas na parceria do jogo, nenhuma jogada é em si e de per si neutra: em cada jogada, calculam-se possibilidades, correm-se riscos. E os parceiros tornam-se co-agentes. E cúmplices. O outro é a medida das minhas jogadas.
Esta presença do outro lembra de imediato uma passagem do Log-book de Robinson Crusoé, na versão de Michel Tournier (p.47):
“Sei agora que todos os homens trazem em si – e dir-se-ia, acima de si – uma frágil e complexa montagem de hábitos, respostas, reflexos, mecanismos, preocupações, sonhos e implicações, que se formou, e vai se transformando, no permanente contato com os seus semelhantes. Privada da seiva, esta delicada florescência definha e desfaz-se. O próximo, coluna vertebral do meu universo… Todos os dias meço quanto lhe devia, ao verificar novas fendas no meu edifício pessoal… […] As personagens dão a medida e, o que é ainda mais importante, constituem pontos de vista possíveis que, ao ponto de vista real do observador, acrescentam indispensáveis virtualidades.”
Na angústia do náufrago, do solitário, a constatação do OUTRO como constituinte do EU (1). Com o outro compartilhamos um universo comum de referências, códigos de ética, de comportamentos, etc. e na história do vivido , construímos cumplicidades.
Um exemplo desta cumplicidade, em que o narrador narra a própria construção narrativa, pode ser retirada de “Ópera do Sabão” (p.63) narrando-nos uma cena em que Adriana se autocontempla, levanta-se e vai tomar banho; o narrador abre o seguinte parágrafo:
“Impossibilitado de olhar através da porta que Adriana fechou, levo a minha narração ao bairro da Vila Mariana, para constatações e prenúncios.”
Lá, encontrava-se Manfredo, pai de Adriana, visitando a professora de piano, Deolinda:
“… Então, Deolinda sorriu para Manfredo, sentou-se à banqueta, abriu o piano e começou a tocar Ernesto Nazaré.
O narrador, às vezes, não pode perder tempo com uma boa interpretação musical. Ele, que já fora Ícaro e virara Superhomem, para acompanhar o progresso da imaginação criadora, projetou-se ao centro da cidade, Barão de Itapetininga, onde a Nênfis Propaganda. Agência de porte médio, ocupava dois andares.”
Lá, encontra Benito, filho de Manfredo. E a narrativa retoma seu fio.
Estas colocações iniciais não se pretendem um pano de fundo da discussão que passa a rolar neste encontro. Fragmentos são, antes de mais nada, uma tentativa de construir o caminho para algumas perguntas que também elas podem ou não serem retomadas nas exposições.
- Como aqueles que militam na produção artística, na produção jornalística e na produção crítica imaginam os seus leitores e como estas imagens interferem, ou não, na construção de seus textos?
- No micro movimento histórico das expressões linguísticas, a cada texto as expressões não são simplesmente retomadas com significados fixados pelos usos anteriores desta mesma expressão, mas a cada vez, na retomada, re-significam e neste movimento as modificam. Seria adequado dizer que o autor de textos jornalísticos “luta com as palavras” para produzir um significado determinado para seu texto, enquanto que o autor do texto ficcional. Liberado das necessidades verticais de referência ao mundo, “luta com as palavras” para produzir significados múltiplos?
- Considerando que cada texto é parte de um universo de discursos mais amplo, seria adequado dizer que um dos trabalhos da crítica, face a um novo texto, seria situá-lo na intertextualidade de que faz parte? Caso a resposta seja afirmativa, a remessa a outros textos considera as possibilidades de tais textos serem conhecidos pelo leitor da crítica?
Nota
- A Robinson, de Tournier, importa mais o processo da “destruição” do eu constituído com os outros e a construção de outro EU, sem TU. Um eu-Robinson que recusa o retorno, que fica na ilha sem Sexta-feira.
Referências bibliográficas
BOURDIEU, Pierre. Lecture, lecteurs, lettrés, littérature. In. _____ Choses Dites. Paris, Minuit, 1987.
ECO, Umberto. O leitor-modelo. In. __ Lector in fabula. Trad. Attílio Cancian. São Paulo, perspectiva, 1986.
LACERDA, Nilma. Manual de tapeçaria. Rio de Janeiro, Philobiblion, 1986.
REY, Marcos. Ópera de sabão. Porto Alegre, L&PM, 1980.
SEARLE, John B. The logical status of fictional discourse. In. ______ Expression and meaning. Cambridge, Cmabridge University Press, 1979.
TOURNIER, Michel. Sexta-feira ou os Limbos do Pacífico. Trad. Fernanda Botelho. São Paulo, Difel, 1985.
João Wanderley Geraldi é reconhecido pesquisador da linguística brasileira e formou gerações de professores em nosso país. Há já alguns anos iniciou esta carreira de cronista-blogueiro e foi juntando mais leitores e colaboradores. O nome de seu blog vem de sua obra mais importante, Portos de Passagem, um verdadeiro marco em nossa Educação, ao lado de O texto na sala de aula, A aula como acontecimento, entre outros. Como pesquisador, é um dos mais reconhecidos intérpretes e divulgadores da Obra de Mikhail Bakhtin no Brasil, tendo publicado inúmeros livros e artigos sobre a teoria do autor russo.
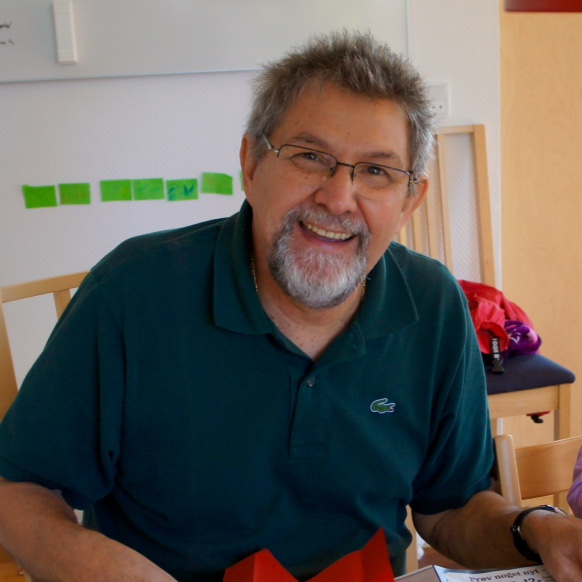
Comentários