DESIGUALDADES E DIFERENÇAS: A ESCLEROSE DA SENSIBILIDADE*
João Wanderley Geraldi
… la humanidad está hecha no sólo de los que son, nuestros contemporáneos, sino también de los que fueron y de los que vendrán. Entonces, pensar en humanizar el mundo, o pensar em humanizar nuestras prácticas sociales, incluída la educación, exige el triple trabajo de cuidar, desde uma memoria ejemplar, de los que fueron e no continuaron, de los que son y sigen maltratados, y de los que vendrán, quizá a un mundo peor del que nosotros mismos recibimos. (Fernando Bárcena, 2001)
Vivemos num mundo que vem produzindo e globalizando a miséria. Não que no passado a miséria não existisse: ela passou a ser presença nos grupos humanos desde que as sobras dos produtos (a coleta, a caça, a pesca e depois, a agricultura) sofreram uma apropriação por aqueles que, encarregados pelos grupos, tinham a obrigação de guardar estas sobras para o tempo que viria e que poderia ser de escassez. Não há uma dignidade humana que preceda ao homem. Fizemo-nos humanos pela consciência de existirem um passado, um presente e um futuro, e continuamos o processo de humanização na busca constante de uma melhor forma de viver nestes três tempos. Deles, foi o futuro que demandou uma organização social.
Como são o passado e o futuro que fornecem as orientações da vida presente, em que os eventos ocorrem e os acontecimentos emergem no interior mesmo das práticas cotidianas(1), criamos e recriamos continuamente os sentidos do que foi – por isso passado perdura como presente – e elaboramos os horizontes de possibilidades do que poderá vir a ser. E como cada grupo, cada sociedade, fez percursos distintos nestas interpretações do que passou e nas visualizações que apontam o porvir, construímos uma humanidade comum e ao mesmo tempo diferenciada. A riqueza da história está na diferença. A riqueza do presente está na diferença.
Mas os processos resultantes das apropriações e suas acumulações produziu um efeito distinto daquele da diferença: houve um eclipse do sentimento de pertença a uma mesma humanidade. O roubo do que era comum construiu a desigualdade. Lembremos apenas de existências e permanências de sociedades de castas, dos regimes escravocratas, da insistência e permanência de uma sociedade de classes. Em constrições sociais baseadas na apropriação dos bens coletivos, somos desiguais socialmente embora pertençamos todos à mesma história de nossos grupos, onde nos fazemos humanos. É por isso que a desigualdade deforma, porque ideologicamente é também apresentada como se fora diferença. Obviamente, restritos às condições econômicas mais adversas, as populações (no interior de uma mesma sociedade) constroem modos de vida de sobrevivência, culturas da pobreza que, num passe de mágica do pensamento conservador, se tornam “diferenças” a serem “respeitadas”, esquecendo-se a origem do processo social que humilha e escraviza estas populações e as obrigaram a encontrar formas de viver e de se compreender diversas daquela dos privilegiados pelo regime de apropriação.
Construído este esquecimento fundante, sobre ele outros foram acrescidos, de modo que vivemos numa sociedade sem memória. A memória, que demanda o silêncio da compreensão, deslocou-se vagarosamente do homem para outros artefatos. Platão reclamou um dia que a escrita acabaria com a memória. No entanto, foi precisamente a escrita que permitiu a permanência de um passado que podemos recuperar para o ressignificar.
Hoje, a memória não precisa ser exercitada e deslocou-se para fora do próprio organismo humano (Serres, M. 2013), efeito que a escrita não produziu porque a consulta ao escrito demanda sempre memória de leitura. Hoje a memória está ao alcance de qualquer clique no celular! Carregamos a memória no bolso, não mais dentro de nós. E isto poderia nos libertar para ocuparmos nossas potencialidades cerebrais em processos interpretativos das informações a que temos acesso.
No entanto, mais uma vez esta liberdade nos é afanada, tanto pelo esquecimento das desigualdades quanto por um projeto de uniformidade espelhado, paradoxalmente, nos modos de funcionamento das “máquinas” que um dia os homens criaram. O projeto de uniformidade vem ditando, historicamente, a destruição da diferença. Se num passado não tão distante, os “diferentes em suas crenças e compreensões da vida” eram considerados, de um e de outro lado, “infiéis” (Wheatcroft, A. 2004), hoje aqueles que projetam mundos diferentes são apontados como retrógrados; e os fundamentalismos religiosos, de lado a lado, produzem seus “terroristas”, levando à doutrina Bush, seguida por Obama e recrudescida por Trump: o mundo um “palco de guerra” (Scahill, J. 2014), cuja finitude é aquela do próprio planeta; cá mais próximos, entre nós, a intolerância fundamentalista neopentecostal oferece a traficantes o perdão pelos pecados desde que destruam os sagrados terreiros da Umbanda e Candomblé.
La finalidad de este proceso destructivo es, en fin, muy clara: limitar el alcance del pensamento y estrechar el radio de acción de la mente. Pero si esto se hace en el marco de uma cultura electrónica y de uma sociedad informatizada, convencida como está de que los humanos pensamos como las inteligentes máquinas que un día nosostros mismos fabricamos, además de destructivo es estúpido y paradójico. (Bárcena, 2001, p. 140)
Recuperar a diferença implica em recuperar a capacidade humana de se deixar afetar já que “o que nos faz humanos não é tanto nossa racionalidade mas a capacidade par anos deixarmos afetar – na vida afetiva – pelos outros” (op.cit. p. 95).
Os outros do mundo contemporâneo estão cada vez mais distantes pela proximidade falsa trazida pelos dois polegares que digitam curtas mensagens no wahtsapp. Nestas máquinas, lê-se muito e não se lê nada porque o apanágio da sociedade uniforme é a velocidade. Mesmo vídeos – já que retorna uma “nova oralidade” – escapam a esta superficialidade veloz: mensagens mais longas do que 5 ou 6 minutos raramente são escutadas até o fim. É preciso abrir outra janela, outro site, outra mensagem, acumulando cada um de informações com baixíssimo nível de reflexão.
E a superficialidade desvela ignorâncias tamanhas que bem recentemente, nas nossas redes sociais, afoitos “políticos” recém-chegados à discussão social, defendiam que o nazismo é de esquerda, porque o nome do partido era “nacional socialista”. A literalidade atribuída a expressão “socialista”, fixando-a nos sentidos duvidosos do presente, demonstra que cada vez mais uma des-historicização generalizada. Os pequenos relatos que cabem na mensagem do wahtsapp substituíram o vazio deixado pelas grandes utopias, pelos grandes relatos. A amnésia estabeleceu-se como virtude, como potência capaz de suplantar qualquer pensamento histórico relevante.
O escritor húngaro Imre Kertész, refletindo diante do “Não” que deu como resposta a quem lhe perguntou se tinha filhos, escreve um livro em que deixa correr o fluxo de consciência, ao mesmo tempo dialogando com uma criança não nascida, seu filho ou filha, e refletindo sobre as possibilidades de vida depois de Auschwitz. Num suposto encontro de sobreviventes, cada um dizendo o “campo de concentração” de que renasceram, quando Auschwitz é citado, imediatamente se afirma que ele “não tem explicação”. Escreve
… parem com isso, eu poderia ter dito, que não há explicação para Auschwitz, que Auschwitz seria um produto das forças irracionais não apreensíveis pela razão, pois para o mal há sempre uma explicação racional, pode ser que o próprio Satanás, como Jago, seja irracional, mas suas criaturas certamente são seres racionais, todas as suas ações deixam-se derivar como uma fórmula matemática: derivadas de algum interesse, da ganância, da preguiça, da cobiça de prazer e de poder, da covardia, da satisfação de um ou outro instinto e, se de nada além disso, então de algum delírio da paranoia, da doença maníaco-depressiva, da piromania, do sadismo, do assassinato compulsivo, do masoqui8smo, ou megalomania demiúrgica ou outras megalomanias, da necrofilia, de alguma entre as tantas perversidades que conheço , ou talvez de todas ao mesmo tempo, porém, eu poderia ter dito, tenham agora bastante atenção, pois o realmente irracional e o efetivamente inexplicável não é o mal, ao contrário: é o Bem. (Kertész, I. 1995, p. 46-47)
O Bem se torna inexplicável num mundo em que predomina o esquecimento do que funda a desigualdade e o desejo de apagar as diferenças – incluindo aquelas que a natureza produz, pois não foram assassinados somente judeus na Alemanha nazista, mas todos os doentes mentais e todos os deficientes físicos – para construir a uniformidade modelada por uma raça ou etnia (os passados e ressurgidos nazi-fascismos); por uma cultura econômica e modo de vida (os impérios do passado e o império norte-americano do presente) tudo à custa da riqueza histórica produzida ao longo do processo de humanização do homem. Lutar contra as desigualdades é da dignidade humana, porque assim estaríamos lutando contra o esquecimento fundante que permite, hoje, apontar para o uniforme único com que nos querem vestir: o corpo (com investimentos nos músculos e na anorexia feminina); o pensamento pela defesa de que só há uma saída para a sociedade, o pensamento único “produzido” pelo ser mágico denominado mercado; os sentimentos banalizados com que se apaga o que há de humano em nós em troca do prazer rápido e do consumo do outro.
Para compreender as diferenças, desde as culturas de sociedades diferentes até as diferenças individuais dentro de uma mesma sociedade, será necessário recuperar o silêncio da compreensão da vida, porque a modernidade somente conhece o silêncio da parada brusca das máquinas e da tecnologia. O totalitarismo da informação e da comunicação social tem impedido a emergência da interioridade, onde moram os sentimentos que, a todo custo, precisam ser exorcizados pelo excesso da comunicação e do consumo, inclusive dentro de salas de aula, de modo que se produza uma esclerose dos sentimentos que anestesia a possibilidade de sermos afetados pela diferença enriquecedora e pela desigualdade deformadora.
Isto exige de nós o esforço hercúleo de revisitar e ressignificar o passado e o presente, porque um passado e um presente não modificados em seus sentidos manufaturam um futuro que repete, repete, repete o mesmo que tão custosamente estamos tentando enxergar.
Sei que tudo poderia ter dito de outro modo, porque
tudo isso poderia ter sido escrito de outra maneira, mais equilibrada, mais cautelosa e, digo agora: talvez mais amável, porém, é de se recear que eu só possa descrever tudo (…) com uma pena manca, como se alguém sempre a repelisse quando ela se dispõe a escrever certas palavras, assim minha mão finalmente escreve outras palavras em seu lugar, palavras das quais simplesmente nunca se dá uma apresentação amável, arredondada, talvez simplesmente por isso, porque é de se recear que também em mim não haja amor. (Kertész, 1995, p. 12)
Notas
* Texto elaborado para a conferência de encerramento do VII Encontro do Despatologiza, o movimento contra a medicalização da vida, ocorrido na Faculdade de Educação da Unicamp, Campinas, 10.10.2017.
[1] É preciso fazer uma distinção entre eventos e acontecimentos. Enquanto aqueles são ocorrências da rotina cotidianas ou organizados como celebração e festa, e por isso previsíveis ou ainda eclosões sociais como guerras, explicáveis e evitáveis ou imprevisíveis e inevitáveis catástrofes naturais. Os acontecimentos são qualquer evento recoberto por duas características essenciais: eles nos afetam e reorientam o presente e o futuro; e os acontecimentos estão sempre sobrecarregados de peso de cunho ético e moral. O acontecimento não está na ordem da continuidade rotineira e pode ser tanto uma vivência pessoal quanto coletiva. Um evento como uma catástrofe natural, causada pela imprudência dos modos de exploração do planeta, será normalmente um acontecimentos para os afetados mas um mero evento para o poder que se recusa alterar o sistema de exploração da natureza e nossa moderna produção de lixo. Uma aula pode ser um acontecimento para um aluno e não ser para outro.
Referências bibliográficas
Bárcena, Fernando. La esfinge muda. El aprendizaje del dolor después de Auscwitz. Barcelona : Anthropos, 2001
Kertész, Imre. Kadish. Por uma criança não nascida. Rio de Janeiro : Imago, 1995
Scahill, Jeremy. Guerras Sujas. O mundo é um campo de batalha. São Paulo : Cia. das Letras, 2014
Serres, Michel. Polegarzinha. Uma nova forma de viver em harmonia, de pensar as instituições, de ser e de saber. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 2013.
Wheatcroft, Andrew. Infiéis. O conflito entre a Cristandade e o Islã. 638-2002. Rio de Janeiro : Imago, 2004
João Wanderley Geraldi é reconhecido pesquisador da linguística brasileira e formou gerações de professores em nosso país. Há já alguns anos iniciou esta carreira de cronista-blogueiro e foi juntando mais leitores e colaboradores. O nome de seu blog vem de sua obra mais importante, Portos de Passagem, um verdadeiro marco em nossa Educação, ao lado de O texto na sala de aula, A aula como acontecimento, entre outros. Como pesquisador, é um dos mais reconhecidos intérpretes e divulgadores da Obra de Mikhail Bakhtin no Brasil, tendo publicado inúmeros livros e artigos sobre a teoria do autor russo.
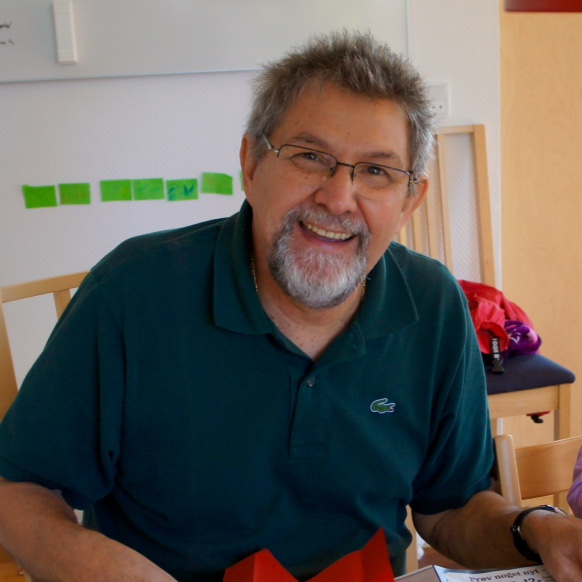
Comentários