
Algumas funções da leitura na formação de técnicos*
Interessado em se fazer profissional, o cidadão busca cursos oferecidos pelas escolas técnicas, ora premido pelas circunstâncias imediatas da vida, ora movido pelos sonhos do mercado: uma vez profissional, tornar-se-ia mais leve a luta pela sobrevivência, face à competência técnica que um curso de formação proporcionaria. Afinal, diz-se, a mão-de-obra não especializada sofre não só os baixos salários, mas também as primeiras dispensas quando “movimentos na economia” provocam cíclicas retrações do sistema de produção. Profissional especializado, sonha o estudante de agora com um futuro senão promissor, no mínimo menos perigoso.
E, entrando para a escola, ei-lo às voltas com estudos que o distanciam de seus interesses imediatos: são as chamadas disciplinas técnicas, de preferência ministradas diretamente nas oficinas, que mais lhe interessam. O resto… bom, o resto é apenas um obstáculo a mais na corrida sempre perigosa de viver: passa-se pelas chamadas disciplinas de humanidades para satisfazer exigências formais de uma formação que se quer técnica.
Formação técnica x formação humanística. Tecnologia x humanismo. Dicotomias que incorporamos, às vezes sem perceber, em nossas discussões sobre a escolarização mais adequada e mais democrática para um povo que tem posto poucas exigências à ação [educativa]: quer apenas sobreviver de seu trabalho.
Seriam efetivamente formações distintas? É possível pensar a conciliação entre os interesses mais imediatos do trabalhador que se quer profissional e os interesses de uma formação pragmaticamente definida? A questão, é óbvio, não é nova: os enciclopedistas a enfrentaram no Século XVIII, como se pode ver em uma passagem de Diderot:
“Aquele que sabe somente a geometria intelectual é normalmente um homem sem destreza, e um artesão que tem somente a geometria experimental é um operário muito limitado… Sobre certos problemas tenho certeza que é impossível conseguir algo satisfatório das duas geometrias em separado.” (apud Manacorda, 1989:241)
Pensar a leitura em cursos de formação técnica é retornar a um tema constante. Faço esse retorno, aqui, a partir de duas perspectivas: de um lado pondo sob suspeita as práticas escolares de leitura; de outro lado pondo sob suspeita o aparente conflito de interesses entre uma formação técnica e uma formação humanística numa sociedade como a nossa.
- As práticas escolares de leitura
Na escola, tal como a conhecemos, a leitura de textos nunca deixou de estar presente, em qualquer das disciplinas que nela se ministram (técnicas ou não). Mas é no interior daquela disciplina que teria a própria leitura como seu objeto de estudos (as aulas de língua e literatura) que esta prática é mais surpreendente. Nas aulas de português, a presença da leitura tem tido um objetivo muito particular: o da transformação do texto que se lê em modelo. Isto por diferentes caminhos:
- O texto transformado em objeto de uma leitura vozeada (ou da oralização do texto escrito), em que se lê para provar que se sabe ler. Recomenda-se, em geral, que o próprio professor fizesse uma leitura em voz alta do texto, e depois solicitasse que seus alunos lessem o texto: aluno por aluno (às vezes sadicamente aquele que o professor percebe estar com a alma vagando longe da sala de aula) vão lendo partes do texto. Lê melhor aquele que melhor se aproxima do modelo de leitura dado, a leitura do professor. Evidentemente, trata-se hoje de uma prática felizmente já ausente das aulas contemporâneas;
- o texto transformado em objeto de uma imitação. A leitura nada mais é do que a motivação para a produção de outros textos pelo aluno. Com ela, dois resultados podem ser perseguidos: ou que o aluno escreva outro texto tratando do mesmo tema (ainda que tal tema lhe seja distante) ou que o aluno tome o texto como modelo formal para escrever, sobre outro tema, mas na forma do texto lido (e os alunos então escrevem poesias, crônicas, contos, fábulas, etc sempre de acordo com o modelo a ser seguido);
- o texto transformado em objeto de fixação de sentidos. Os sentidos que o professor ou algum outro leitor privilegiado tenham dado ao texto passam a ser os sentidos do texto. Ao aluno, em sua leitura do texto, cabe descobrir tais sentidos previamente definidos. Lê melhor quem mais se aproximar dos sentidos que já se atribuíram ao texto. Não se trata de o aluno (leitor) construir sentidos do texto a partir das pistas que este lhe fornece associadas à experiência vivida por ele próprio, mas se trata de o aluno redescobrir a leitura desejada, num exercício de adivinhações que não mobiliza a história de vida (que inclui também outras leituras) do leitor, mas mobiliza apenas sua experiência escolar que sempre lhe disse que deve aproximar-se do já dado para melhor se safar da tarefa.
Em resumo, estes três tipos de práticas não respondem a qualquer interesse do próprio leitor: são exercícios de leitura cujos objetivos são para ele incompreensíveis. Afinal, para que aprender a ler em voz alta se pretendo ser torneiro mecânico, eletricistas, projetista, ou o que seja? Para que escrever sobre esse tema, se sobre ele já escreveu o autor que acabo de ler e nada tenho de diferente para dizer? Para que aprender a escrever poesias, crônicas, contos, se não farei nada disso depois? Para que ler o texto que estou lendo, se não houvesse estas perguntas de interpretação que tenho de responder para ser aprovado em português?
Não se trata de leitura de sujeitos que, querendo aprender, vão em busca de textos e cheios de perguntas próprias, sobre eles se debruçam em busca de respostas. O que poderia ser uma oportunidade de encontro de sujeitos torna-se um meio de estimular operações mentais (especialmente da memória), e não um meio de, operando mentalmente, produzir sentidos e, consequentemente, construir categorias de compreensão da realidade vivida a partir das informações e opiniões dadas pelo autor do texto lido.
Como construir outra legitimidade para a leitura em aulas de português em cursos de formação técnica? Como tornar tais atividades significativas para o estudante sem, contudo, cair no pragmatismo que excluiria a leitura de textos que não respondam a interesses imediatos?
Saindo da escola e olhando para nossas atitudes de leitores fora dela, parece-me que podemos encontrar algumas pistas. As formas como nos relacionamos com textos pode fornecer uma espécie de tipologia destas relações, e como tais, poderiam inspirar outras práticas de leitura na escola.
- Posso ir ao texto em busca de respostas a perguntas que tenho. Trata-se de perguntar ao texto. Nem sempre ele me dará as respostas que busco, poderá me dar respostas que considero parciais, poderá me dar respostas que considero incorretas, poderá não me dar resposta alguma, e preciso continuar buscando em outros textos, desde que minhas perguntas estejam me incomodando. É o que se pode chamar de leitura busca de informações. Dependendo das perguntas que tenho, qualquer tipo de texto pode me dar respostas. Evidentemente, não procurarei o número do telefone de um amigo num romance do começo do século: para isso manusearei a lista telefônica (o que é uma forma de ler este tipo de texto); mas uma informação tanto pode ser extraída de um texto jornalístico quanto de um texto de ficção. Tudo depende do tipo de pergunta que eu tenho e do tipo de resposta que busco. É o tipo de relação que mantenho com o texto que define este tipo de leitura. Neste sentido, raramente os textos lidos em aulas de português respondem a uma necessidade do aluno. São, sobretudo, textos selecionados independentemente destas necessidades, respondendo a uma tradição escolar do que se constituiu na história como conteúdo a ser visto em tais aulas.
- Posso ir ao texto para escutá-lo, ou seja, não para retirar dele uma resposta pontual a uma questão que está incomodando neste momento. Lê-se para retirar do texto tudo o que dele posso extrair nesta leitura. É o que se pode chamar de leitura estudo do texto. Novamente, estou me referindo a um tipo de relação que mantemos com texto, e não a tipos de textos. Uma instrução técnica pode ser objeto de um estudo (na cozinha, quando lemos uma receita de comida que nunca fizemos e que queremos experimentar, estudamos a receita, vemos se temos os ingredientes para nos arriscarmos a fazer o prato, estudamos a forma de fazer, etc.). Num texto de ficção podemos estudar as ações das personagens frente a diferentes problemas, podemos encontrar na história que se narra do que não foi categorias para compreender um mundo que poderia ter sido.
- Posso ir ao texto para usá-lo inspirando-me nele para com ele fazer outras coisas: construir uma montagem, retirar dele um argumento, buscar um exemplo, apreender uma analogia etc. Pretextos legítimos. E mais uma vez, qualquer tipo de texto pode ser usado, dependendo do tipo de uso que quero fazer. As formas de receita de cozinha já inspiraram filmes; manifestos podem inspirar conclamações sindicais, etc. Não é o uso do texto que o destrói: é a sua leitura sem qualquer objetivo para o leitor que destrói textos e autores.
- Posso, por fim, ir ao texto desarmado. Sem perguntas para as quais imagino ele possa fornecer respostas; sem querer escrutiná-lo pelo meu estudo; sem qualquer pretensão de uso imediato. É o que se pode chamar de leitura fruição do texto. É a gratuidade da relação que define este tipo de leitura. Novamente, qualquer tipo de texto pode ser objeto de uma leitura prazerosa: desde uma fórmula matemática até o poema mais hermético.
É óbvio que em qualquer dos tipos de relações aqui tomadas como exemplares o leitor sai enriquecido de informações, quer do ponto de vista do conteúdo dos textos, quer do ponto de vista das configurações textuais com que opera. No convívio com textos, aprende tanto suas formas quanto seus conteúdos, já que uns e outros são inseparáveis.
Uma tal prática, no entanto, supõe uma atitude produtiva: pela mobilização dos “fios” com que o texto foi tecido e dos “fios” que o leitor traz de sua própria história, tece-se um novo bordado. Da experiência de leitura, o leitor sai modificado ou porque adere aos pontos de vista com que compreende o mundo ou porque modifica tais pontos de vista face ao diálogo mantido através do texto com seu autor.
- O conflito aparente: formação técnica x formação humanística
Frequentemente, face aos cursos técnicos, professores de língua portuguesa têm insistido na leitura de literatura como uma espécie de contraponto aos trabalhos desenvolvidos pelos alunos nas oficinas profissionalizantes. Como se o trabalho embrutecesse o sujeito, e a leitura do texto literário os humanizasse. Outro tipo de resposta face ao mesmo problema, mas como o outro lado de uma mesma moeda, outros professores de língua portuguesa, na esperança de tornarem suas aulas mais próximas dos interesses mais imediatos de seus alunos, propõem para tais cursos a leitura de textos “técnicos” já que no exercício profissional serão as instruções técnicas que eles manusearão.
Na verdade, estamos convivendo hoje com um sistema escolar misto: escolas profissionalizantes por um lado, e escolas tradicionais de outro lado. É conhecida a tese de Gramsci a favor da escola unitária e sua análise da aparente democracia que as escolas profissionais representariam:
“A escola tradicional era oligárquica, pois era destinada à nova geração dos grupos dirigentes, destinada por sua vez a tornar-se dirigente: mas não era oligárquica pelo seu modo de ensino. […] A marca social é dada pelo fato de que cada grupo social tem um tipo de escola próprio, destinado a perpetuar nestes grupos uma determinada função tradicional, diretiva ou instrumental. Se se quer destruir esta trama, deve-se evitar a multiplicação e graduação dos tipos de escola profissional […] a tendência democrática, intrinsecamente, não pode consistir apenas em que um operário manual se torne qualificado, mas em que cada “cidadão” possa se tornar “governante” e que a sociedade o coloque, ainda que “abstratamente”, nas condições gerais de poder fazê-lo […] formando-o como pessoa capaz de pensar, de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige.”
À luz de tal perspectiva, qualquer solução excludente no que tange aos tipos de textos de leitura parece inadequada. Se a formação técnica, na sociedade que temos hoje, é uma necessidade, ela o é não só para o trabalhador. O problema é o tipo de formação técnica que se destina ao trabalhador: apenas a do exercício de profissões “instrumentais” e nunca “dirigentes”. Excluir a leitura de textos ficcionais seria contribuir para a eternização da diferença. Excluir a leitura de textos técnicos seria contribuir, de outra forma, com esta mesma eternização, pois a capacidade profissional é um dos maiores instrumentos de luta da classe trabalhadora.
Entre outras questões que o aparente conflito entre os dois tipos de formação parece colocar, há uma para a qual é preciso chamar a atenção. Na rapidez com que se desenvolve o mundo técnico, com suas máquinas cada vez mais sofisticadas, com seus programas rapidamente tornados obsoletos (a título de exemplo, pense-se nos programa computacionais, mesmo aqueles mais simples, que fazem do computador uma máquina de escrever sofisticada – os redatores – estão a cada dia sendo substituídos por programas com maior “cardápio”) é a própria formação técnica que demanda a formação de leitores sofisticados, exigentes, pacientes, capazes de diálogo.
No que tange à leitura, parece-me que uma sólida formação técnica está demandando uma maior capacidade de leitura de diferentes tipos de textos, desde simples instruções até sofisticados textos artísticos (no caso, literários), pois as exigências postas por estes no processo de compreensão desenvolve a capacidade de construir, no diálogo autor/leitor via texto, novas categorias que correlacionam a construção ficcional com o mundo vivido.
Parece-me que as soluções defendidas pelos dois grupos referidos no primeiro parágrafo deste tópico partem de um falso dilema, construído pela vontade democrática de tornar os cursos técnicos efetivamente capazes de atender às reais necessidades de seus alunos.
Colocaria a questão em outro patamar. Não se trata de saber qual é o tipo texto mais adequado para o trabalho a ser feito em sala de aula. Trata-se de saber qual o melhor trabalho a ser feito em sala de aula para que os alunos egressos das escolas técnicas sejam cidadãos leitores em uma sociedade que tem expulsado, historicamente, os trabalhadores, qualificados ou não, das bibliotecas, das livrarias, dos cinemas, dos teatros, etc.
Neste patamar, trata-se de pensar o próprio processo de leitura. Afinal, o que é ler? Que coisa é esta, o texto, que parece se apresentar como um enigma, um segredo cuja chave de acesso parece ser de conhecimento de tão poucos?
Houve uma época em que tudo parecia tranquilo: cada texto tinha um significado, e apenas um, e ler era desvendar este significado. Depois, como reverso desta farsa, outra farsa: todo o texto permite qualquer leitura, tudo vale – é a minha leitura.
O que se estará querendo dizer, hoje, quando se fala que o sentido é produzido na leitura? Que o texto não tem um si qualquer sentido? Que o leitor não tem qualquer compromisso?
Parece-me que não são estas as verdadeiras questões para o professor de língua portuguesa e, portanto, de leitura, trabalhe ele num curso técnico ou não. E é como contribuição de respostas a estas questões que teço as considerações que se seguem:
- ao ler um texto, o leitor mobiliza dois tipos de “informações”: aquelas que se constituíram em sua experiência de vida e aquelas que lhe fornece o autor em seu próprio texto. É neste sentido que a leitura é um encontro de sujeitos, enquanto tais, sujeitos situados numa sociedade e por ela influenciados, mas não como resultados mecânicos de suas condições, mas como síntese destas condições históricas e de suas ações sobre elas;
- ao ler um texto, o leitor se compromete com o autor no sentido que este, ao escrever o texto, utiliza-se de uma língua para produzir certos efeitos de sentido. Autor e leitor, pertencentes a uma mesma sociedade, onde se constituiu, pelo trabalho de todos, o sistema linguístico, sabem um e outro que as estratégias de dizer implicam sentidos e efeitos de sentido. Ora, não pode, pois, o leitor atribuir qualquer sentido às expressões usadas pelo autor: ao atribuir um sentido, o leitor parte das pistas fornecidas pelo autor, associa-as a seus próprios fios, para produzir o sentido em sua leitura. Aqui, pode o leitor produzir, em sua caminhada interpretativa, leituras inadequadas. Caberá ao professor não a correção de tal leitura, mas descobrir com o leitor os passos desta caminhada, para que este leitor/aluno perceba onde os encadeamentos feitos poderão estar sendo responsáveis pelo sentido final inadequadamente produzido;
- ao ler um texto, o leitor não pode “despojar-se” de seus saberes para preencher os espaços vazios assim conseguidos com os saberes do autor. Isto seria negar-se ante o texto. Mas também não pode escudar-se em seus saberes como verdades absolutas e imutáveis. Isto seria negar o texto. Mesmo quando não concordamos com os pontos de vista defendidos no texto que lemos, para podermos criticá-lo precisamos estar “abertos” para compreendê-los e por isso mesmo não aceita-lo. É neste sentido que a leitura é um diálogo, que na escola se dá entre o aluno e o texto, mas do qual o professor não pode ser mera testemunha. Mediador de leituras, cabe ao professor um papel nativo neste processo, perguntando, fazendo refletir, fazendo argumentar, escutando as leituras de seus alunos para com elas e com eles reapreender o seu eterno processo de ler.
Se a leitura puder se tornar, nas aulas de português, esta forma de encontro, norteado pelos diferentes interesses pelos quais buscamos encontrar-nos com os outros, talvez possamos ultrapassar práticas escolares tradicionais de leitura e irmos além das dicotomias de formação técnica x formação humanística nas escolas em que hoje atuamos em função da construção da escola que queremos.
* Nota
O SENAI estava desenvolvendo um projeto – A Biblioteca na Escola – coordenado pela equipe de ensino à distância e de multimeios, do Departamento Regional de São Paulo. No começo do ano fui convidado para uma palestra na escola de Campinas. Posteriormente me pediram que escrevesse um texto para compor o material didático do projeto, um material escrito que acompanhava o programa em vídeo (programa chamado de Entre Vistas). Redigi o texto para este material, e o leitor notará que se trata de uma composição de questões, perspectivas e propostas já publicadas em outros trabalhos. A função do texto, aqui, era tanto de formação quanto de divulgação de ideias que, naquela época, ainda pareciam renovadoras. O leitor notará também o tom didático da exposição, buscando uma interlocução com professores desconhecidos, já que se tratava de material para “educação à distância”. Publico-o aqui para manter a fidelidade ao conjunto de textos publicados por mim ao longo do tempo.
(Algumas funções da leitura na formação de técnicos. In. SENAI. A biblioteca na escola. S.Paulo, Senai, 1991, p. 13-26.)
Bibliografia
Geraldi, João Wanderley. Portos de Passagem. São Paulo, Martins Fontes, 1991.
Gramsci, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2ª. edição, 1978.
Manacorda, Mário A. A história da educação – da antiguidade aos nossos dias. São Paulo, Cortez: Autores Associados, 1989.



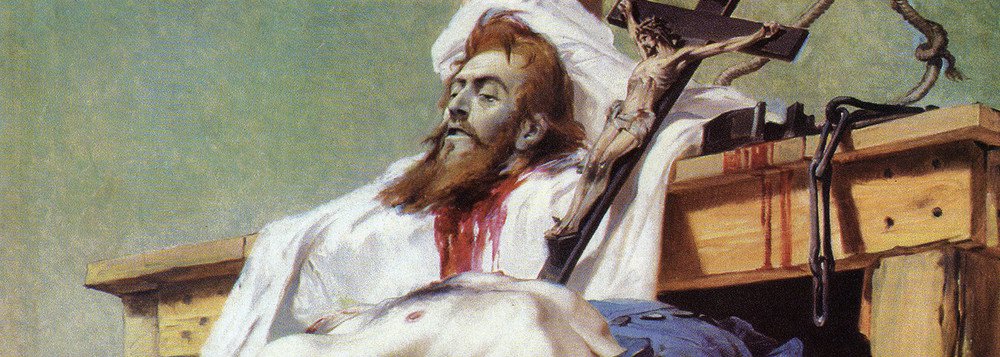
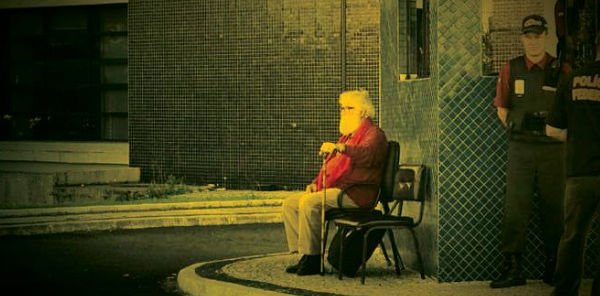
Comentários