por João Wanderley Geraldi | jul 8, 2018 | Blog
Num dos posts de sexta-feira passada – Que os ossos dos miseráveis se tornem armas… – cometi um grave erro de leitura. Fui levado a ele pela citação que referi na crônica e que aparece no seguinte contexto em Fernando Britto:
Não é à toa que, no Facebook, o professor Gilberto Maringoni fala do entusiasmo do empresariado (empresariado?) brasileiro com a sua “solução final”:
Pouco importa se as mãos de quem dirigirá o país estiverem sujas de sangue, se há apologia de Brilhante Ustra, ou se há pregação misógina, homofóbica ou de ódio aos pobres. Isso é bobagem. Estamos falando de negócios. E negócios são coisa séria!
(disponível em http://www.tijolaco.com.br/blog/o-mercado-quer-seu-selvagem-e-sonha-com-fadinha-jantavel/)
Estava o Professor Maringoni fazendo ironia com os empresários, ao cmentar os aplausos dados por eles a Bolsonaro. Obviamente a frase pode nunca ter sido dita por algum economista neoliberal, porque em geral eles escondem o que efetivamente pensam. Assim, tudo o que falei na crônica postada sobre esta forma de encarar o mundo pelos neoliberais, mantenho.
Mas devo, por razões óbvias, que ressaltar: não é isso que pensa o Prof. Gilberto Maringoni e ao aliá-los ou coloca-lo entre os economistas neoliberais e descarados, cometi um grande erro. Erro duplo: por não ter ido verificar o contexto do enunciado de Maringoni em seu Face, ainda que dada a fonte por Fernando Britto, e por insultar o Prof. Maringoni ao toma-lo como neoliberal – para mim não há ofensa maior do que chamar alguém de neoliberal!!!
Assim, tenho o dever de pedir aqui desculpas não só ao líder do PSOL mas também aos leitores do blog que foram levados a pensar mal de Maringoni… Embora sem comentários tanto no blog quanto no whatzap, Corinta me chamou atenção para meu erro, e lhe agradeço.
Segue a própria crônica do Prof. Gilberto Maringoni, para que o leitor se delicie com suas ironias…
Gilberto Maringoni
5 de julho às 15:56 ·
O EMPRESARIADO LIGOU O FODA-SE
Os aplausos histéricos do empresariado a Jair Bolsonaro indicam algo muito grave, para além da simbiose do liberalismo com a extrema-direita ou com a perda de escrúpulos de uma classe que nunca renegou a escravidão.
O apoio mostra que pode haver um movimento para se ter como “normal” ou “aceitável” para “pessoas de bem” o apoio a um notório defensor da tortura, do extermínio e do permanente estado de guerra como forma de convívio social.
Ou seja, a normalização de Bolsonaro busca tornar palatável ao jogo democrático a ideia de não haver nada demais em se pregar o fim da democracia.
A – digamos – burguesia brasileira aderiu de mala e cuia ao golpe de 1964 e deu apoio entusiasmado ao mais liberal dos cinco governos da ditadura, o de Castello Branco. Ninguém tentou salvar as aparências.
A contrariedade só começou a se manifestar a partir de 1974.
Embora a gestão de Ernesto Geisel (1974-79) tivesse na eliminação física da oposição sua ação política de última instância, o projeto econômico centrado no Estado é que indispôs frações crescentes da burguesia com o regime.
Censura, cassações, prisões, tortura, assassinatos, impedimento de eleições, nada disso preocupava a plutocracia da época. A pedra no sapato se deu quando a ditadura começou a se afastar do alinhamento automático a Washington e ao mostrar que o mercadismo absoluto não era a senda a ser seguida.
Eugênio Gudin, o grande ideólogo do neoliberalismo brasileiro desde os anos 1930, ao receber o prêmio Homem de Visão, disse o seguinte em seu discurso, no final de 1974:
“O capitalismo brasileiro [era] mais controlado pelo Estado do que o de qualquer outro país, com exceção dos comunistas.
Setores industriais, como os de energia elétrica, siderurgia, petróleo, navegação, portos, estradas de ferro, telefones, petroquímica, álcalis e grande parte do minério de ferro, que nos Estados Unidos estão nas mãos das em presas privadas, foram no Brasil absorvidos pelo Estado. Bem assim, em grande parte, a rede bancária que controla o crédito para as empresas privadas”.
Mais de quarenta anos depois, essa classe degradada e decadente tem os mesmos objetivos, além de buscar subsídios estatais e tentar vender suas lojinhas a algum grupo gringo.
Pouco importa se as mãos de quem dirigirá o país estiverem sujas de sangue, se há apologia de Brilhante Ustra, ou se há pregação misógina, homofóbica ou de ódio aos pobres. Isso é bobagem. Estamos falando de negócios.
E negócios são coisa séria!
https://www.facebook.com/search/top/?q=gilberto%20maringoni
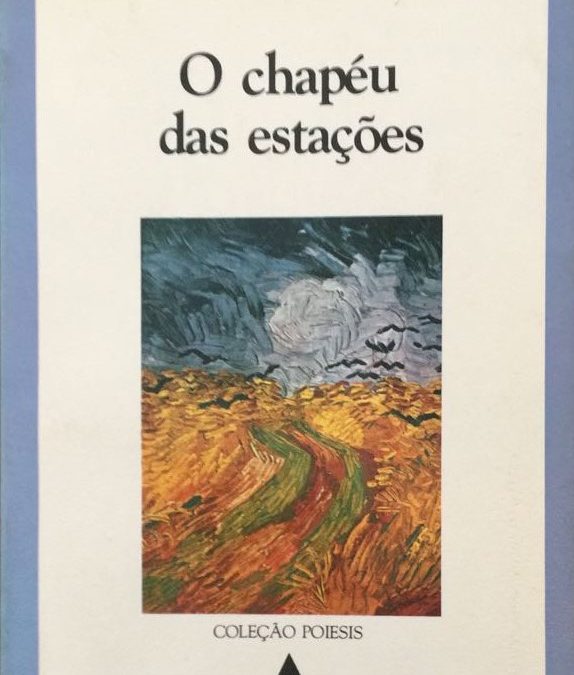
por João Wanderley Geraldi | jul 8, 2018 | Blog
NÃO SOMOS APENAS O QUE EXISTE
Não somos apenas o que existe.
Há camadas que guerreiam.
Apenas o alargamento
de terras e raízes.
Rio correndo países
de paciência.
Apenas o estribilho
de línguas
vivas ou mortas.
Um pelo, a brisa,
os corpos na água.
Inumeráveis
as gerações se conhecem,
proa de um rosto.
E nos parecemos
com tudo o que muda,
ficando.
Das coisas
tomamos o bordão,
o andamento.
Não apenas o que existe.
Também o que não existe,
Somos.
(Carlos Nejar. O chapéu das estações. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1978.)
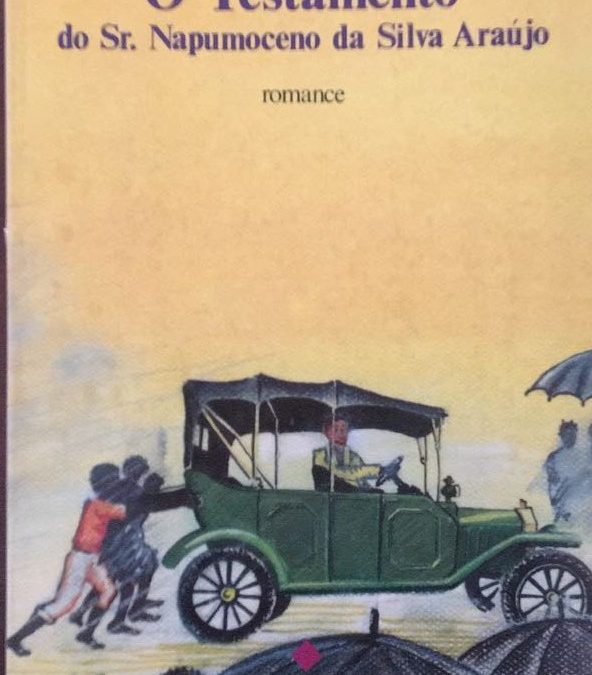
por João Wanderley Geraldi | jul 7, 2018 | Blog
Este é o romance de estreia do cabo-verdiano Germano Almeida, escrito em 1988 e publicado em 1991. Usando uma técnica de compor a narrativa que inclui um outro texto, outra narrativa, inicia-se o romance com a leitura do testamento do Sr. Napumoceno, comerciante do ramo de importações e exportações de Mindelo, na ilha de S. Vicente. Viera pobre da ilha de S. Nicolau em busca de oportunidades de trabalho. Assim que chegado, procurou uma referência que tinha, o Dr. Souza, que fora colega de escola de um tio seu. Foi o Dr. Souza que lhe arrumou o primeiro emprego, na empresa Baptista, Ltda como menino de recados.
Avançou na empresa e chegou a subgerente, e como tal realizava para os patrões importação e exportação sem pagamento de impostos. Por um tempo fez isso sem nada lucrar, mas depois quis repartir com os patrões os lucros. Foi assim que começou a ir formando o capital que lhe permitiu estabelecer-se por conta própria. E com muita sorte e gana, se transformar num homem rico. Um dos episódios narrados de sua sorte foi a aquisição de 10.000 guarda-chuvas: ele havia se enganado, queria comprar 1.000 para serem usados como guarda-sol. Mas justamente no dia em que chegaram os guarda-chuvas, houve uma chuva constante na cidade, de modo que em poucos dias vendeu todo seu estoque fazendo um grande lucro.
Episódios como este vem todos narrados no testamento! Um documento de 387 páginas que o notário começou a ler em voz alta mas que foi perdendo a voz, tendo que se substituído primeiro por uma das testemunhas, o amigo íntimo do falecido, o Sr. Fonseca e logo após pela segunda testemunha, o Sr. Lima.
Presente o sobrinho Carlos, que se imaginava herdeiro universal da fortuna amealhada pelo velho comerciante, ficam todos surpreendidos com o que narrou o testamenteiro: ele tinha uma filha, Maria das Graças, que “fizera” com a servente da limpeza: um dia ela chegou com uma saia verde e uma blusa branca, e ele não resistiu. Eram justamente as cores do Sporting, time para o qual torcia apaixonadamente. Assim, a secretária de seu escritório, a partir do primeiro avanço, tornou-se a cama do casal. Quando soube que Dona Chica estava grávida, tentou convencê-la a praticar aborto. Mas ela não aceitou. Como se tratava de uma relação inaceitável para o ambiente social, D. Chica foi aposentada pela empresa que lhe pagou religiosamente uma mesada com que se sustentava, ainda que na pobreza.
Somente quando Maria das Graças tinha 16 anos é que o pai a conheceu, sem se dar a conhecer como pai. Tentou até mesmo dar à menina presente de aniversário, mas ela recusou imaginando que o “velho” tinha outras pretensões, como se a estivesse comprando.
Foi somente após a morte e na leitura do testamento que Maria das Graças ficou sabendo que era filha do Sr. Araújo e que se tornara herdeira de seus bens, ao mesmo tempo, que passou a ter um primo, Carlos Araújo, inconsolável pela patranha que lhe fez o tio, lhe deixando somente como herança um sítio cujo valor era de pequena monta.
O romance, que se lê de uma só sentada, é muito bem escrito, com uma trama que leva a ir conhecendo minuciosamente a vida da personagem, uma personagem morta mas que continua a falar a partir dos escritos que deixou. Foi lendo estes escritos que Maria das Graças descobriu o grande amor da vida de seu pai: Adélia, objeto de três cadernos manuscritos deixados pelo falecido.
Adélia, por quem se apaixonou, ele a chamava de “olhos de gazela”. No entanto, ela tinha marido que estava no estrangeiro. Quando de seu retorno, ela desapareceu da vida do Sr. Napumoceno. Foi nesta altura que ele tirou suas primeiras férias, indo rever os lugares de sua infância, na ilha de S. Nicolau. De lá também partiu para os Estados Unidos e voltou da América impressionado pelo modo de vida dos norte-americanos e por suas invenções. De lá trouxe algumas quinquilharias inúteis em Cabo Verde, novidades que instalou no seu escritório, como um aviso de luzes com cores verde, amarelo e vermelho. Quando lhe batiam à porta, ele apertava o botão segundo o que naquele momento lhe apetecesse. Verde, pode entrar; amarelo, espere um pouco; vermelho, estou definitivamente ocupado. Outra quinquilharia foi uma secretária eletrônica, em que durante todo o tempo da narrativa gravou apenas uma mensagem.
E esta mensagem foi uma brincadeira do sobrinho. Acontece que o velho lhe confessara que estava querendo se casar (com Adélia); e o sobrinho gravou uma mensagem, acusando-os do mercado negro de seus começos na Batista, Ltda. e chamando-o de velho imbecil que pensava ainda poder ter mulher. O tio reconheceu não a voz do sobrinho, mas a forma como ele se referia à ilha de S. Vicente: Vincente, erro que muitas vezes seu tio corrigira. É esta a mensagem que levou o tio a praticamente deserdar o sobrinho…
Somente no final da história, num encontro de Graças com Carlos, este revela que todo o Mindelo sabia dos amores de Napumoceno com Adélia; que todos sabiam que ele tinha uma filha bastarda; que todos sabiam que o Sr. Fonseca, que naquelas alturas servia de secretário ad hoc de Maria das Graças para bem realizar todas as determinações do testamento.
Uma destas determinações era entregar o legado que deixara para Adélia, um livro, incluindo a entrega de um livro: Só, de Antonio Nobre. Esta foi a única determinação testamentária que não foi possível realizar. Apesar de todos os esforços tanto da filha quanto do Sr. Fonseca, incluindo comunicado por rádio anunciado três vezes ao dia durante uma semana e escrito com o maior cuidado para que não se revelassem oficialmente os amores do falecido:
… o ilustre extinto Napumoceno da Silva Araújo que há cerca de um mês nods deixou abandonados na dor irreparável de sua perda, legou muitos dos seus objetos pessoas a diversos cidadãos desta cidade que ele amou como sua terra natal. Quase todas essas pessoas forma localizadas e os diversos legados devidamente entregues para perpetuação da memória do sempre saudoso e chorado desaparecido. No entanto até agora não nos foi possível descobrir o endereço de uma sua amiga de infância, senhora de nome Adélia, a quem ele deixou uma valiosa lembrança. Pede-se por isso à Exma. Sra. D. Adélia o favor de entrar em contato com os escritórios da firma Araújo, Ltda, para o recebimento em mão própria do objeto que … (p.110)
O estilo do testamento e o estilo do narrador se entrecruzam, e frequentemente este dá espaço para entrada, em discurso direto, das falas do falecido e das falas das personagens envolvidas com o cumprimento das determinações do testamento, em particular Maria das Graças, agora Araújo, o sobrinho Carlos e o Sr. Fonseca, autor do comunicado radiofônico acima transcrito.
O interessante de perceber, nestes cuidados todos, é que, como revelou o sobrinho Carlos, todos em Mindelo sabiam da vida de todos… até mesmo as intenções do Sr. Fonseca em estar servindo de secretário da herdeira: ele tinha interesse numa das casas que deixara o falecido. Maria das Graças, que ouve as afirmações de Carlos, fica surpresa pois apenas na véspera o Sr. Fonseca havia se candidatado a comprar a referida casa, e ela respondera que somente depois de tudo arranjado, iria decidir. No entanto, tudo já era sabido na sociedade mindelense.
Germano Almeida escreveu vários outros romances, e acaba de receber o Prêmio Camões (22.05.2018), fato que o distingue na literatura de língua portuguesa.
Referência: Germano Almeida. O testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo. Lisboa : Caminho, 1991.

por João Wanderley Geraldi | jul 6, 2018 | Blog
Leio em Fernando Brito uma estarrecedora declaração do professor Gilberto Maringoni:
Pouco importa se as mãos de quem dirigirá o país estiverem sujas de sangue, se há apologia de Brilhante Ustra, ou se há pregação misógina, homofóbica ou de ódio aos pobres. Isso é bobagem. Estamos falando de negócios. E negócios são coisa séria!
(disponível em http://www.tijolaco.com.br/blog/o-mercado-quer-seu-selvagem-e-sonha-com-fadinha-jantavel/)
Trata-se de enunciador com trânsito pelo G1, queridinho do mercado, autor do Diário do Centro do Mundo (o umbigo dos ricos é o centro do mundo, obviamente). Tem emprego de professor de relações internacionais na Universidade do ABC paulista, criada por Lula, onde deve pregar de cadeira que salvos os negócios, o resto não interessa: miséria, desemprego, fome, mortalidade infantil, tortura, homofobia. Tudo é palatável desde que as coisas sérias, isto é, os negócios estejam a salvo e os lucros garantidos. Mas este mesmo “professor” há de defender a “escola sem partido”, porque o que ele prega não é partidário, é somente a defesa do interesse dos ricos, do dinheiro, a quem interessa muito o partido…
É impressionante como há gente que perdeu o sentido da vida e só enxerga balanços de bancos e de fundos de investimento. A economia, como se sabe, está em frangalhos. O capitalismo produtivo deu adeus à história e foi substituído pelo capitalismo improdutivo, da ciranda dos lucros e dos investimentos (investimentos na especulação, obviamente e jamais na produção). Sabem os neoliberais, inclusive o Sr. Gilberto Maringoni, que neste jogo guloso das rendas, acabam comendo por uma perna antes de tudo as finanças das nações (um dia começarão a comer o próprio rabo), nações que para satisfazer o monstro pensam que o remédio é vender patrimônio a torto e a direito.
Acontece que este patrimônio está na área da produção, e os investidores estão na bolsa, e somente na bolsa! Privatizada a empresa, sobe o valor das ações, etc. etc… mas nenhum centavo deste “valor de mercado”, cantado em prosa e verso por leitoas e leitões, vai para a empresa em si que logo, muito logo, fica sucateada por falta de investimentos… e aí gritam seus CEOs, é preciso que o estado, através do Tesouro, usando os mecanismos do BNDES ou de outros órgãos do governo (com isenções de impostos, como aquele presente dado ao Banco Itaú de 26 bi), financie as atividades para elas continuarem a existir: jogam com o emprego, com a sobrevivência de todos em função do abastecimento (lembremos o locaute recente das empresas de transporte); jogam com a mãe e o pai que juram enforcar. Jogam com tudo para garantir recursos públicos para o setor privado. E lá vêm os economistas, outros nem tanto, a defender a intervenção do estado nestas situações. Os mesmos que ontem defenderam a venda do patrimônio, o estado mínimo, etc…
Acontece que o estado mínimo deve ser para a patuleia; para os ricos o estado deve ser máximo! Qualquer um destes economistas hipócritas sabe que o estado foi “mãe dos ricos” na crise de 2007/2008, cujos efeitos ainda não se encerraram, e foi provocada pelos mesmos gestores (grandes economistas de mercado) que continuam lá procurando cavar outro buraco para carrear para seu Fundo, seu grupo, seu puta que o pariu, mais recursos públicos a custa da fome e da miséria.
E procuram algum ex-capitão, defensor da tortura, do estupro, homofóbico, etc. etc. para manter, abaixo de cassetete, a ordem pública, isto é, os filões abertos por onde fluem os lucros incessantes carreados para seus patrões por estes “capitães” do pensamento neoliberal, ao estilo do Dr. Gilberto Maringoni que desonra a atividade docente universitária ao usar diante de seu nome a palavra “Professor”.
A única esperança que resta é a profecia de D. Hélder Câmara: “um dia os miseráveis farão de seus ossos armas de combate”. Este dia já tarda para tristeza da geração que lutou contra a ditadura militar.
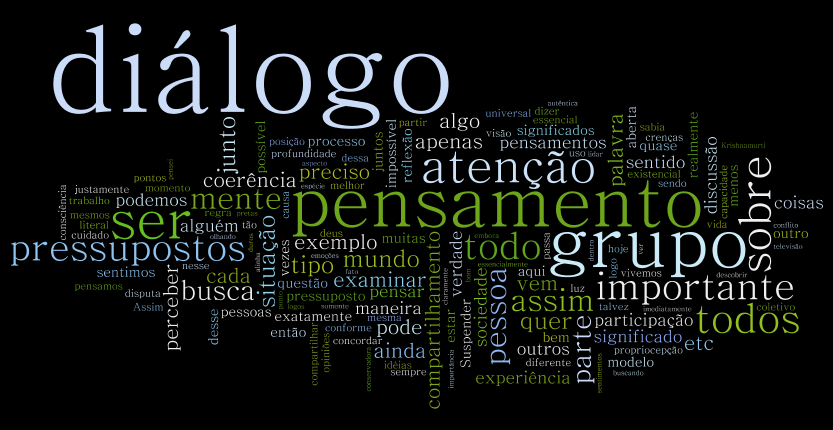
por João Wanderley Geraldi | jul 6, 2018 | Blog
A redação do aluno (desvios ortográficos foram aqui desconsiderados em função do foco da análise) foi escrita assim:
“Eu acordei e aí eu fui escovar os dentes. Depois fui tomar café. E depois eu arrumei a minha cama. Aí eu fui jogar bolinha e depois eu fui jogar bola. Depois eu andei de bicicleta. Aí eu fui almoçar e depois fui assistir televisão. Depois eu tomei banho e fui fazer tarefa. Depois eu vim na escola.”
A primeira manifestação, mais explícita, que esse texto nos dá é a noção de tempo. De um certo tipo de tempo: cronológico. Ao mesmo tempo, se olharmos para a sequência de ações que o expõe… Que ações foram efetuadas pelo menino? Acordar… escovar os dentes… tomar café… arrumar a cama… jogar bolinha… jogar bola… andar de bicicleta… almoçar… assistir televisão… tomar banho… fazer as tarefas… vir para a escola.
Minhas primeiras observações dizem respeito à área de Língua Portuguesa. Bem… se eu tivesse escrito apenas escovar… eu teria dito qual a ação praticada? Não, não teria dito a ação. Portanto, a noção de verbo está errada. O que é a noção de verbo? Verbo é a palavra que diz a ação praticada (segundo a gramática). Se eu ocultasse as palavras complementares (os dentes) eu invalidaria a definição de verbo. Para validar a definição de verbo eu vou em busca do complemento. Assim, de forma questionadora, eu posso introduzir ao aprendizado do que é complemento nominal/verbal. Se eu quiser introduzir o aprendizado de objeto direto, objeto indireto, verbos transitivos, intransitivos… eu vou procedendo de forma questionadora face ao texto. Mais adiante, se eu ocultar os complementos, perco as diferenças entre, por exemplo, tomar café/tomar banho. Há diferenças entre estes dois “tomar”. Portanto, há situações em que preciso de várias palavras para explicitar a ação. Introduzir à discussão o seguinte: se eu disser, conforme a gramática, que “o verbo é a palavra que indica a ação praticada”, eu estou fazendo uso de uma abstração. Devo, então, deixar claro que esta abstração é referente a um determinado tipo de verbo. Não se pode generalizar, sem discutirmos a existência de complementos.
Em seguida, nosso aprendizado vai rumo aos tipos de verbos. Verbo transitivo: é aquele que exige complementos para entendermos seu sentido. Exemplos? Volto ao texto. Percebo como e de que jeito o próprio texto exigiu de mim complementos a certos verbos: tomar banho… tomar café. Para explicitar ações num texto fui em busca da definição de verbo. Depois, para compreender melhor o verbo precisei de vivência do texto, precisei de complementação. Como esse movimento eu fui chegando a uma outra definição. O ponto de partida foi o texto, não foi a definição gramatical. Fui a esta depois de ter listado as ações praticadas…
O menino contou o dia dele. Ele usou 12 verbos, 12 ações, antecedidos todos de “e depois” ou “aí”. Não são todos iguais, nós sabemos. Podemos, então, estudar a partir das compreensões que este texto permite. Como classificar tais ações? Isso requer critérios, claro. Todo raciocínio classificatório demanda critérios. Por exemplo, teríamos como critério o obrigatório e o não-obrigatório. Critério “A” e critério “B”. O primeiro verbo (ação) que o texto expressa é acordar. Sob qual grupo colocar “acordar”? Critério ”A”? Acordar seria então obrigatório. É isso? Concordamos com esta obrigatoriedade? Acordar é obrigatório (e é classificável) em relação a adormecer. Podemos ir por aí? Dependendo das discussões em sala de aula, essa direção pode nos conduzir a: o que sabemos em relação ao sono? O que é sono? Neste nosso critério, tomado para discussão, fomos levados, precisamos pensar interdisciplinarmente.
…
(AN) – Me permite, Wanderley, uma “intromissão” nesta reflexão. Você trata o texto “extraindo” dele algumas categorias (classificações) pelas quais perpassou a vivência do menino. Através dessa abordagem, vamos compreendendo como foi que o garoto diversificou palavras, como foi que ele ordenou verbos e exprimiu pensamentos escritos. Pergunto: ao proceder assim temos aí um recurso didático para a compreensão? Facilitamos deste modo nosso entendimento da relação menino-realidade. É isso? Palavras, verbos, conjugações, tempos, pensamentos transcodificados… Tudo isso constitui uma “realidade plural”. Realidade interpretada pelo menino, através de um texto (redação). A discussão que decorre deste exemplo facilita novas (e coletivas) intepretações interdisciplinares? Vai por aí? Tentando (aproxi8mativamente) uma classificação, o Wanderley vai construindo um recurso didático para compreendermos não apenas o texto em si, mas compreendendo o texto alcançamos uma dimensão maior. Qual dimensão? Aquela que relaciona a realidade o aluno a redação, como parte de um campo de conhecimento e a situação de sala de aula. Se você caminha por este rumo, pensei eu, a classe toda deste menino se beneficia da redação dele. Por quê? Um passo importante para a compreensão científica é a classificação. Através da classificação pôde o Ser Humano compreender. Simultaneamente um grande número de fenômenos diferentes, interconectados em uma mesma realidade. A classificação foi uma forma de lidar com a simultaneidade das diferenças entre fatores (ou entre fenômenos). Foi um avanço isso, a seu tempo. Compreender as diferenças, simultaneamente, como partes ativas e diferenciadas de uma totalidade foi um avanço no campo epistemológico. E isso foi permitido pelo procedimento classificatório. Em seguida, conforme discutiu conosco o Porf. Arguello, o tratamento científico analítico é complementado. A este tratamento se soma uma abordagem transdisciplinar. Bem, Wanderley, é por aí? Me corrija aí, segundo os rumos de sua reflexão,. Através do trabalho no campo da linguagem, você nos conduz a uma compreensão multidisciplinar. Prosseguimos?
…
Ainda seguindo nosso “estudo classificatório” que, como Adrino lembrou, é um exercício de refletir-compreender, podemos, na sequência, refletir sobre o que se segue. Naquele texto o menino escreveu escovar os dentes. É classificável em A ou em B? É de obrigatoriedade diferente daquela aplicada a acordar? Escovar os dentes seria um obrigatório cultural? Há uma outra direção interdisciplinar aí. Pode um índio viver muitos anos sem escovar os dentes e com dentes bons… ele mesmo comento não danifica seus dentes. Brotou aí uma discussão sobre tipos de alimentação, sobre higiene…
Na sequência, a próxima ação a ser classificada tomar café. Seria A ou B? Vocês me dirão que é inevitável. Em outras culturas, como se vê esse inevitável? Este necessário obrigatório (tomar café) é diferente do outro necessário obrigatório (acordar). Vejamos: estamos decidindo, aí, subclasses ou subcritérios dentro das categorias escolhidas. A categoria geral vai sendo submetida e internamente se torna variável. A ciência no século XIX deu bastante ênfase ao raciocínio classificatório. A Linguística, em certo sentido, ainda faz isso. A língua portuguesa, no cotidiano da sala de aula, ainda pensa assim: classes de palavras, tipos de sentenças, tipos de funções sintáticas.
Há um problema se eu permanecer apenas no procedimento classificatório. É limitar os horizontes de pensamento. E limita também a compreensão do fenômeno. Por quê? Porque eu permaneço, o tempo todo, tentando “enfiar” a realidade dentro de meus esquemas classificatórios. Muito embora seja necessário classificar, é ruim perder de vista essa espécie de movimento. Que movimento? Aquele pelo qual 1) eu parto a realidade concreta; 2) escolho critérios para fazer classificações, o que é raciocinar abstratamente (o critério de classificação é abstrato) que me ajudarão a compreender globalmente (e simultaneamente) minha situação e vou enfrentando os problemas tanto na construção dos critérios quanto na capacidade de abstrair; 3) volto sempre à realidade concreta para verificar a aplicabilidade de meus critérios. Vale dizer, parto do concreto, separo, abstraio criando critérios de classificação e com estes volto ao concreto… Minhas abstrações, sem a volta ao concreto, vão ficando cada vez mais abstratas e perdem o cheiro, perdem a cor da realidade. [Nosso exercício de ver as diferenças entre a obrigatoriedade do acordar e do escovar os dentes nos levaram, a partir do concreto, a critérios internos a uma classe dividindo-a… mas se seguir assim, sem abstrações, acabarei tendo um critério para cada ação, ou seja, nada é aprendido!!! Eis a dialética entre abstração/concreto: na pura abstração, perde-se o cheiro de realidade; na pura compulsão do dado concreto, perde-se qualquer compreensão que não seja meramente a repetição do já dado.]
…
(CA-Carlos Arguello) Estou pensando aqui, Wanderley, que outros professores podem trabalhar com essa mesma direção que você vai indo. Um professor de biologia, por exemplo. Ele pode “soltar” suas classes de alunos em campo e, com eles, pode fazer análise da diversidade botânica. Pra fazê-lo, eles vão necessitar de critérios, classes e subclasses. Mesmo que esse professor nem diga: “olha, criançada, eu estou trabalhando de forma interdisciplinar”. A apreensão das crianças ocorre de forma transdisciplinar. É uma apreensão “solta”, criativa. Dentro do pensamento dessas crianças ocorrem elaborações criativas e multidisciplinares. O pensamento faz construções. E ele funciona através de apreensões interdisciplinares.
…
Gostaria de sublinhar um aspecto. A partir do que o Prof. Arguello comentou, me lembrei de algo. De fato, poderemos trabalhar no mesmo rumo, um professor de biologia e eu, na linguagem. No entanto, este trabalho no mesmo rumo às vezes não favorece a interação interdisciplinar. Por exemplo: já vi gente trabalhando assim, se o prof. de biologia está estudando em campo, classificando, então o professor de língua deveria trazer um texto-leitura que seja sobre o campo. E, mais ainda, (neste caso que vi) a professora de história propunha estudos históricos sobre a questão do campo em relação ao urbano. E mais: a professora de estudos sociais trazia estudos sobre aspectos socioeconômicos do campo. E depois o professor de língua fará com seus alunos uma redação sobre a vida no campo… Além disso, o professor de matemática deveria estudar as medidas e os cálculos aplicáveis ao campo. Penso que isso é um engano. Penso que esta “montagem” curricular não favorece a construção de conhecimento que é, sempre, pluritemática. Penso que o trabalho pedagógico interdisciplinar não significa que todos os docentes adotem um mesmo tema. Me pareceu que a consequência disso foi a seguinte: ficou monótono, ficou aborrecido para a inteligência dos alunos. A integração interdisciplinar ocorre através de processos, através de rumos (como disse o Arguelllo). Tais processos poderá fazer uso de variados temas. A “unitematização” não é uma necessidade prévia à construção do conhecimento de forma interdisciplinar. [E o “tema-gerador” é gerador porque leva a outros temas, não por sua repetição em cada uma das disciplinas; a unitematização não é geração.]
Gostaria de explicitar agora por que é que eu fiz uso de critérios a que chamei de “A” e “B”. Com meus alunos, em situações de ensino, enfrentei realidades complexas. Enfrento fenômenos simultâneos. Como lembrava o Adriano, estabelecer critérios é um facilitador dessa abordagem às realidades complexas. Em sua vida usual, cada criança faz classificações que facilitam sua vida. Brinquedo de noite, brinquedo de noite. Brincadeira para inverno, brincadeira para verão. Amigo para este momento, amigo para outro momento. Há vários critérios que ajudam essas crianças a fazerem suas reflexões. E tudo isso pode ser “puxado” a partir de um texto que ela (criança) produz. Nós, adultos e professores, usamos critérios para viver (com as crianças) a experiência cognitiva face à realidade.
…
(CA) Beja você, Wanderley, que curioso. No ensino de ciências, conheço casos em que os meninos são colocados face a face com critérios e classificações já prontos, antecipadamente. Surgem palavrões: artrópedes, helmintos, platermintos, anfíbios, anuros, etc. Pensam as crianças algo assim: “mas da cabeça de quem surgiram esses palavrões?” Diante de enormes coleções de nomes (palavrões) os meninos reagem na defensiva. Tentam colar, em dia de prova. Tentam decorar. Abandonam a escola, pela monotonia, etc. O que não ocorre, quase nunca, é isso que você veio fazendo com um texto; não acontece essa “aventura” de compreensão, facilitada pela classificação. E quase nunca compreendem que estudar pode ser construir conhecimento. Nossa teimosia com a atuação interdisciplinar é uma tentativa de realizar a “aventura” construtiva que o conhecimento.
…
Você me lembra, Arguello, um outro comentário que considero importante. Faz bastante tempo, já, decidiu-se que toda proposição tem um sujeito e um predicado. Decidiu-se também que toda expressão é fruto de uma relação Sujeito-Predicado. Foram os gramáticos que fizeram estas distinções. Dou um exemplo:
João lê.
João é leitor.
A ideia de ler (ser leitor) cabe à ideia de João. O verbo principal da gramática tradicional é o verbo “ser” (pensamento ontológico”). E daí viram as noções de sujeito e predicado. Em seguida os gramáticos se depararam com situações como
Chove.
Amanhece.
São situações em que o predicado não tem lugar para um argumento. Como é que fica a definição anterior: toda expressão é fruto de uma relação… Adaptada à língua portuguesa, esta questão receberia classificações como sujeitos simples, sujeitos compostos, sujeitos indeterminados e… sujeitos inexistentes, cuja existência desfaz a definição dada!
Chegando agora à questão que eu considero importante: no processo de pensar/definir tudo isto ninguém nunca disse que haveria seriação. Ou seja, nunca se fez separações seriadas. Não foi estabelecido que o processo de conhecimento referente à expressividade do verbo “ser” seria na quinta ou na sexta série. Nem ninguém naquele processo estabeleceu que se poderia conhecer a inexistência de sujeito de CHOVE na sétima ou oitava série. Foi a Escola quem tomou decisões nesse assunto. A seriação, que retalhou o processo de criação de conhecimento, foi uma decisão político-administrativa da Escola (isto é, seus organismos políticos). É importante que nós nos lembremos deste aspecto, na medida em que quisermos fazer trabalhos didáticos de criação/construção de conhecimentos.
Nota
Texto publicado como Cap. III de Contribuições da interdisciplinaridade para a ciência, para a educação e para o trabalho sindical, de Adriano Nogueira (coedição da APP (sindicato dos professores do Paraná) e a Editora Vozes em 1995), é a transcrição de uma aula ministrada no programa de educação continuada do sindicato dos professores do estado do Paraná, em que nos envolvemos, além do próprio Adriano Nogueira, Carlos Arguello (físico), Eduardo Sebastiani (matemático), Paulo Freire (educação) e eu.

por José Kuiava | jul 4, 2018 | Blog
Como é o mundo em que vivemos? O mundo que construímos individualmente e coletivamente com os outros? Como é o mundo que, bem ou mal, formamos? Estamos satisfeitos e contentes com a sociedade que formamos? Como é o Estado que nos escraviza e devora os impostos sem fim que pagamos diuturnamente? Até quando vamos ter um governo golpista que não elegemos?
A primeira imagem que vem aos olhos e a sensação cerebral e corporal que sentimos é que vivemos num mundo do entretenimento virtual. Assim, somos reduzidos, dominados e informados pelo mundo da produção, mundo do comércio e da mercadoria, mundo do consumo sedutor, mundo da publicidade e da propaganda, mundo da democracia eletrônica, mundo da espetacularização das tragédias – naturais e humanas – ao vivo pela mídia televisiva e pelas redes sociais.
Neste mundo tudo vira mercadoria: primeiro de tudo, os bens materiais para garantir nossas vidas, produção e reprodução biológica das nossas vidas em condições de saúde, conforto, segurança, bem-estar – comida, bebida, moradia, móveis, equipamentos domésticos, vestimenta, transporte, comunicação, lazer, entretenimento televiso e virtual… Além das mercadorias vitais, temos o mundo sem limites da moda, da estética corporal – vestimentas, calçados, penteados, óculos, pinturas… Até as obras de arte viraram mercadorias – pintura, escultura, música, dança… Aí, os esportes também viraram mercadorias – futebol, tênis, vôlei, basquete, fórmula 1, fórmula Indi, natação… As doenças viraram mercadorias altamente produtivas, os crimes bárbaros estão se constituindo em mercadorias extremamente onerosas para o Estado. Enfim, o estudo e a educação escolar viraram mercadoria – creches, escolas, colégios, cursos profissionalizantes, vestibulares, universidades… A ciência e a tecnologia são mercadorias de difícil alcance. Assim, nesta sociedade do consumo, o dinheiro virou a força e a glória do bem-estar.
O pensador, cientista social e professor emérito da Unicamp, Octávio Ianni, escreveu e advertiu ainda no final do século passado: “Nesse mundo virtual, criado por meio da manipulação de tecnologias eletrônicas, informáticas e cibernéticas, forma-se a mais vasta multidão solitária. Espalhada pelas diferentes localidades, nações e regiões, em continentes, ilhas e arquipélagos, são muitos os que se transformam em criações da mídia televisiva, na qual muito do que ocorre no mundo revela-se entretenimento , publicidade, consumismo, espetáculo”. Para confirmar este mundo virtual, Ianni recorre ao escrito de Julian Steallabrass: “No agora eletrônico, indivíduos isolados, anônimos, mas presumivelmente bem informados,podem reunir-se sem o risco de violência ou infecção, engajando-se em debates, troca de informações ou meramente não fazendo nada”.
Quando vivíamos as benesses do Estado do bem-estar – anos dos governos Lula e Dilma – o bem-estar e o bem-viver eram mais acessíveis para as grandes indústrias e grandes empreendimentos comerciais – oligarquias e monopólios nacionais, transacionais e multinacionais – até para as massas mais pobres. As políticas de governo garantiam a produção de grandes estoques de mercadorias, o controle de preços, a organização do trabalho, acesso de afro-brasileiros e indígenas às universidades públicas pelo sistema de cotas e o fim da pobreza ao extremo mediante o programa “bolsa família”.
Assim, todos éramos mais felizes do que nos anos anteriores dos governos tucanos. E o que aconteceu com o golpe do impeachment e está acontecendo com o governo golpista Temer? Temos políticos de um governo que corta drasticamente os encargos sociais, tira dinheiro da saúde, da educação, das universidades, reduz os impostos sobre o alto capital e as fortunas, aumenta os impostos sobre o médio e pequeno comércio, sobre a renda individual e o trabalho, impõe reformas trabalhistas para quebrar o poderio dos sindicatos e, o que é pior, instaura um vasto e danoso programa de privatização do nosso patrimônio público, abolindo o controle estatal sobre o fluxo financeiro dos conchavos rentistas.
Hoje, não há 3% dos brasileiros satisfeitos e felizes com este estado de vida. Éramos todos mais felizes e não sabíamos?
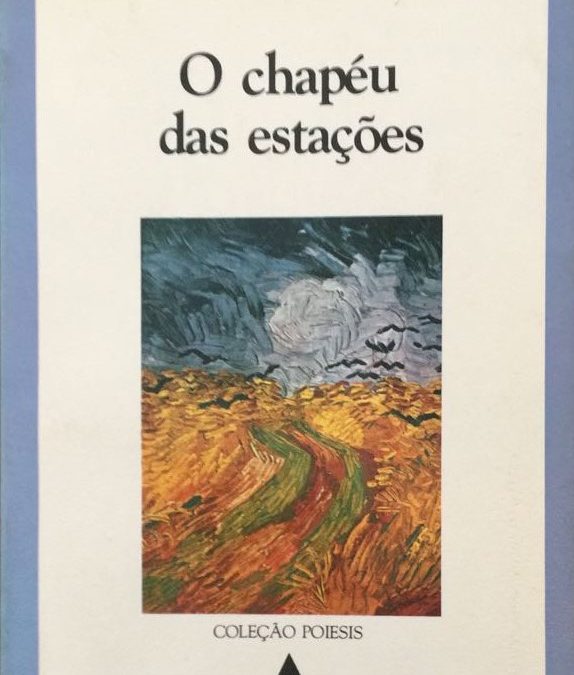
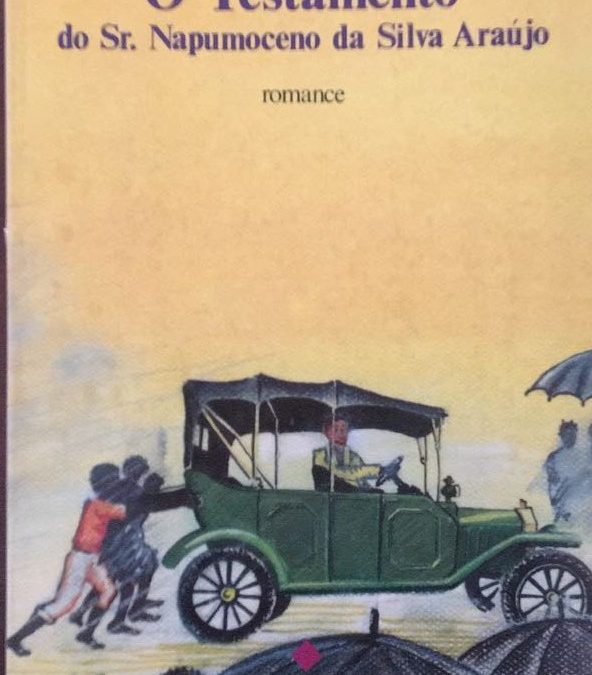

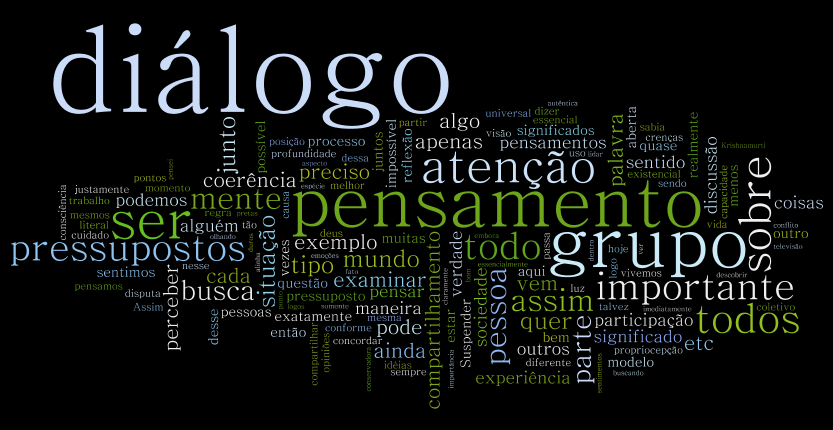

Comentários