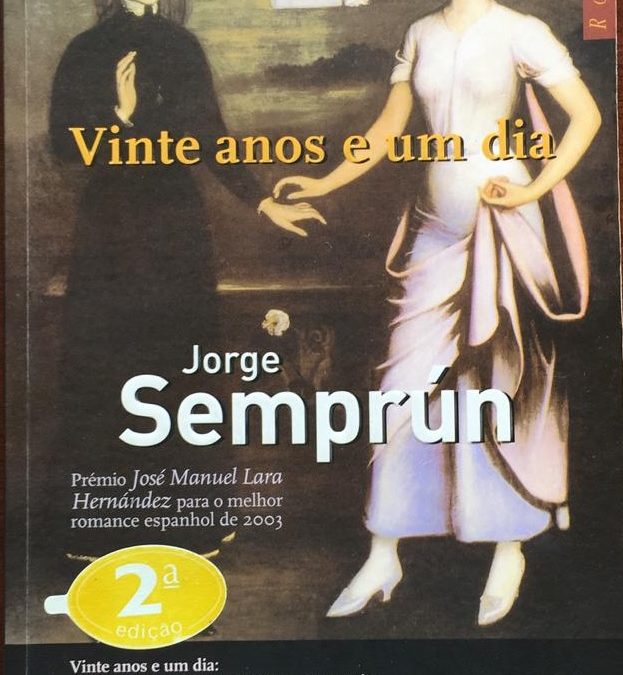
por João Wanderley Geraldi | ago 4, 2018 | Blog
Jorge Semprún é um escritor nascido em Madri (10.12.1923), filho de diplomata do governo republicano, fato que os levou ao exílio em 1939, tendo vivido os tempos do fim da Guerra Civil Espanhola na Holanda e depois se fixando na França, onde completou seus estudos de filosofia, incluindo o doutoramento. Participou da Resistência Francesa na Segunda Guerra, tendo sido preso e enviado para os campos de concentração de Auxerre e Buchenwald (1943-45). Foi tradutor e jornalista e estreou na literatura com o livro A longa viagem. Por muitos anos foi ativista político na clandestinidade. Embora natural da Espanha, a maioria de seus livros foram escritos em francês. Entre 1988 e 1991, foi Ministro da Cultura da Espanha no governo do socialista de Felipe González.
Neste Vinte anos e um dia, escrito em língua espanhola, os acontecimentos referem à Guerra Civil e tem como ponto de partida um rito expiatório que o dono de terras e homem do regime de Franco faz cumprir anualmente, em 18 de julho, rememorando a morte de seu irmão José Maria Avendaño que fora assassinado pelos campesinos da fazenda (quinta) em sua revolta nos começos da guerra civil, em 1936.
A partir desta história-base do assassinato, que se repete na voz de inúmeros narradores ao longo do enredo do romance, a cada vez se acrescentando detalhes e novas informações, particularmente a voz de Saturnina, a velha empregada que nasceu, viveu e serviu os Avendaño a vida toda. Ela foi a grande informante da personagem Michael Leidson, o historiador norte-americano que se dirige a Quismondo (na região de Toledo) para assistir à última representação da cerimônia, que se daria a 18 de julho de 1956 (vinte anos depois do ocorrido). Mais tarde retorno à Saturnina e ao papel que exerce na estrutura do romance.
O entrecruzamento dos fatos e os encontros das diferentes personagens desvelam também suas diferentes posições em relação à guerra civil, e ao regime franquista que persiste e cuja polícia política continua a perseguir opositores e, principalmente, membros do Partido Comunista Espanhol, banido da vida política, mas presente em sua clandestinidade, com seu comitê central em Paris ou Praga, donde recebem os militantes as orientações políticas.
Com estas cerimônias, queria o proprietário e “pater família” José Manoel Avendaño inculcar nos camponeses e nos empregados da fazenda a culpa eterna e de classe por terem se revoltado e terem matado seu irmão, na verdade o único membro da família que era liberal e mais próximo dos republicanos do que imaginavam os revoltados
Com efeito, todos os anos, depois da guerra civil, a família – a viúva, os irmãos do defunto – organizava uma comemoração no próprio dia 18 de julho. Não apenas uma missa ou coisa do gênero, não, uma verdadeira cerimónia expiatória, teatral. Os camponeses da herdade tornavam a repetir aquele assassinato, a fingir que o repetiam, claro. Tornavam a chegar em tropel, armados com espingardas, para matar outra vez, de uma forma ritual e simbólica, o dono da propriedade. (…) eram imersos todos os anos naquela memória colectiva, culpabilizados por ela. Não tinham sido os assassinos de 1936, mas a cerimónia tornava-os de certa forma cúmplices daquela morte, obrigando-os a assumi-la, a torna-la de novo presente, activa.
A família, no entanto, havia decidido: esta seria a última cerimônia. Na véspera recebem o recado de que os campesinos se negam à representação. E então, diferentemente dos anos anteriores, não haveria a encenação dramática dos acontecimentos tão longínquos tanto para os campesinos quanto para os filhos do assassinado, Lorenzo e Isabel. Desta feita, a cerimônia seria apenas religiosa, com o translado dos restos mortais de dois falecidos de Quismodo: José Maria e Chema, El Refilón, líder da insurreição dos campesinos, falecido no presídio de Burgos. A pretensão era deixar os dois na mesma tumba, representando os dois lados da mesma “nossa guerra”. Para que conversassem pela eternidade (obviamente, uma remessa à necessária pacificação do país dividido pela guerra civil).
Para a cerimônia comparecem inúmeros personagens: a família toda – José Manuel, o chefe da clã e homem do regime; a viúva Mercedes Pombo, Raquel a fiel escudeira de Mercedes e importante personagem do casamento de Mercedes e Josemari; os filhos gêmeos Lorenzo e Isabel; o convidado norte-americano Leidson; Benales, o bibliotecário da herdade; o comissário da polícia política, Dom Roberto Sabuesa, além de toda a população de Quismondo. Como em todos os anos, depois das cerimônias, seguia-se um almoço oferecido a todos os presentes.
Mas há outro elemento que acompanha todo o enredo. Trata-se da relação amorosa entre Mercedes e Josemari. Quando ela anunciou a seu confessor o futuro casamento, foi submetida a uma intenção preparação moral e teológica, fundamentada essencialmente no estudo dos tratados agostinianos mais diretamente relacionados com as questões do casamento cristão: De bono conjugali e De conjugiis adulterinis.
Mercedes ouvia as lições mas não tinha coragem de perguntar ao confessor a que remetiam “o uso bestial do casamento” ou o que fosse “o desejo voluptuoso”. Coube a José Maria, o noivo, encontrar saídas para com tato explicar-lhe a concupiscência e jogos amorosos possíveis durante o noivado, já que havia um “contrato de casamento” entre ambos:
De modo que, meu amor, prosseguia José Maria, entregando-me o teu corpo e cada um dos seus orifícios, excepto o da procriação, não só cumpres com uma das obrigações do pacto matrimonial, que constitui apenas um pecado venial – e de que além do mais gostamos –, como, e di-lo taxativamente o tratado de Santo Agostinho, me permites fugir do pecado mortal da fornicação ou do adultério, ao evitar ter de procurar o prazer com outras mulheres, quer sejam casadas infiéis ou simples meretrizes.
Há, portanto, um namoro e noivado fora do seu tempo, afinal estamos nos anos 1930! Depois do casamento, na viagem de núpcias, os jogos amorosos permanecem os mesmos, sem desvirginamento. Somente numa manhã, em Nápoles, enquanto José Maria tem um encontro com Benedeto Croce, Mercedes se dirige ao museu Capodimonte e lá se extasia diante de uma obra de Artemísia Gentileschi (1593-1653): a cena de Judit e Holofernes, episódio bíblico tema frequente de muitos pintores da Renascença. Olhando para Judit e seus seios quase inteiramente à mostra, observando a criada que acompanha a degola de Holofernes, decide-se Mercedes a entregar-se a seu marido José Maria, razão por que, de retorno ao hotel, desistem ambos do almoço e saem para o quarto. Nele está uma empregada do hotel, Luciana, realizando suas tarefas. Enquanto José Maria vai ao banheiro, Mercedes convence-a a esconder atrás das cortinas e a tudo assistir e depois tomar parte ativa nos jogos amorosos (abre-se aqui o voyeurismo ou mesmo a “ménage à trois” que acompanhará a vida sexual do casal Mercedes/Josemar). Serão vários os parceiros, inclusive um fotógrafo (Timoty) com quem se encontram agora já em Biarritz. A parceira que permanecerá junto à Mercedes, mesmo depois de sua viuvez, será Raquel, uma empregada da Herdade em Quismondo.
Assim, um duplo se faz presente em toda a obra: a morte de Josemari e a morte de Holofernes, num triângulo apontado pela pintura de Gentileschi! A primeira será sempre rememorada para que os empregados se reconheçam como culpados; a segunda será o modelo de uma vida de relações sexuais triangulares, mas com algo muito específico: Holofernes é morto depois de desvirginar Judit; Josemari é morto ainda na “viagem de núpcias” tendo tido poucos encontros sexuais reunindo Mercedes, Raquel e ele. Há aqui um entrecruzamento entre sexo e morte.
O romance remete a três tempos distintos: aquele da guerra civil (1936, ano da morte de Josemari e da revolta dos campesinos da herdade); aquele do regime franquista em seu pleno vigor e da perseguição aos “vermelhos” (1956) e por fim, quase trinta anos depois, 1985, no encontro entre dois personagens essenciais da trama: Leidson, o historiador norte-americano e Federico Sánchez, líder do partido comunista espanhol com atividade clandestina intensa na Espanha (não estava no exílio).
Estruturalmente, o romance circula nos dois primeiros tempos e os episódios envolvem ora uns, ora outros dos personagens. Por exemplo, Dom Roberto Sabuesa, da polícia política, aparece no romance não só para mostrar a repressão política do regime, mas também para dar a ver a existência da esquerda que ele persegue com afinco: vai à herdade com a desculpa de participar da cerimônia, mas de fato para tentar obter de alguma forma que Lorenzo, estudante que havia participado de manifestações em fevereiro daquele ano, indicações para chegar ao “cabecilha” da manifestação, segundo sua percepção, Federico Sánchez!
Voltando a Saturnina, cuja voz é a que se ouve mais uma vez no último capítulo narrando os acontecimentos de 1936, permanece sempre na herdade, mantém sua história, de tudo sabe: acompanhou tudo, desde o fundador, o Índio que se torna dono da herdade de uma forma um tanto obscura – talvez num jogo de pôquer – e também dono da mulher do perdedor, seu primo; segue com os três filhos – José Manoel, José Ignacio e José Maria; mantém-se como fiel empregada durante todo o período da viuvez de Mercedes até que esta vende a propriedade em função do acontecimento trágico do suicídio de seus filhos gêmeos, Isabel e Lorenzo, apaixonados um pelo outro e que passam a viver como marido e mulher até o suicídio. Neste sentido, Satur representará a permanência, a memória, a guardadora das histórias. Por outro lado, há o movimento constante, o ir e vir das personagens, as lembranças (que incluem para o historiador a primeira vez que ouve do toureiro Domingo Dominguin a história da morte de Josemari e das cerimônias anuais, comparecendo à última delas). No almoço sempre lembrado pelo historiador estava também Hemingway, escritor da resistência no regime franquista. Aparece no romance outro escritor: Federico Garcia Lorca, que num dos encontros lê a obra que acabara de compor: A casa de Bernarda Alba.
Estas referências cruzadas – note-se que a questão de virgindade é o tema de Lorca na obra citada, mas é também o tema de Judit e Holofernes, e de Mercedes e Josemari – que vão aparecendo no enredo, como referências a inúmeros pensadores, sobressaindo-se Ortega y Gasset.
Cruza toda a história o segredo de quem é o Narrador que inúmeras vezes se dirige ao leitor, atando com ele laços de cumplicidade, isto é, o excedente de visão de que dispõe como narrador e que compartilha com o leitor, mas não com as personagens. Tomemos um exemplo quando o Narrador, este “desconhecido” se refere ao fato de não poder recuperar qual fora a conversa entre Josemari e Benedetto Croce:
Por esta altura, com efeito, não é possível, e com os elementos que temos à mão, suprir, com o recurso a algum artifício narrativo, aquela falta de atenção de Mercedes: temos de nos submeter ao funesto mas imperativo contexto da situação.
É que estamos a referir-nos às peripécias daquele dia napolitano a partir das lembranças de Mercedes, privilegiadas, sem dúvida, porque a sua memória é única, insubstituível, uma vez que José Maria morreu. Nestas circunstâncias, desaparecido ele, amnésica ela – pela culpável distração durante aquele almoço napolitano -, temos que renunciar ao conteúdo da discussão entre Avendaño e Croce, e deixar que mergulhe no esquecimento, por muito interessante que pudesse ser.
Somente depois de metade da narrativa, começa o leitor a desconfiar que o narrador é Federico Sánchez, o líder comunista. E no final do romance, desvela-se este como o narrador efetivo de toda a história que resolveu escrever precisamente quando, em visita a um museu está frente a outro quadro que retrata a degolação de Holofernes!
Uma nota necessária: o título “Vinte anos e um dia”, ao mesmo tempo que faz referência aos vinte anos de cerimônias trágicas na herdade dos Avendaño, remete às condenações judiciais dos opositores ao regime franquista, particularmente os comunistas: eram sempre condenados a 20 anos e um dia de reclusão!
Não conhecendo ainda informações biográficas do autor, imaginei que Jorge Semprún fosse justamente Federico Sánchez! E isto se confirmou numa consulta a seus dados biográficos: depois de salvo de Buchenwald, dedicou-se à intensa atividade clandestina na Espanha, com o codinome ora de Augustín Larrea, ora de Federico Sánchez. Fecha-se, assim, o círculo: o romance tem muito de autobiográfico, não perdendo, certamente, todo o jogo imaginativo que o cria, embora tenha dito Federico em seu último encontro com Leidson:
– Agora compreenderás – diz a Leidson – por que me é tão difícil, apesar do empenho, escrever romances que sejam de facto, romances; porque a cada passo, a cada página, deparo com a realidade de minha própria vida, da minha experiência pessoal, da minha memória. Para que inventar, quando tivemos uma vida tão romanesca e na qual há matéria narrativa infinita? Ora bem, o romance autêntico é um ato de criação, um universo falso que ilumina, sustém e até pode modificar a realidade. Seria preciso poder dizer como Boris Vian: neste livro, tudo é verdade, porque tudo foi inventado. Eu também gostaria de inventar tudo…
Eis aí uma chave: o autor/narrador nos diz que há muita realidade em seu romance, que se viveu “aquela bonita esperança, mesmo derrotada” de tornar possível um mundo em que inexistissem aqueles que “ao nascer já trazem nas costas o muro dos executados”. Ou dos vencidos…

por João Wanderley Geraldi | ago 3, 2018 | Blog
Agradeço à ABRAPA pelo convite para participar deste Congresso. O próprio convite me surpreendeu porque não trabalho com língua estrangeira, mas com o ensino de língua materna. Some-se à minha falta de competência na área, um pouco de medo porque não domino ínguas estrangeiras suficientemente bem para fazer qualquer contraponto. (1)
Vou basear minha exposição fundamentalmente em um texto de um livro que acaba de sair, e que batizei de “Linguagem, Ensino: exercícios de militância e divulgação”. E seguramente minha fala, aqui, deve-se mais à militância do que à divulgação. Minha pretensão é termos um pouco de conversa sobre algumas questões sobre as quais somente os profissionais da área de ensino de língua estrangeira poderão julgar a pertinência.
Seguramente existem relações entre o ensino de língua estrangeira e o ensino da língua materna, visíveis especialmente para quem está preocupado com a questão da linguagem. Há diferenças, e diferenças que me parecem fundamentais. A primeira delas, a mais visível, é que os professores de português estão ensinando língua materna para falantes da língua. Por diferentes razões, estas sim muitas vezes não visíveis para todos os professores, há um esquecimento deste fato banal e age-se na escola como se tudo o que acontecesse de conhecimento sobre a língua tivesse sua origem no processo de ensino, o aluno partindo de um ponto zero para este processo de aprendizagem. O professor parece que se esquece que está falando em português e que os alunos falam português, que é a sua língua. Os professores de língua estrangeira, ao contrário, fazem grande esforço de incorporar à sala de aula os conhecimentos prévios dos alunos, inclusive aqueles relativos à língua materna, explorando todas as possibilidades de correlação entre uma e outra língua, entre uma e outra manifestação da cultura do povo que fala a língua objeto de ensino.
A correlação que quero explorar situa-se justamente neste fazer pedagógico do professor de língua estrangeira e suas tentativas de aproximar e diferenciar as línguas e as culturas, de um lado aquela objeto de seu ensino, de outro lado a língua materna de seus alunos. Por isso o título dessa minha participação remete à subjetividade e à linguagem, pois é precisamente pelo fato de vocês estarem trabalhando com o Outro, com o que é alheio ao aluno, que a emergência do Eu se torna mais visível e características da língua e cultura maternas se presentificam.
Obviamente o grau de “estrangeiridade” varia. Os professores de língua inglesa se beneficiam pelo fato de seus alunos estarem, de uma forma ou outra, em contato com o mundo norte-americano, quer através dos meios de comunicação de massa, quer através das cantinas brasileiras, onde o aluno come um “X-egg”, expressão abrasileirada de um modus de vida norte-americano. Benefício e prejuízo, porque dos modos próximos é difícil distanciar-se e com a distância reconhecer-se na diferença. Para aqueles que trabalham com alunos falantes de uma variedade dialetal do alemão, especialmente no sul do país, região que conheço melhor, e em que filhos de imigrantes ou descendentes frequentam aulas de alemão, o mesmo problema se coloca, às vezes de forma mais dramática, porque demanda um trabalho de distanciamento e de (auto)reconhecimento à medida que se desenvolve o próprio curso de estudos da língua minoritária. O professor de língua estrangeira trabalha, portanto, com dois grupos de alunos: um representado por aqueles que têm algum tipo de convívio com a língua e a cultura e para os quais o “estrangeiro” é menos distante; outro representado por aqueles que investem precisamente na distância que os separa de seu objeto de estudos (e seguramente de desejos). Excluindo-se a região sul do país, de um modo geral a língua e cultura alemãs não têm grande inserção cultural em nosso meio popular e as grandes influências reconhecidas restringem-se a certa camada da população. Do ponto de vista popular, ao menos a geração que acompanhou através do cinema os ‘heróis’ hollywoodianos da II Grande Guerra construíram falsa visão tanto da língua quanto do povo alemão. Para estes e também para os imigrantes que sofreram perseguições, aqui no Brasil o alemão é uma língua bem outra, estrangeira.
É dessa correlação com o estrangeiro que pretendo tratar em relação à questão da linguagem e da subjetividade. Começo com uma imagem: estamos com um livro que se chama “Palomar”, coletânea de contos do italiano Ítalo Calvino. O primeiro conto, “Palomar na praia” apresenta-nos o personagem central de todos os contos. Ele está na praia e o objetivo de Palomar, sujeito metódico e cuidadoso, é compreender uma onda do mar. E ele começa a observar o mar para tentar entender uma onda. Afinal, como é que uma onda do mar funciona? E observando ondas, Palomar pretende mensurar a extensão de uma onda em particular, porque se vier a compreender uma onda, estará compreendendo as ondas de um modo geral. A “crise” de Palomar começa a emergir quando percebe que lhe é impossível definir quando é que uma onda começa, quando uma onda termina e a outra onda do mar já começou. Afinal, onde está o início e o fim, entre uma onda e outra onda? Palomar, imaginoso, experimenta várias “precisões” e somente abandona a tarefa quando começa a convencer-se de que, com os excessos de mensurações tentados, a onda de fato nasceria da praia e da praia iria ao encontro do mar. Afinal, ela morre ou ela nasce na praia? Questão paralela Palomar vai enfrentar no segundo conto, quando caminhando pela praia, encontra uma mulher tomando banho de sol, de topless. Fica em dúvida sobre o que é que ele deve fazer: se ele pode olhar ou não pode olhar. Se olhar, vai demonstrar preconceito pois o seio exposto chama a atenção, e a exposição e “objeto” exposto não seriam naturais, portanto, para não parecer preconceituoso, ele resolve que deve olhar, e olha mas incomoda-se pois sua solução não lhe pareceu adequada. Volta sob seus próprios pés, passa mais uma vez pela banhista, agora resolvido a não olhar, pois se o seio é parte do corpo humano, é natural e por isso não pode chamar atenção. Mas não olhar não seria não dar ao corpo humano a atenção que merece? Então é preciso que ele olhe, dando ao seio toda a dignidade de “observável” que merece. Entre uma e outra passada pela banhista, várias razões justificam olhar e não olhar. Porque ele não sabe o que decidir, passa a primeira vez e olha, passa a segunda vez e (não) olha, tem que olhar, mas num olhar que inclua o seio numa paisagem maior, como se inclui no olhar o voo de uma gaivota, mas este não é um olhar adequado para olhar um corpo de mulher… Palomar, metódico e hesitante, quando decide olhar fixamente, aproxima-se para deitar o olho sobre o seio, mas a banhista incomodada cobre-se com a toalha e sai da praia. Os gestos de dúvidas do Palomar são gestos que mostram nossos desejos de acertar e nossas hesitações na maneira de nos aproximarmos dos objetos que definimos como aqueles sobre os quais nos debruçamos para estudar. Metódicos, queremos às vezes objetos precisos e precisados; hesitantes, queremos a liberdade do tateio.
Qual é o objeto, afinal, que se estuda quando se estuda a linguagem? O que ensinar quando se ensina alemão? Até onde ler com os alunos uma tradução de Brecht é ainda ensinar alemão, mesmo quando a língua alemã está aparentemente ausente sob a tradução? E até onde, quando eu leio Fausto, numa tradução brasileira, estou lendo alemão? Onde é que termina o alemão? Onde é que começa o alemão? A tradução de uma obra literária alemã ou austríaca para o português e para circulação no Brasil, é ainda alemã ou austríaca? Em que sentidos e em que aspectos? De modo geral, nós não consideramos a leitura de traduções como forma de aprendizagem de línguas estrangeiras. A nossa noção de língua faz um recorte importante no fenômeno da linguagem. Qual é o recorte que nós fazemos quando excluímos as traduções de nossos processos de ensino/aprendizagem de língua estrangeira? Leio poemas de Brecht em tradução do poeta Geir Campos (Poemas e Canções, Civ. Brasileira, 1966). Leio poesia brasileira ou leio poesia alemã? Ou leio ambas num mesmo texto? O convívio com a cultura alemã é parte do ensino de alemão ou não é parte do ensino de alemão? Estas questões nos aproximam dos dramas de Palomar e um professor de língua estrangeira, que se pergunta sobre sua prática, aquela mesma que no discurso didático de sala de aula nos faz aproximar experiências vividas do aluno com o conteúdo que estamos ministrando, percebe que nem sempre podemos nos fiar nos métodos e que as hesitações serão constantes. Porque ensinar o estrangeiro é também ensinar o nacional.
Os métodos estruturais de ensino de língua estrangeira supostamente consideram muito mais o uso pragmático da linguagem. Vou ter que usar aqui parâmetros que não o ensino de alemão, já que eu nunca assisti a uma aula de alemão. Sempre estudei inglês e francês, e muitas destas aulas amostras de uso pragmático da linguagem: saudação, conversas banais entre personagens familiares, diálogo entre cliente e fornecedor etc., todas visando a possibilidade de contato corriqueiro do aluno com a vida cotidiana no país em que se fala a língua que se está a aprender. No momento em que estou fazendo tal tipo de ensino, posso ler com meus alunos um poema de Brecht em português? Esta questão que aparentemente não tem nada com o ensino da fala em alemão, nada que ver com o curso de alemão, na verdade revela um outro ponto de vista sobre a linguagem e um outro ponto de vista sobre as relações relevantes com o estrangeiro, com aquilo que é Outro em relação a nós mesmos. Identificando situações similares, o ensino de “segunda língua” parece querer mostrar diferenças de formas linguísticas, apagando o que é “estrangeiro” e reduzindo-o a formas sonoras.
Penso que Saussure inaugura a linguística moderna do século XX da mesma forma que Palomar queria separar, entender e mensurar sua onda. O mesmo gesto inaugural de Palomar, o gesto inaugural aqui da linguística foi definir o objeto da linguística, a língua. Na esteira desta definição, o ensino de língua também excluiu de todos os nossos estudos, supondo privilegiar a fala, mas desta retendo apenas os diálogos de sobrevivência, o discurso, a cultura e as influências e transferências entre as línguas que resultam da e na construção de uma cultura. Excluem-se do estudo e do ensino “os murmúrios da história” de uma cultura que estão presentes numa língua. Definir o sistema linguístico como objeto de estudos é inaugurar a correlação entre a linguística, as matemáticas e as ciências exatas. Ao fazer este corte na área da linguagem, área típica das ciências humanas, o sucesso da linguística acaba tendo influências na Antropologia e na Ciência Social. Saussure inaugura neste século que chega ao fim, no qual vivemos e nos formamos, um tratamento científico das línguas, depois de séculos de namoros e noivados com as ciências humanas. Casamo-nos com as matemáticas e nos separamos da literatura, nos separamos das ciências sociais, de tal ordem que parece que a língua se torna um objeto frio, gramaticalmente explicável, com um sistema de regras próprias, sem nenhuma característica própria da cultura do povo que fala essa língua. E é possível você fazer descrições de uma língua sem sequer conviver com aqueles que falam essa língua, e fazê-las sem conviver com a sua cultura.
É sabido que o sucesso científico do estruturalismo desse século e a noção de sistema e a sua influência se instauram no ensino de línguas estrangeiras. São exemplos os conjuntos de métodos estruturais e o processo de aprendizagem por analogia e por repetição. Associamos o estruturalismo e a psicologia behaviorista. Separamos o ensino de língua estrangeira do ensino de literatura da mesma língua estrangeira em benefício do ensino chamado inadequadamente de comunicacional e pragmático. O que parece importar é que o aluno de língua estrangeira de um curso bem sucedido saia, a cada aula, falando uma frase a mais, e falando uma frase a mais, aumentaria sua capacidade aparente de dizer a sua palavra em alemão, em inglês ou em francês. Que palavra é essa que diz esse sujeito ao repetir os esquemas gramaticais com os itens lexicais que aprendeu em sala de aula? Até onde essa língua, que supostamente ele está aprendendo, é ainda uma língua do outro, que lhe é alheia?
Mais ou menos na segunda metade do século, Benveniste, levantando a questão da subjetividade, traz de volta a questão do “EU”. São conhecidos os argumentos levantados por Benveniste. Eles se resumem fundamentalmente em cinco grandes questões: as línguas conhecidas dispõem de um sistema próprio, o sistema pronominal, que marca num enunciado que se produz a presença do sujeito que fala; ao sistema pronominal corresponde um conjunto de outros pares como aqui, agora, hoje, ontem, que remete ou ao espaço ou ao tempo, e quem falou, e quando ele falou para eu saber a que espaço/tempo específicos “aqui/hoje” remetem; o terceiro tipo de argumento remete às modalidades – há uma diferença entre eu dizer “X é ladrão” e em dizer “Eu creio que X é ladrão”. Marcas modais do tipo “Pode acontecer X”, “acho que isso”, mostram uma atitude do sujeito diante daq uilo de que fala no enunciado; ao fenômenos de pessoa, tempo, espaço e atitude pode-se acrescentar um quinto fenômeno, par ao qual também chamaram atenção os filósofos da linguagem na esteira de Austin, a existência de um conjunto de verbos que na primeira pessoa do presente do indicativo não descrevem uma ação, mas dizê-los é praticarmos a própria ação que eles descrevem, como ao dizer “eu prometo” estou fazendo uma promessa, desde que cumpridas as exigências próprias do prometer. Com esses cinco argumentos, Benveniste traz de volta para o interior da linguística uma questão que Saussure, tal como Palomar, havia excluído na definição do objeto da linguística, o sujeito que fala e suas opiniões sobre o que fala. Ora, trazer de volta o sujeito para o interior do estudo da língua, já que ele marca a sua presença toda vez que enuncia, é destruir a barra que separa língua e fala, língua e cultura, língua e sociedade.
A importância da questão para o ensino de língua estrangeira já foi sublinhada por pesquisadores da área. O mesmo aluno que dentro da sala de aula consegue dizer em alemão; “Como você vai?”, responde uma pergunta do tipo “Como você vai?”, fora da sala de aula, encontrando-se com um falante de alemão que pergunta “Como você vai?”, diz que não fala alemão e não consegue formular o início de uma conversação, porque dentro da sala de aula, quem fala, repetindo as expressões que aprende, não é um sujeito, mas um personagem, o personagem aluno. Agora, fora da sala de aula, na fila do ônibus, diante de um outro estrangeiro que fala a língua que ele está aprendendo na sala de aula, não está um aluno, mas um sujeito. Não é mais o personagem que fala, mas um “eu” que tem que falar, assumir a responsabilidade pelo que está a dizer. Então, embora o aluno saiba os inícios de um processo de conversação, por exemplo, os turnos iniciativos de uma saudação, embora saiba repetir os enunciados de uma tal situação com perfeição dentro da sala de aula, onde é personagem aluno, onde pode arriscar-se e errar, na fila do ônibus não há mais personagens, há pessoas concretas e o interlocutor pode responder fora do “ritual” previsto e com ele o aluno não saberá negociar sentidos, porque o uso da linguagem envolve negociações óbvias, que nós temos em nossos diálogos, mas aos quais, como aprendizes de uma língua estrangeira com processos baseados em ritos sumários de uso da linguagem, não tivemos acesso.
O retorno da subjetividade como uma das categorias básicas do estudo da linguagem, em seu sentido amplo, é também o retorno para dentro do ensino da língua estrangeira – e do ensino da língua materna – a questão do sujeito que diz a sua palavra, que assume, não mais como aquele que diz aquilo que o outro disse, mas que mesmo usando as mesmas expressões que outro usou, já não é o outro que diz o que está dizendo, é ele que diz o que está dizendo. Mesmo sendo uma frase feita – eu não me arrisco nem em inglês a uma frase feita do tipo “Como você vai?”, “E aí, Paulão, tudo bem?” – são frases feitas com que um eu se dirige a um tu, e dizendo “E aí, Paulão, tudo bem?” está fazendo um reconhecimento e entabulando uma conversação possível com o Paulo. E ao se aproximar e dizer isso, reconhece alguém que se chama Paulo. O eu-falante instaura diante de si como sua contraparte, de quem necessariamente espera o gesto de aproximação ao dito para construir uma compreensão, e que por seu turno espera – e às vezes obriga-se – que fale. Se eu perguntar ao Paulo: “Tudo bem?”, ele pode não dizer nada, mas sob pena de pagar o preço de passar por mal educado. Para aquele que lhe perguntar “Como vai?”, alguma coisa ele vai ter que dizer, mesmo que não esteja com vontade de dizer: “Tudo bem!”, “Oi”, qualquer coisa que diga, e que fundamentalmente significará “eu reconheci que você me reconheceu” e o tom desta resposta pode implicar ainda “não estou a fim de entrar no quadro de relações que você está me propondo”. Ora, conhecer uma língua estrangeira é dominá-la no sentido em que o “EU” possa emergir nas relações com o outro que lhe é estrangeiro.
No que concerne à aprendizagem da língua estrangeira, uma tal perspectiva me parece provocar a seguinte questão: saber uma língua estrangeira não é apenas ser capaz de sobreviver – ainda que a sobrevivência seja fundamental – no meio em que se fala esta língua, dominando vocabulário, estruturas linguísticas e ritos do cotidiano, mas ser capaz de, além de reconhecer estas estruturas e os ritos sociais em que aparecem, construir uma compreensão a propósito da vida que lhe é estrangeira. Isto porque sob a língua subjazem uma formação social, uma história dos sujeitos que a falam e esta história emerge em cada expressão. Qualquer professor de língua estrangeira ou qualquer um de nós que tenha conversado com estrangeiros, para além do “sotaque” mais superficial, percebe a inadequação de certas expressões em certos contextos, embora a expressão possa referir ao que se deseja remeter. Estas “inadequações” são a comprovação de que cada expressão traz em si a história de seus usos, como diria Wittgenstein.
Isto posto, poderemos retornar à questão inicial: ler um poema de Brecht traduzido é já aprender um pouco de alemão, porque a leitura me obriga a considerações a respeito da história e da cultura alemãs. Entretanto, esta resposta assim genérica desconhece outra questão crucial, aquela pretendida pelo poeta, a da universalidade do que diz na particularidade do tema/tempo/personagens. Neste sentido, enquanto pertencente à civilização ocidental, parece-me que a exploração do particular é que nos põe efetivamente diante do diferente, do estrangeiro, para apreendê-lo. Assim, a aprendizagem imediata de algumas estruturas linguísticas do alemão, para sobreviver nas situações comuns de lanchonete, deslocamentos físicos, meras saudações circunstanciais etc. – hoje rituais comuns pela globalização de uma certa forma de viver – podem constituir efetivamente uma introdução do aluno à língua alemã? Na verdade estaríamos nos contentando com a superficialidade formal, de resultados imediatos, em que mais vale a aparência do que a profundidade. Nesta aprendizagem o outro é reduzido a nós próprios e aprender uma língua, neste sentido, apenas prepara sujeitos para o consumo – do turismo, do contato superficial, do aparente. E neste sentido, aquilo que é distante não é atingido, e por não ser atingido, apreender o estrangeiro não altera a compreensão da sua própria história.
Ou seja, a pergunta, colocada em outros termos é: se na linguagem sempre é a subjetividade que se manifesta, segundo a teoria de Benveniste, que subjetividade é essa que se mostra nestas situações paradigmáticas tomadas como “modelares” e “introdutórias” do aluno a uma língua estrangeira? É possível um sujeito que aprende alemão esquecer que é brasileiro [falar a língua estrangeira sem sotaque]? Ou a subjetividade que se mostra no alemão que ele fala é aquela que se esconde sob as formas da indiferenciação?
Elementos para uma resposta a estas questões somente podem resultar da reflexão sobre os objetivos mais amplos da aprendizagem de uma língua estrangeira. Se pensarmos esta aprendizagem como uma forma de conhecer a si mesmo pelo confronto com o Outro, que sendo estrangeiro é constitutivo do EU, obviamente não será pelos caminhos da indiferenciação – ou pela repetição do mesmo que torna o outro nosso espelho – que se atingirá, no processo de ensino/aprendizagem da língua estrangeira, um melhor conhecimento da própria língua e de sua cultura. Acrescente-se, nesta indiferenciação também o estrangeiro e sua língua desaparecem.
A ideia de que eu raciocino em alemão quando eu efetivamente aprendo alemão, não significa que minha história de falante de português desapareça. Ao contrário, do ponto de vista que estou tentando construir – e que não é absolutamente nenhuma novidade – é que o “eu” que aprende uma língua estrangeira já não é mais o mesmo eu que não a conhecia, porque seus processos de constituição se alteraram e, no aprender, outro sujeito emerge. Assim, aprender uma língua estrangeira é modificar-se, alterar-se e constituir-se de forma diferenciada precisamente porque as interlocuções agora possíveis abrem espaços ou horizontes novos de possibilidades. Estar atento a este leque de possibilidades me parece fundamental, desde que se queira ultrapassar a mera possibilidade de “visita turística” ao outro, sua língua e sua cultura.
Assim, à visível “estrangeiridade”- pronúncia, sotaque, inadequações vocabulares, sintáticas e até mesmo temáticas – subjaz esta relação eu/outro, inescapável. Não se trata, portanto, de erro a ser corrigido pura e simplesmente. Trata-se do processo de constituição que aí está se dando, porque tendo nascido brasileiro, a proficiência do falante não exclui, no aqui e agora do uso de uma língua estrangeira, a sua história e portanto a interferência dessa vai estar presente na expressão em alemão, queira ele ou não. Aparentemente, uma tal perspectiva retrocederia na eficiência que se obtém com a repetição, pelo apagamento do “ser estrangeiro” falando uma língua estrangeira, como se a nova língua aprendida fosse como uma segunda língua. Toda vez que ouço a expressão “ensino de segunda língua” , eu me pergunto se assim referir-se ao ensino de língua estrangeira não é querer escamotear o estrangeiro, o diferente, e participar da construção de uma indiferenciação, nela perdendo-se tanto o nacional quanto o estrangeiro. Ser estranho não quer dizer não compreender, ser estranho não quer dizer não sentir.
É óbvio que se o Paulo apertar a unha do dedão e sentir dor, eu não posso sentir a dor do Paulo, mas eu posso sofrer pela dor do Paulo, no sentido de que o outro, a dor que o outro sente, eu nunca vou sentir, mas posso sofrer, até um sofrimento mais pesado, porque cada um sabe a dor que sente. Quem é pai, especialmente “pai coruja” como sou eu, lembra que quando um filho chora, especialmente quando se é marinho de primeira viagem, sofrem-se frequentemente e desnecessariamente. Qualquer pediatra sabe perfeitamente como reagimos, quantas vezes ligamos desesperados e quantas vezes carregamos o filho para o médico “diagnosticando” grande doença para um choro. Quando médico diz: “O nenê está ótimo” a nervosíssimos pais, um misto de alegria e desconfiança nos assalta. Há aqueles que até trocam de médico…
Manter esta estrangeiridade é manter o outro como um parâmetro de nós próprios. Esconder que se é outro é recusar o processo de constitutividade. Do ponto de vista que estou tentando construir aqui, explorar as diferenças é construir identidades e um professor de alemão não pode esquecer as formas com que nós brasileiros não descentes de imigrantes alemães fomos “apresentados” ao povo alemão pelas peças fílmicas sobre a Segunda Grande Guerra. Mas também não podemos esquecer que o Holocausto ocorre na culta Alemanha e não nos países “incultos” da América Latina, como lembra George Steiner em “O Castelo do Barba Azul”. Conhecer-se no estrangeiro é, ao revoltar-se com o Holocausto, reconhecer os holocaustos diários da América Latina, ou, para aproximarmos mais o vivido do passado, conhecer-se na Chacina da Candelária e nos meninos d erua das cidades brasileiras. Conhecer a cultura alemã não é reduzir suas diferenças internas a uma homogeneidade inexistente. Conhecer a história contada é também conhecer a história contida no sofrimento do povo alemão e do povo judeu, porque ao nazismo não se contrapuseram somente os “aliados”. Aos aliados externos somaram-se os aliados internos, pois não há e nunca houve homogeneidade.
Assumir o ponto de vista de que o ensino de língua estrangeira é um espaço de ao mesmo tempo aprender o outro enquanto se aprende a si próprio e admitir por isso mesmo processos de constituição da individualidade não quer dizer ignorar que a subjetividade se constrói sem restrições. Há constrições, há limitações. Quando digo “eu”, uma história individual é tematizada, mas que se realiza no conjunto do seu tempo e seu espaço. Cada um de nós tem uma história individual, mas as nossas histórias são próximas, o que não quer dizer idênticas, porque é nos limites do social que nós construímos a história individual. No conjunto das pequenas opções que fazemos vamos desenhando esta individualidade que se faz na estrutura. Só na história de longo tempo é que verificamos mudanças nos “microcosmos” dos indivíduos e são precisamente estas micro-mudanças que mostram as mil formas de caça não autorizadas, na feliz expressão de Michel de Certeau. Apostar nestas diferenças é apostar que a estrutura tem frinchas, sem se deixar enganar quer pela visão estática de que sempre é a mesma água que passa sob a mesma ponte, quer pela visão de um sujeito dono de si mesmo e de suas ações.
De um lado, não se deixar enganar pela falsidade que é própria da construção da linguística, pois ao olharmos hoje para uma fotografia nossa aos dezoito anos e dizermos “Sou eu nessa foto” é preciso entender que o eu que diz “sou eu” não é mais o mesmo que foi fotografado. Por outro lado, é ao mesmo tempo assumir que neste que foi fotografado está o eu que fui e que este ter sido deixa suas marcas no eu que hoje sou.
Resumindo o que venho tentando defender, a partir da resposta afirmativa à minha própria pergunta: “ler a tradução de um autor alemão é ainda e também aprender alemão?”:
Sim, porque aprender uma língua é também aprender a cultura de um povo.
Sim, porque saber apenas vocabulário, estruturas linguísticas e rituais do cotidiano permitem apenas uma indiferenciação entre aquele que aprende e a cultura e língua estrangeira que aprende.
Sim, porque manter a distância e a estrangeiridade é um modo de compreender a si próprio, sua língua e sua cultura.
Sim, porque os conhecimentos através da própria língua da cultura do outro produz um conjunto de contrapalavras internalizadas que permite uma aprendizagem que ultrapassa a mera repetição de fórmulas já prontas.
Há ainda um outro aspecto do ensino de língua estrangeira que não pode ser deixado de lado. Trata-se do lugar em que está o aprendiz e o lugar que ele deseja ocupar – aquele de falante da língua que lhe é estrangeira e por isso mesmo um novo a aprender. Na expressão de Franzoni, retomando Lagazzi, o “horizonte utópico do aprendiz: o lugar de falante nativo”, falante inicialmente representado pelo professor e através do professor a imagem de um povo que esse representa. Que outro é esse que fala alemão? Para o professor, trata-se de saber que outro é esse que é meu aluno e está aprendendo alemão comigo.
É no contexto das respostas a estas perguntas que os lugares enunciativos são definidos e o discurso que efetivamente funciona dentro da sala de aula, que não se reduz à mera repetição de esquemas previamente prontos, acaba por se definir pelas constrições próprias do processo discursivo da aula. Nesta, apesar dos esforços de um ensino pela repetição, mesmo na repetição não há um “papagaio” que diz o já dito, mas um sujeito-aluno cujo dizer tem uma escuta e por isso mesmo este dizer, frequentemente um murmurar, revela as formas de interação estabelecidas nesse ritual que é a aula.
Como se pode observar, para responder uma pergunta aparentemente simples, o trajeto que fizemos foi assumir a linguagem como espaço de manifestação da subjetividade, afastando a interpretação possível de um sujeito livre de condicionamentos sociais e verificando que são precisamente estes condicionantes que desenham o quadro dentro do qual a subjetividade se constitui. Isso significa que uma teoria sobre o ensino/aprendizagem de língua – materna ou estrangeira – não dispensa uma reflexão sobre questões que lhe são aparentemente externas, justamente porque o objeto próprio desse processo é a linguagem.
Numa tal perspectiva, o ensino e a aprendizagem de uma língua estrangeira, muito mais do que preparar o sujeito para uma visita turística com razoáveis chances de sobrevivência, é o espaço da abertura do horizonte de possibilidades de constituição da subjetividade, porque sabendo outra língua (e cultura), com ela conheço a minha própria língua (e cultura), multiplicando indefinidamente as possibilidades de minha compreensão do mundo e das gentes, no confronto de culturas estando aberto à percepção de que apenas vivemos uma verdade, mas que não há verdade. Não há teleologia. Somente caminhos.
Obrigado.
Nota
O convite da ABRAPA – Associação Brasileira de Associações de Professores de Alemão – para participar do seu III Congresso me surpreendeu, porque não trabalho com o ensino de língua estrangeira, muito menos ainda com o ensino de alemão, língua que, então, desconhecia por completo. Só muito recentemente, em função das minhas netas alemãs, tomei contato mais direto com sua língua e, ainda assim, de forma quase insignificante. O colega Paulo Xavier de Oliveira, que me fez o convite, no entanto, insistiu para que eu falasse sobre as questões que envolvem a relação entre linguagem e subjetividade, já que a aprendizagem de uma língua estrangeira é também um modo de contatar com outra cultura e com outras formas de organizar o mundo, de a ele se referir, com matizes distintos, ainda que compartilhemos, no Ocidente, de uma forma geral, com a mesma concepção ampla de mundo. Como já havia muitas vezes tratado desta relação a partir da concepção bakhtiniana da constituição da subjetividade pela linguagem, a que chamei em Portos de Passagem de “ação da linguagem”, aceitei o desafio desta exposição. O leitor notará a permanência de características da oralidade, pois o texto resulta de uma transcrição de fala. As inúmeras referências a “Paulo”, por exemplo, resultam do fato de que o então presidente da ABRAPA estava na mesa como coordenador. O texto foi publicado nos Anais do Congresso, em 1996, não traz novidades do ponto de vista da teoria que o embasa – ao contrário, retoma, reescreve o já-dito em outros textos – mas incluindo agora a relação com o que é estrangeiro, com o que é de fora, como uma alteridade evidente e necessária – e na cuidadosa edição dos Anais, ao texto segue-se a contribuição de outras pessoas presentes à exposição.
Referências
Benveniste, Émile. Problemas de linguística geral. Vol. I e II. Campinas : Editora Pontes, 1989.
Brecht, Bertold. Poemas e canções. Tadução de Geir Campos. RJ : Civ. Brasileira, 1969.[
Calvino, Ítalo. Palomar. Lisboa : Teorema, s/data.
Certeau, Michel. A invenção do cotidiano. Petrópolis : Vozes, 1994.
Franzoni, Patrícia Hilda. Nos bastidores da comunicação autêntica. Uma reflexão em linguística aplicada. Campinas : Editora da Unicamp, 1992.
Geraldi, J. W. Linguagem e ensino. Exercícios de militância e divulgação. Campinas : Mercado de Letras, 1996.
Steiner, George. No castelo do Barba Azul – algumas notas para a redefinição de cultura. São Paulo : Cia. das Letras, 1991.
Wittgenstein, Ludwig. Investigações filosóficas. S. Paulo: Ed. Abril. Col. Os Pensadores, 1975.
Debate após a palestra
Plateia
Eu gostei muito desta palestra, porque eu acho importante tudo isso no estudo de alemão e ter uma outra visão, porque a gente ouve falar quando se tem uma língua, um aprendiz passando de uma língua para outra cultura, aprendendo um mundo novo de conhecimentos e agora tem uma consciência do próprio mundo, que é uma possibilidade de tomar consciência do próprio mundo, de um conhecer o outro, levando ao mundo o conhecer do outro. Eu vejo uma grande possibilidade, porque é como o Marcos Pereira falou na comunicação dele, que para ele o ensino de língua é uma possibilidade de mudança do outro, é uma mudança no sentido de que ele se reconhece, ele se conhece, ele se encontra com o sujeito. Que o ensino de língua é uma grande tentativa de fazer outro papel. Ele está mudando ações na sua vida, mas continuar os papeis, que é o sujeito que se conhece através do conhecer o outro.
Plateia
Eu gostava de fazer duas colocações. A primeira é sobre a identidade alemã no Brasil. Vocês devem conhecer, eu sou do Rio de Janeiro, eu percebi que existem grupos muito fortes, tem grupos praticantes que buscam a identidade “alemã”, e que buscam textos literários, romances traduzidos, dos poemas literários traduzidos para o português, de textos alemães, austríacos e suíço-alemães. E nós temos acessos a estes textos através das publicações. Na minha adolescência eu li um livro alemão traduzido que era “A Montanha Mágica”, e eu não sabia que o livro era alemão. Depois que li a bibliografia é que fiquei sabendo, bem mais tarde. Li bastante este livro, muito embora ele fosse grande, mas era muito gostoso de ler, e eu não conseguir parar. E foi essa talvez a iniciativa de eu começar alemão, pela sua flexibilidade, muito embora, na época era difícil ter alguma coisa sobre a cultura alemã, pois só na biblioteca é que nós tínhamos acesso a essas coisas. Hoje temos muito mais possibilidade de estudar alemão, não só dentro da sala de aula. E eu penso que o aluno que quer aprender alemão, que se identifica com a cultura alemã, para que ele aprenda e saiba muito sobre as coisas que há em alemão. Muito obrigado!
Plateia
Eu não sou professora de alemão, sou de francês. Achei bem interessante essa perspectiva de que ele estava falando, retomando o início do século, o período inaugural. Nós ficamos preocupadas com o aspecto cultural das coisas, os aspectos ideológicos e das finalidades do ensino de línguas. Eu fui formada basicamente nos anos 80. Então, tivemos uma influência enorme da linguística que procura apagar todo o aspecto ideológico e cultural, e o que foi construído como objeto da ciência virou objeto de ensino. É uma coisa bem complicada para os professores ensinar aos alunos, para ser guia turístico, de restaurante, etc… E o que o senhor nos disse é para trabalhar com textos traduzidos, com aspectos ideológicos e culturais que ficaram muito esquecidos, ficaram ausentes. “Para que ficar trabalhando com literatura?”. Eu penso que agora nós estamos voltando a trabalhar com isso, recuperando tudo isso. Mas nós temos é um trabalho longo, porque há quantos anos estamos trabalhando, nestes 20 anos, desde a década de 70, 80… Porque eu acho muito importante o aluno saber da cultura, da literatura, dessas coisas importantes, pois não é só ficar na sala de aula “falando como um papagaio” e não saber nada.
Plateia
Eu sou professora de francês também. Essa questão do “eu” na construção do outro é como um trabalho de tradução e quem trabalha com cultura e tradução sabe disso. Nós temos a diversidade na universidade, porque o texto é início, mas nós podemos traduzir de várias formas, e aí entra a subjetividade. A diversidade na compreensão do outro.
Wanderley
Você apontou para algo que tentei explicitar aqui com a questão da dor, da experiência humana. É terrível, é uma experiência crucial. Crucial no sentido que comove a todos nós, que nós temos as nossas dores e nossos prazeres. Nós nos habituamos, em alguns séculos de cultura, à cultura cartesiana, partindo do princípio da identidade, em que A é igual a A, do princípio do terceiro excluído, em que “B não é A”. Habituamo-nos a estas formas de raciocínios. Mas se eu disser: “Brasília é Brasília”, nada digo sobre Brasília. É quando trago para o enunciado um terceiro é que eu digo alguma coisa: “Brasília é a capital do Brasil”. “Brasília” e “Capital do Brasil” são duas expressões se referindo ao mesmo objeto. É como se o mesmo real fosse visto de por dois óculos diferentes e fossem unidas no enunciado estar duas visões, e é quando as duas visões aparecem que se diz alguma coisa sobre a mesma realidade. Por isso que falar não é representar os objetos do mundo, mas referir a eles e, portanto, construir sobre eles uma representação, a partir dos parâmetros que nos fornece a própria língua. O tema nos levaria a retomar a questão de que é a diferença que nos identifica. Se a diferença dá identidade a cada um de nós, esta identidade se constrói sobre uma unidade, produto das mesmas constrições e limitações históricas de um certo tempo e lugar sociais.


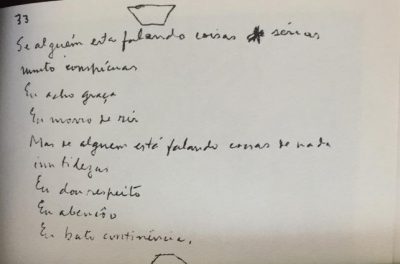
 nada
nada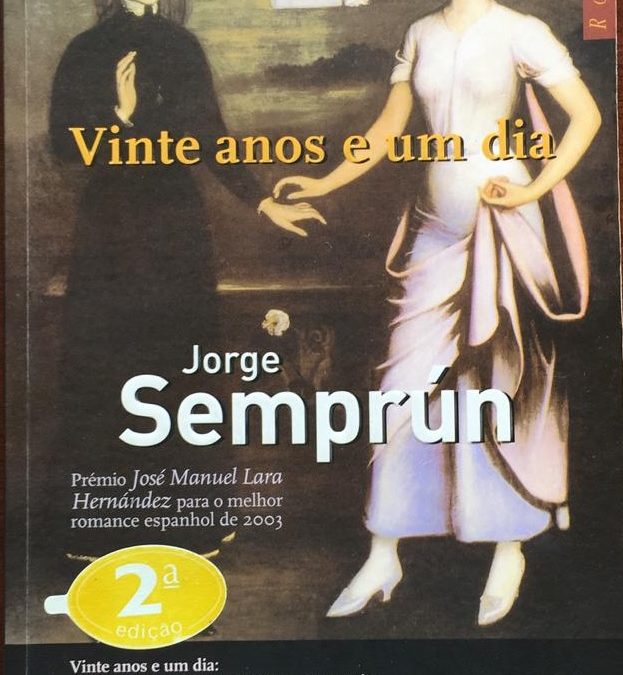


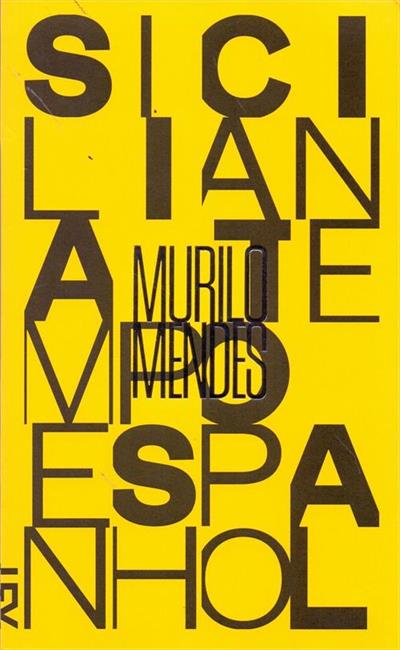
Comentários