
por João Wanderley Geraldi | ago 25, 2018 | Blog
Sempre que termino de ler um livro de Mia Couto e penso em como iniciar este registro, vem-me à cabeça sempre o mesmo enunciado: “Um Mia Couto é sempre um Mia Couto”. Por menor ou maior que seja a história que conta. Neste caso, uma novela curta e densa.
Ainda assim, o enredo se deixa complicar pelas reflexões que traz à tona. Por isso não é simples, ainda que se possa resumir perdendo seu encanto, com palavras poucas. É o que faço para depois retornar ao encantamento da narrativa. Trata-se da história de Zeca Perpétuo, já retirado da pescaria, já velho e “aposentado”. Filho de Agualberto Salvo-Erro. O pai também pescador de alto mar. E em alto mar carregava na canoa uma bela mulher, que o filho via da costa e para quem a mãe virava de costas. Certo dia, a amante cai n´água e Agualberto mergulha buscando a mulher que ama. Canoas e pescadores entram para ajudar. Nenhum dos dois aparece. Depois de muito tempo, Agualberto ressurge entre as ondas do mar. Festejam-no os companheiros, quando a mulher se põe em sua frente, olha-o de corpo inteiro e ao chegar aos olhos grita: os olhos se tornaram azuis, aguaram. Desde então, Agualberto se emborou, para usar o neologismo de Mia Couto.
E ainda menino, torna-se Zeca pescador e tem que lidar com a “orfandade” de pai ausente e com a loucura da mãe abandonada. Tudo isso o leitor vai sabendo porque conta Zeca à vizinha Luarmina (luar + mina, no duplo sentido desta), que sempre lhe pede histórias de sua família. Luarmina fora bela, de descabeçar machos que em seu torno “abutravam” arrastando asas. Agora, já gorda e antigada em anos, vive pacatamente vizinhando com Zeca que é por ela apaixonado e que frequentemente lhe arrasta asas:
– Sabe o que dava jeito? Era a gente os dois nos combinarmos, está a perceber, Dona Luarmina?
– Ajuíze-se, Zeca.
– Faz conta somos verbo e sujeito.
– Já conheço essa sua gramática…
– A senhora, minha boa Dona, nem sabe quanto enriquece minha retina.
A história toda vai nesta toada – “minhas visitas são para lhe caçar um descuido na existência, beliscar-lhe uma ternura. Só sonho sempre o mesmo: me embrulhar com ela, arrastado por essa grande onda que nos faz inexistir. Ela resiste, mas eu volto sempre ao lugar dela. E por entre um futuro que não vem – o futuro há e inexiste – e o passado de feitos reais ou imaginários que no presente Zeca conta, conta… e que Dona Luarmina sempre quer escutar mais.
Desdobram-se assim os episódios: o convívio com a mãe que jamais se diz abandonada e que lhe pede que escreva cartas ao pai embora ele desconheça as letras; a vida do pai a abençoar os anzóis, linhas e iscas dos pescadores que fazem fila na qual entra também Zeca, mas que jamais consegue estar frente a frente com o pai e por isso nunca tem a bênção que dá o pai para os outros; o da morte de Agualberto que pede ao filho que o leve a vários lugares porque não quer morrer num único lugar, quer plantar sua morte em vários terrenos e aproveita este fim de vida para se rearticular com os deuses abandonados no passado a quem deixa, em cada lugar, uma oferenda; a promessa que faz ao pai de sempre levar ao “mar da China”, naquele fundão, presentes e comidas para a amante afogada (e então o pai lhe conta: que nada abençoava, na verdade aproveitava iscas e anzóis para enviar à amada suas oferendas). Mas em tudo que narra, vai guardando um segredo. Um segredo que não esquece por causa das estridentes gaivotas que sempre afugenta a pedradas.
Dona Luarmina, ao contrário, gosta de gaivotas e faz-lhes uma gaiola. De modo que Zeca já não pode dormir. Certa noite, assim incomodado, leva gasolina e fósforo, põe fogo na gaiola e vê as gaivotas morrerem. No dia seguinte, leva seus pêsames a Luarmina, mas culpado que é, acaba confessando que fora ele quem ateara fogo. E no confessar, acaba por contar seu segredo: ele fora casado, uma bela mulher, Henriquinha. Todos os domingos, a mulher saía para a missa. “Aos domingos, em fecho de tarde, ela saía pelos atalhos rumo à Igreja de Nossa Senhora das Almas. Levava seu vestido preto, se afastava com passo de viúva. Olhando aquela mulher, da varanda, me atravessava um arrepio como se aquela marcha desenroscasse os fechos de minha alma. Depois, contemplando a saia eu me conciliava comigo mesmo. Uma esposa assim bela e devotada a Deus era uma agradádiva.
Vieram depois lhe contar: na verdade não ia à igreja, mas ao Morro Vermelho, onde dançava e se despia toda, mostrando sua nudez aos homens que ao pé do monte a desejavam ardentemente. Armadilha então um plano: encontra um velho calendário, coloca-o no lugar do atual, e aparece então um domingo extemporâneo… Henriquinha não compreende, mas acaba aceitando que é domingo e sai. Zeca Perpétuo a segue. E realmente constata o que lhe contaram. Sobe então também ele, desejoso do corpo da mulher, mas a empurra penhasco abaixo ao mar… nunca mais encontrou seu corpo.
Luarmina convida-o a ver seu feito: o resultado do fogo na gaiola. Ele não quer, ela insiste. Acaba indo, escudado pelas costas largas e gordas, não querendo ver. Por fim, mostra-lhe Luarmina uma gaivota que sobrevivera ao fogo. Ele não compreende como! Viva e voando, a gaivota representa Henriquinha…
“Eu me varandeava, olhando o oceano”. O tempo passa, e Zeca começa a ter pesadelos. Já não mais levanta da cama. Não sabe se dorme, se não dorme. Dormindo, o pesadelo o afogava no mar. Muito sua (febre?). Num dia destes, Luarmina o vem visitar. Traz-lhe lençóis novos. Ele confessa: está sendo castigado pelo pai porque não cumprira a promessa de levar presentes e ofertas à amante afogada. Morre afogado em pesadelos: “Mal palpebrejo, a dobra do lençol se cnverte em água e, no instante seguinte, tudo se avermelha e eu desaguo em rios de sangue. Se durmo, me afogo, se vigio me foge o juízo. Me faz falta o sonho, tudo quanto queria era sonhar”.
É então que outro segredo se revela: Luarmina lhe diz que cumpriu sim a promessa. Que a mulher jamais se afogara e que ela era esta mulher! E que Zeca a alimentara o tempo todo com suas histórias.
Seja isso consolo ao moribundo, seja isso verdade da ficção, pouco importa. Zeca Perpétuo morre nos lençóis novos que lhe trouxe Luarmina, sem realizar seu desejo de com ela se embrulhar, e cumprindo profecia do pai: “você há de morrer afogado em lençol faz conta os panos virassem ondas de água”.
Imaginem agora esta história toda contada no linguajar de Mia Couto. Cada capítulo deste Mar me quer, tem uma epígrafe, uma fala atribuída a uma personagem sempre presente em sua ausência: o avô Celestiano. Para uma amostra do estilo de Mia Couto, em lugar de inventariar seus estupendos neologismos, transcrevo as epígrafes:
- Deus é assunto delicado de pensar, faz conta um ovo: se apertarmos com força parte-se, se não seguramos bem, cai. (Dito do avô Celestiano, reinventando um velho provérbio macua).
- Lançamos o barco, sonhamos a viagem: quem viaja é sempre o mar.
- A canoa se fez ao mar, um cisco entrou nos olhos de Deus.
- Chaminé que construísse em minha casa não seria para sair o fumo, mas para entrar o céu.
- O mar tem um defeito: nunca seca. Quase prefiro o pequenito lago da minha aldeia que é muito secável e a gente sente por ele o mesmo que por criatura vivente, sempre em risco de terminar.
- O caracol se parece com o poeta: lava a língua no caminho da sua viagem.
- O coração é uma praia. (Provérbio macua, citado pelo velho Celestiano)
- Quando sentiu que estava morrendo, meu avô Celesgtiano chamou a mulher e pediu-lhe:
– Deixa-me fitar teus olhos!
E ficou, embevecido, como se a sua alma fosse um barco deitado num mar que eram os olhos de sua amada.
– Tens frio?, perguntou ela vendo-o tremer.
– Não. És tu que estás a chorar.
– Chorar, eu? Começou foi a chover.
(Lembrança de minha avó sobre o último instante do velho Celestiano).
Restam ainda alguns comentários sobre os nomes próprios desta novela. Ainda que possam ser nomes comuns na sociedade moçambicana – o que duvido – cada nome resulta de uma composição. Já apontamos para “Luarmina”: luar + mina. Antes de tudo, a lua está longe, inatingível aos desejos humanos, como Luarmina se fez o tempo todo de inatingível para Zeca Perpétuo. Na palavra “mina”, os dois sentidos possíveis: o de joia ou de raridade (beleza), mas também o de mina donde se tiram riquezas, e aí temos uma dicotomia: lua/mina equivalem a alto/baixo; mas mina também pode referir às “minas” (bombas) plantadas no caminho do inimigo (muito comum nas guerras) e neste sentido Luarmina pode ser uma bomba que explode homens. Tomemos agora o nome da personagem principal: este parece ser o único sem referências externas, além do segundo nome: Zeca Perpétuo. Zeca é nome da língua importada, do colonizador e Agualberto havia abandonado os antigos deuses para seguir o deus do colonizador, daí talvez o nome “José” tornado Zeca; Perpétuo fala por si. Pensemos em Agualberto Salvo-Erro: há aqui água + aberto (além do nome Alberto), cuja leitura pode ser “Adalberto do mar, da água” ou aberto à água, já que pescador de mares profundos. Salvo-Erro também fala por si, já que não se salvou da paixão que o acometeu. Henriquinha, nome da primeira mulher de Zeca, para além de “riquinha” em beleza, parece não fazer outras referências. Resta avô Celestiano, que é celeste, que habita o celeste. E que do celeste traz suas sabedorias que aparecem nas epígrafes mas também nas citações que faz Zeca, de que transcrevo:
Em algum lugar, lá n onge, a maré está-se a virar, o oceano se cambalhota na mudança das marés. Enquanto não recebia sinal desse reviramento, ele (Agualberto) se mantinha sem nenhuns modos nem pestanejo. Quem sabe não fala, quem é sábio cala. Como dizia meu avô:
– Diferença entre sábio branco e o preto sabe qual é? O branco responde logo-logo às perguntas. Para nós, pretos, o homem mais sábio é aquele que demora mais a dar resposta.
Por fim, o nome próprio do livro: Mar me quer, que remete de imediato a ação continuada de Luarmina que desfolha em todos os anoiteceres as flores, pétala a pétala, repetindo “mar me quer, bem me quer”, mas que também remete ao mar que “me quer”, sentido que resulta também da história de pescadores e de mortes por afogamento.
Há ainda as ilustrações de João Nasi Pereira. São espetaculares. São oito. Fica-se querendo mais. Numa delas, aparece Luarmina a desfolhar flores no bem me quer, mal me quer… Esta ilustração servirá de capa do livro. Um livro, na edição que leio, de capa dura, no formato de “livro de literatura infantil”. Aliás, eu o comprei pensando que seria um livro para minhas netas! Será, mas num futuro ainda longuínquo…
Referência. Mia Couto. Mar me quer. Ilustrações de João Nasi Pereira. 9ª. Edição, Lisboa : Editorial Caminho, 2000.
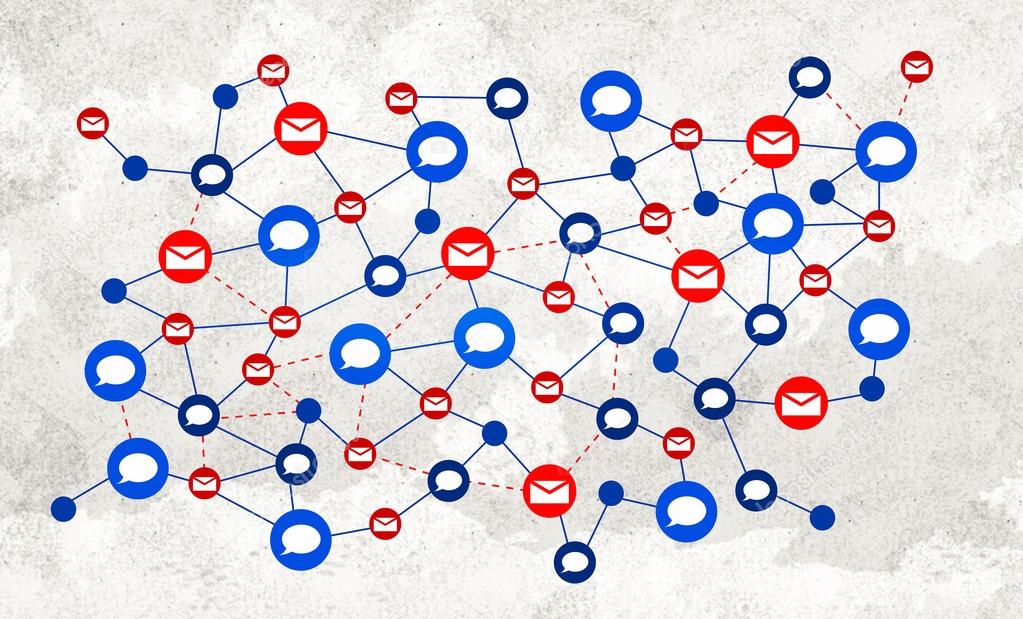
por João Wanderley Geraldi | ago 24, 2018 | Blog
Depois de longo período em que predominou a tecnologia educacional no meio brasileiro, sustentada especialmente pelo projeto de “modernização e desenvolvimento nacional” imposto à nação pelo regime militar, os anos 80 inauguraram, no que concerne ao ensino de língua materna, duas preocupações distintas no meio acadêmico universitário. De um lado, um extenso programa de pesquisa esquadrinhando sob diferentes ângulos, o desemprenho linguístico de estudantes, debruçando principalmente sobre as práticas de leitura de textos e sobre textos produzidos por alunos. De outro lado, inúmeros professores universitários engajaram-se na elaboração de propostas de ensino e no processo de formação em serviço de professores de 1º. E 2º. graus.
O objetivo deste texto é retomar aspectos que fundamentaram as propostas de ensino mais correntes nos país, dando relevo a um de seus pressupostos básicos, a questão da artificialidade no tratamento escolar dado a textos, a partir de elementos de pesquisa obtidos na observação de 1226 horas-aula em escolas de primeiro grau da cidade de São Paulo (2).
Abordagens sociointeracionistas do ensino de língua materna
O desenvolvimento de pesquisas, patrocinado pela criação e ampliação de cursos de pós-graduação no país, desvelou uma realidade educacional que os dados estatísticos estavam sempre a denunciar: para além de legião de analfabetos e do baixo índice escolaridade do brasileiro, a qualidade da instrução ou formação permitida pela escola estava muito abaixo do que esperaria uma sociedade fortemente marcada pela cultura letrada tradicional, no sentido que lhe atribui Rama (1984).
Concluídos onze anos de formação, candidatos aos cursos superiores apresentavam baixos escores de desempenho linguístico em vestibulares e textos produzidos em situação de vestibular (concurso de ingresso ao ensino superior brasileiro) forma tomados como corpora de análises textuais e/ou discursivas e os resultados pareciam revelar inúmeras incapacidades: incapacidade de ler e compreender um texto; incapacidade de formular paráfrases; incapacidade de extrais informações relevantes; incapacidade de manipular recursos expressivos com correção gramatical, entendida esta como domínio da norma culta padrão; incapacidade de distinguir recursos tipicamente orais daqueles próprios da modalidade escrita. Estas, entre outras supostas incapacidades, deixaram em alerta aqueles que defendiam uma “educação humanística”, em que “a educação era uma questão de linguagem: uma questão de falar e escrever, de escutar e de ler, de fazer coisas com as palavras, de introduzir os nossos membros da comunidade num universo de signos cuja encarnação mais eminente era a biblioteca. […] Através de sua iniciação na biblioteca, as pessoas adquiririam uma determinada maneira de entender o tempo humano (um certo sentido de tradição e continuidade no tempo) e uma determinada maneira de entender a comunidade humana (um certo sentido de pertencimento)”. (Larrrosa, 1995:44-45)
As causas de tais “malefícios” variavam segundo o olhar de cada analista, atribuindo-se maior ou menor culpa á escola e seus professores; aos modernismos da “tecnologia educacional” e seus exercícios de múltipla escolha; a uma atribuída facilitação nos processos de ensino e nas exigências postas para aprovações; ou, de outro lado, à depauperização do magistério, seus baixos salários e péssimas condições de trabalho.
No embate entre propostas de ensino, ora apareciam defesas do retorno ao ensino tradicional, centrado em obras literárias clássicas e nas classificações e normatizações gramaticais, ora emergiam soluções mais recentes, inspirando-se essencialmente na Linguística da Enunciação (Benveniste, Bakhtin) e na psicologia sócio-histórica (Vigostki).
A questão acaba merecendo a intervenção do Estado, especificamente depois da “abertura política”, o que se dará através de Planos Curriculares das Secretarias de Educação dos Estados e através de Diretrizes no nível federal, normalmente acompanhadas de projetos de formação de professores. Nestas intervenções, propostas sociointeracionistas tornaram-se hegemônicas, e à noção de interação somou-se a noção de “negociação orientada para determinados fins”, no sentido que lhe atribui Roulet (1985).
Assim é que, da pesquisa linguística contemporânea são retiradas três grandes contribuições para o ensino de língua materna: a forma de conceber a linguagem e, em consequência, a forma como define seu objeto específico, a língua; o enfoque diferenciado da questão das variedades linguísticas e a questão do discurso, materializado em diferentes configurações textuais. Tendo no horizonte estas três diferentes contribuições, as Diretrizes para o aperfeiçoamento do ensino/aprendizagem da língua portuguesa, elaboradas pela Comissão Nacional nomeada pelo Ministério da Educação (MEC, 1986), sugerem um ensino centrado em três atividades: a prática da leitura de textos, a prática da produção de textos e a prática da análise linguística.
No processo das relações de ensino (3) em sala de aula, tais práticas não podem, obviamente, ser tomadas como atividades estanques, mas, ao contrário, interligam-se precisamente na unidade textual, ora objeto de leitura, ora resultado da atividade produtiva do estudante. A reflexão linguística, terceira prática apontada, se dá concomitantemente à leitura, quando esta deixa de ser mecânica para se tornar construção de uma compreensão dos sentidos veiculados pelo texto, e à produção de textos, quando esta perde seu caráter artificial de mera tarefa escolar, satisfazendo necessidades de comunicação à distância ou registrando para outrem e para si próprio suas vivências e compreensões do mundo de que participa.
Para que as práticas propostas não se tornem apenas outro rótulo para atividades tradicionais, é necessário retomar os pressupostos que inspiraram sua proposição, ou seja, retomar as três contribuições essenciais da Linguística ao ensino de língua materna. A compreensão adequada destes pressupostos permite aos sujeitos envolvidos na relação de ensino a construção criativa de situações interlocutivas no interior das quais necessariamente emergem a leitura de mundo, as diferentes formas linguísticas de, aproximando-se do mundo, expressar sobre ele uma compreensão materializada num texto oral ou escrito.
Concepção de linguagem. Mais do que ver a linguagem como uma capacidade humana de construir sistemas simbólicos, concebe-se a linguagem como uma atividade constitutiva, cujo locus de realização é a interação verbal. Nesta relacionam-se um eu e um tu e na relação constroem os próprios instrumentos (a língua) que lhes permite a intercompreensão. Obviamente, nascemos num mundo onde muitos eus e muitos tus se encontraram. E a herança de seu trabalho encontramos não só nos produtos materiais, mas também na própria compreensão destes produtos, e esta compreensão expressa-se ´simbolicamente. A língua é uma destas formas de compreensão, do modo de dar-se para cada um de nós o sentido das coisas, das gentes e de suas relações. Por isso, a aquisição da linguagem, como salienta Bakhtin (1974), dando-se pela internalização da palavra alheia (a palavra do adulto, especialmente da mãe) é também uma internalização de uma compreensão do mundo. As palavras alheias vão perdendo suas origens (ser do outro), tornando-se palavras próprias (internas) que utilizamos para a compreensão de cada nova palavra, e assim ininterruptamente. É neste sentido que a linguagem é uma atividade constitutiva: é pelo processo de internalização do que nos era exterior que nos constituímos como os sujeitos que somos, e, com as palavras de que dispomos, trabalhamos na construção de novas palavras. Também aqui um trabalho ininterrupto. Por isso a língua não é um sistema fechado, pronto, acabado, de que poderíamos nos apropriar. No próprio ato de falarmos, de nos comunicarmos com os outros, pela forma como o fazemos, estamos participando, queiramos ou não, do processo de constituição da língua.
Entendamos o sentido com que estamos usando a expressão palavra. Por certo, trata-se de cada item lexical; mas trata-se de muito mais: das formas internas de cada palavra (os morfemas que as constituem), cujo conhecimento revelamos na construção de novos itens lexicais muito antes de sabermos o que significa derivação (todos nós já convivemos com crianças que combinam diferentes morfemas e constroem novas palavras, às vezes insólitas, por exemplo infantilice com base em meninICE); das formas de combinar itens lexicais para construir frases (regras de combinação que são diferentes na oralidade e na escrita); das formas de construir textos completos, cada vez mais complexos (muito antes da escola, aprendemos a narrar, a relatar experiências vividas, a descrever objetos, a defender pontos de vista, etc.).
Assim compreendida a noção de palavra, aproximamo-nos do seu sentido bíblico de logos, e podemos substituí-la por um termo mais técnico – recurso expressivo. Assim, uma língua é um conjunto de recursos expressivos, conjunto não fechado e sempre em constituição. Estes recursos expressivos remetem a um sistema antropocultural de referências, no interior do qual cada recurso adquire significação. Este sistema, também ele certamente aberto porque histórico, está sempre em modificação, refletindo as mudanças que sobre o mundo vamos produzindo na história e nossas compreensões desta mesma história.
Variedades linguísticas. Como aprendemos a língua no convívio com os outros e como as pessoas se repartem diferentemente na sociedade, a variedade linguística que aprendemos é aquela falada no grupo social de que fazemos parte. Esta variedade é tão complexa como qualquer outra (também ela é um conjunto de recursos expressivos, e portanto com uma gramática própria). Como a repartição dos homens numa sociedade não é absolutamente sem consequências, o acesso a bens da herança do passado se dá de forma diferenciada. Entre estes bens é preciso incluir a variada gama de bens culturais que representam diferentes modos de conceber a vida, as coisas, as gentes e suas relações. Como vimos no item, a linguagem é precisamente esta atividade constitutiva de sistemas de recursos expressivos que remetem ao sistema de referências, isto é, às diferentes e amplas formas de representação. Aprender uma variedade linguística é também aprender um sistema de referências.
Os estudos linguísticos sobre as variedades mostraram, fundamentalmente, a complexidade de cada um dos dialetos (regionais, sociais), suas diferenças e suas semelhanças. Com isso, mostrou-se que a noção de erro não é uma questão linguística estrita, mas deriva da eleição social de uma das variedades como a certa. Não por acaso, esta variedade é aquela falada pelo grupo social que detém o poder (econômico, político, social). E esta variedade foi a base para a construção da escrita, porque na história somente aqueles que tiveram tempo disponível para refletir puderam debruçar-se sobre as formas de falar e num longo processo histórico foram construindo a modalidade escrita.
O estranhamento de uma criança de grupos sociais desprivilegiados, ao entrar para a escola para aprender a ler e a escrever, resulta também do fato de que os modos de compreender o mundo e sobre ele falar são diferentes dos modos a que se habituara nos convívios de que participou. Não se pense, no entanto, que a diferença bloqueie as possibilidades de aprender. Numa sociedade, até para que o poder se exerça, há interferências entre uma e outra variedade. O mesmo aluno que fala diferente é capaz de compreender (e relatar) textos (uma (tele)novela, por exemplo) expressos na variedade considerada certa (dialeto padrão culto).
No processo pedagógico, não se tata de substituir uma variedade pro outra (porque uma é mais rica do que a outra, porque uma é certa e outra errada etc.), mas se trata de construir possibilidades de novas interações dos alunos (entre si, com o professor, com a liderança cultural) e é nesses processos interlocutivos que o aluno vai internalizando novos recursos expressivos, e por isso mesmo novas categorias de compreensão do mundo. Trata-se, portanto, de explorar semelhanças e diferenças, num diálogo constante e não preconceituoso entre visões de mundo e modos de expressá-las.
Como a unidade comunicacional é o texto (que pode ser uma palavra ou uma obra completa), e como a sociedade é complexa, diferentes tipos de textos nela circulam. Cada texto é produzido no interior de um processo interlocutivos. Por isso responde aos objetivos deste processo, é marcado pelos sujeitos nele envolvidos e pelas práticas históricas que forma se constituindo ao longo do tempo no interior de cada instituição social. Assim, um texto oral de conversação durante uma refeição tem características diferentes de um texto oral produzido num debate numa reunião sindical. Porque ambos respondem a interesses diferentes, resultam de atividade de sujeitos envolvidos numa relação diferente (ainda que possam ser os mesmos sujeitos) e submetem-se a regras diferentes resultantes de práticas históricas diferentes (conversar durante um almoço ou defender um ponto de vista durante uma reunião).
Nossa longa tradição de produzir textos foi cirando diferentes configurações para cada tipo de texto, quer orais, quer escritos. Numa sociedade como a nossa, fundamentalmente oral, convivemos muito mais com textos orais do que com textos escritos. Tanto é assim que se chegarmos a uma repartição e solicitarmos a um funcionário alguma informação e ele nos entregar um texto escrito dizendo os procedimentos que devemos adotar para conseguirmos o que desejamos, imediatamente achamos que o funcionário está atendendo de má vontade! A oralidade é uma das características de nossa cultura. Nem por isso, no entanto, podemos nos restringir a esta modalidade linguística em nossas relações. A escrita nos permite uma interlocução à distância no tempo e no espaço e mesmo que não desejemos escrever cartas (ou recebe-las) nem nos aproximarmos das visões de mundo registradas por aqueles que no passado escreveram, vivemos numa sociedade letrada e para nos movimentarmos de um lugar para o outro acabamos necessitando indicações registradas por escrito em ônibus, placas, nomes de bares, etc. Por isso, a vida daquele que não sabe ler, numa sociedade letrada, torna-se mais espinhosa e está sempre dependendo de outro capaz de lhe transmitir as informações de que precisa para sobreviver em sua própria cidade.
Aprender a ler é, assim, ampliar as possibilidades de interlocução com pessoas que jamais encontraremos frente a frente e, por interagirmos com elas, sermos capazes de compreender, criticar e avaliar seus modos de compreender o mundo, as coisas, as gentes e suas relações. Isto é ler. E escrever é ser capaz de colocar-se na posição daquele que registra suas compreensões para ser lido por outros e, portanto, com eles interagir.
Compreendidos os pressupostos que embasam as práticas de ensino propostas, a elas podemos retornar. Centrar o ensino no texto é ocupar-se e preocupar-se com o uso da língua. Trata-se de pensar a relação de ensino como um lugar de práticas de linguagem e a partir delas, com a capacidade compreendê-las, não para descrevê-las como faz o gramático, mas para aumentar as possibilidades de uso exitoso da língua.
O ensino tradicional da língua portuguesa investiu, erroneamente, no conhecimento da descrição da língua supondo que a partir deste conhecimento cada um de nós melhoraria seu desempenho no uso da língua. Na verdade, a escola agiu mais ou menos como se para aprender a usar um interruptor ou uma tomada elétrica fosse necessário saber como a força da água se transforma em energia e esta em claridade na lâmpada que acendemos. Obviamente, há espaço para saber estas coisas todas e há aqueles que a elas se dedicaram e as sabem. Se precisar de uma informação, posso consulta-los. Mas o número de conhecimentos disponíveis na humanidade é imenso e muitas das tecnologias de que dispomos hoje nós sabemos usar, embora não saibamos como elas se produziram nem saibamos explica-las. Ninguém mais é capaz de dominar o conhecimento global disponível. Mas também não temos com as coisas uma relação mágica: sabemos que as coisas podem ser explicadas ou poderão ser explicadas um dia (há muito a saber sobre o mundo). Cada um de nós, em sua área profissional, tem conhecimentos e pode transmiti-los a outros, mas nenhum de nós imagina que todos queiram saber os conhecimentos que caracterizam a nossa profissão. É preciso saber usar eficientemente, e os conhecimentos suficientes para tanto lhe bastam. Ninguém precisa tornar0se especialista em tudo!
O conhecimento gramatical é, pois, um conhecimento necessário para aquele que se dedica ao estudo da língua e ao seu ensino, para que possa exercer dignamente seu ofício de construir situações adequadas para aquele que quer aprender a usar a língua, selecionando inclusive quais destes conhecimentos lhe são necessários. Mas não é um conhecimento, em seu todo, necessário para aquele que quer aprender a ler criticamente e a escrever exitosamente.
Estas perspectivas que devem iluminar as práticas de leitura, de produção de texto e de análise linguística no ensino de língua portuguesa, desde que se queira efetivamente ampliar o número de pessoas que leem e escrevem em nossa sociedade. E ampliar este número é ampliar o exercício da cidadania, com o mais adequado preparo para o trabalho: aquele em que cada um aprende a aprender. Porque ninguém lê pelo leitor, ninguém escrever pelo autor. E para o aluno tornar-se leitor e autor de seus textos não há regra única, porque depende das relações de interlocução que se estabelecem nas diferentes leituras e nos diferentes momentos de produção de textos que, enquanto tais, respondem a objetivos e buscam seus leitores.
A ortodoxia escolar como entrave à prática com textos
Dados de pesquisa de campo realizada junto a quinze escolas de 1. Grau da cidade de São Paulo, estado que mais investiu na formulação de Planos Curriculares e em projetos de formação de professores, observando 1.225 horas-aula das diferentes disciplinas curriculares, mostram que a prática escolar permanece praticamente imutável e que sob novos rótulos continuar-se a copiar, ditar e responder questões superficiais sobre textos dados à leitura ou a corrigir-se aspectos gramaticais na superfície do texto, sem qualquer intervenção que considere as condições de produção e os objetivos da elaboração do texto.
Considerem-se, por exemplo, os dados relativos a episódios de produção de textos registrados nos Diários de Campo pelos observadores (Azevedo e Tardelli, 1994):
Episódios de produção de texto oral 606
Episódios de cópia e ditado 432
Episódios de produção de texto escrito 296
Episódios de circulação de textos 122
Foram registrados como episódios de produção de texto oral as exposições de professores, as exposições (raras) de alunos a propósito de um tema previamente definido pelo professor, os pares pergunta/resposta sobre tema exposto, em que os alunos são levados a responder perguntas formuladas pelo professor e este fecha a sequência repetindo a resposta que toma por certa ou complementando-a, na fórmula apontada por Legrand-Gelber (1988:87).
O professor dirige os turnos de fala. Em toda relação educativa, as trocas tendem a se constituir em três intervenções, o aluno se encontra “ensanduichado” entre uma abertura e um fechamento do professor. Este sistema é geral no diálogo pedagógico. O professor abre a troca por uma pergunta que, utilizando-se a terminologia do Grupo de Genebra, constitui um ato diretor com função iniciativa. Este impõe ao interpelado três obrigações discursivas: reagir verbalmente (um gesto ou uma recusa são improváveis), dar uma resposta (um comentário ou uma pergunta são raros), dar uma boa resposta. A resposta do aluno constitui um ato subordinado com função reativa que pretende satisfazer as três obrigações precedentes. Uma nova intervenção do professor constitui um ato subordinado com função reativa que encerra a troca e o aluno satisfez as três obrigações, há então uma retomada se uma das obrigações não for cumprida satisfatoriamente.
Surpreendente, no entanto, foi a grande quantidade de tempo gasto nas primeiras séries (especialmente na terceira série) com cópia de textos disponíveis em livros-didáticos, dos quais cada aluno dispunha deum exemplar e o ditado de palavras soltas ou de pequenos textos que, uma vez ditados, não eram utilizados para outras atividades que não a verificação do domínio da ortografia e sinais de pontuação por parte do aluno (Silva e Carbonari, 1994).
No que concerne à produção de textos escritos, a grande maioria resultou de retomada de tema de texto lido, sobre o qual o aluno deveria escrever outro texto, resultando na verdade em um pequeno resumo ou em paráfrase mal enjambrada das ideias do texto lido (Teixeira, 1994). Pouquíssimos foram os episódios observados em que a retomada dos textos produzidos pelos alunos, na análise linguística, tenha ultrapassado a mera higienização gramatical da superfície do texto (correções ortográficas, de concordância, de regência ou de coesão), esquecendo-se por completo os processos enunciativos que orientam o trabalho de elaboração textual (Jesus, 1995).
Esses poucos dados empíricos levam à constatação de que as abordagens sociointeracionistas no ensino de língua materna fazem uma exigência muito além daquela para a qual estão preparados os professores, impondo-lhes uma atuação sempre atenta às interlocuções de sala de aula e aos indícios de compreensões dos alunos, com uma capacidade de análise intuitiva da linguagem que os obriga a terem competência de um super-homem (Varlotta, 1996), dificuldade que os faz retornar às práticas tradicionais, para eles mais seguras, encobrindo-as pelos novos rótulos postos em circulação pelos Planos Curriculares oficiais.
Se esta dificuldade é contornável somente por um processo de reflexão sobre a forção do professor e pela mudança radical das condições de trabalho e de salário, outra dificuldade, era de ordem teórica, impõe-se à reflexão. Trata-se de pensar o pressuposto que orientou as propostas de ensino sociointeracionistas que pretendiam ultrapassar a artificialidade das leituras feitas em sala de aula, tirando-lhes o caráter escolar, e a artificialidade dos textos produzidos pelos alunos em contexto escolar cuja destinação não ia além das quatro paredes da sala de aula, destinados a um único interlocutor-leitor e corretor, o professor. Na verdade, esta reflexão deverá retomar “os rituais de sala de aula” e provavelmente assumir que um gênero próprio de texto escrito se constitui em sociedades escolarizadas, gênero que impõe suas próprias constrições à produção do aluno e que não pode ser equiparado ao uso da escrita em outras instituições sociais.
Notas
- A Profa. Cecília Horta foi companheira de trabalho da minha mulher, Corinta Geraldi, no antigo PADES – Programa de Aperfeiçoamento Docente do Ensino Superior, na segunda metade dos anos 1980. Depois se tornou assessora da Associação de Educação Católica do Brasil, que mantém uma revista. Seu último número de 1996 seria dedicado às diferentes disciplinas do currículo de ensino básico. Ela me convidou para escrever sobre a disciplina Língua Portuguesa, e eu insisti para que a revista entrasse em contato com a colega Magda Soares para participar do mesmo número. Foi assim que saiu este texto, que obviamente retoma textos anteriores e que continua insistindo uma abordagem sociointeracionista, de origem bakhtiniana, no ensino da língua materna. E aqui, especificamente, trato de alguns dados produzidos no projeto de Pesquisa, financiado pelo CNPq, com sede na USP, do qual participei e de que resultou a trilogia “Ensino de Português Através de Textos” (Ed. Cortez). O texto foi publicado no número 101, out/dez 1996, da Revista da AEC.
- Os dados aqui manuseados são parte do conjunto mais amplo de episódios registrados pelo projeto “A circulação de textos na escola”, ainda em execução, sob a coordenação geral da Profa. Dra. Lígia Chiapini de Moraes Leite, na Universidade de São Paulo (Proc. CNPq 522849/95-4(NI)) de que participo, tendo orientados os artigos aqui citados.
- Com a expressão “relações de ensino” pretendo retomar uma discussão produzida por Smolka (1988). As relações de ensino constituem-se nos processos interativos de sala de aula, entre professores/alunos e, na emergência destes acontecimentos, modificam-se os sujeitos envolvidos pela compreensão dos objetos e temas sobre que se debruçam e que constroem como verdadeiros conteúdos, previstos ou não, da relação pedagógica. Na tarefa de ensinar, ao contrário, nada de novo emerge do próprio processo. Trata-se de transmitir de um lugar para outro (do professor para o aluno) em blocos fechados e acabados, um conhecimento prévio e já definido. Numa passagem da autora: “A tarefa de ensinar, organizada e imposta socialmente, baseia-se na relação de ensino, mas, muitas vezes, oculta e distorce essa relação. Desse modo, a ilusão e o disfarce acabam sendo produzidos, não pela constituição da relação de ensino, mas pela instituição da tarefa de ensinar. Em várias circunstâncias, a tarefa rompe a relação e produz a ‘ilusão’. Ou seja, da forma como tem sido vista na escola, a tarefa de ensinar adquire algumas características (é linear, unilateral, estática) porque, do lugar em que o professor se coloca (e é colocado) ele se apodera (não se apropria) do conhecimento; pensa que o possui e pensa que sua tarefa é precisamente dar o conhecimento à criança. Aparentemente, então, o aprendizado da criança fica condicionado à transmissão do conhecimento do professor” (Smolka, 1988:31).
Referências bibliográficas
Azevedo, Claudineia e Tardelli, Marlete C. (1994). Escrevendo e falando em sala de aula. In. Citelli, B. e Geraldi, J. W. Aprender e ensinar com textos de alunos. Vol. I, São Paulo : FFLCH/UPS, 1994.
Bakhtin, M. (1974). Observações sobre a Epistemologia das Ciências Humanas. In. Estética da criação verbal. São Paulo : Martins Fontes, 1992.
Jesus, Conceição Aparecida (1995). Reescrita, apara além da higienização. Dissertação de mestrado em Linguística, Unicamp, 1995.
Larrosa, Jorge (1995). Pedagogia, experiência e subjetividade. Uma exploração da experiê ncia do livro e da formação do leitor: a educação humanística. In. Silva & Azevedo (orgs) Reestruturação curricular: teoria e prática no cotidiano da escola. Petrópolis : Vozes, 1995.
Legrand-Gelber, R. (1988) De l1homogénéité du dialogue pédagogique a l’hétérogénéité des interctions didatiques. Chiers de Linguistique Sociale, 12, 1988: 86-88.
Rama, Angel. (1984). A cidade das letras. São Paulo : Brasiliense, 1984.
Roulet, Eddy (1985). Pragmatique et pédagogie: apprendre à communiquer, c’ets apprendre à négocier. Langues et Linguistique, 11, 1985:390-397.
Silva, Ana Cláudia e Carbonari, Rosemaire (1994). Cópia e leitura oral: estratégias para ensinar? In. Brandão, H. N e Micheletti, G. (orgs) Aprender e ensinar com textos didáticos e paradidáticos. Vol. II, São Paulo : FFLCH/USP, 1994
Smolka, Ana Luíza. (1988) A criança na fase inicial da escrita. A alfabetização como processo discursivo. São Paulo/Campinas, Cortez/Ed. Unicamp, 1988.
Teixeira, Elisa. Sobre o que se escreve na escola. in. Citelli, B. e Geraldi, J.W., op. cit.
Varlotta, Yêda Maria da Costa (1996). Capacitação e mudança de desempenho do professor. Ecos de vozes em um discurso tecido na/pela interlocução entre a teoria construída e a experiência vivida. Dissertação de mestrado em Psicologia da Educação, PUC/SP, 1996.

por Mara Emília Gomes Gonçalves | ago 23, 2018 | Blog, Uncategorized
Hoje, vamos fingir que estou em uma sala de aula, e todos os meus leitores agora serão alunos, então vamos fazer uma leitura, meus amados: Uma vela para Dário de Dalton Trevisan.
É um conto muito bom para pensar as relações sociais, é claro que podemos fazer várias observações sobre tipologia, foco, clímax, personagens, e assim vamos…Claro, que alguns de vocês sabem, ou até já presenciaram, que realmente acontece essa coisa de roubo de pessoas que morrem em acidentes, ou mesmo assim como Dário: De repente. Mas o que nos incomoda nesse conto, curtinho, não é isso, são como diria minha ídola da música sertaneja, Roberta Miranda: são tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentimento.
Tudo bem, amigos, voltarei ao que importa, essa obra prima da literatura brasileira que poderia ser apenas lida e trabalhada sem se importar com o que ela movimenta em nós leitores, em nossa humanidade.
Dário, é gordo, tem um infarto, morre, pessoas vão roubando seus pertences um a um, e ao final Dário está só a espera do rabecão. Entre o infarto e a espera solitária se revela a mágica deste texto: a observação dos observadores da saga de morte de Dário. O roubo, o descaso, a incapacidade de se comover, de estender a mão, de buscar em seus documentos socorro ou providências, de pagar-lhe o táxi, de arrastar-lhe até um lugar adequado, de abanar as moscas que tomam a face do homem, de deixar a aliança em sua mão, manter minimamente sob sua cabeça o terno. Ainda assim é preciso registrar que um menino, um menino negro, faz um gesto.
Esse gesto é capaz atravessar nossa descrença, a sensação de que a humanidade e o que importa, ou deveria, que é a vida deve ser preservada, cuidada, enfim. E como gesto é um símbolo: a vela – a luz, o calor, a vigília, a proteção, a mística – é uma fagulha, mas que com os pingos da chuva se apaga, poderia incendiar, mas apaga.
Então temos só a violência, que não é singular, mas plural. Assim, as violências passeiam invisíveis na anuência da sociedade. É claro que nem todos ali roubaram, nem todos pararam para ver Dário, ou mesmo conseguiriam dar socorro. Será?
Leiam o conto, leiam e de novo se emocionem. Confesso a vocês que estou emocionada porque minha intenção é das piores.
Não vamos mais fingir nada.
Prendemos um homem em uma cela porque seria reeleito. Roubamos cotidianamente esse homem, tiramos a companheira, matando-a inclusive, adoecemos esse homem, é preciso dizer: velho. Todos nós assistimos a saga de morte, violentamente assistimos de nossas janelas/internet ou TV, somos como os passantes que atropelam Dário, e rapidamente já buscamos Haddad para seu lugar. Não queremos saber de família, de afeto, da vida, de nada. Em momento algum alguém checou se Dário ainda respirava. Não interessava. Era importante que ele não pudesse reagir.
E num gesto como o do menino negro que trás a vela, sete meninos, não meninos, trazem em sua humanidade agigantada uma greve de fome. É um gesto. Comove-me profundamente porque a literatura me permite saber que apagarão esse gesto. Fome por justiça, 24 dias, parecem anos, logo parecerão uma eternidade.
Em súplica, eu peço: Não vamos deixar que a chuva dos deuses do supremo, com tudo, apaguem as velas.
Amém.

por João Wanderley Geraldi | ago 21, 2018 | Blog
Sardenberg, durante os governos populares (Lula e Dilma) até o golpe, vinha com seus comentários econômicos afirmando o que ocorreria no dia seguinte nos territórios de seu deus, o mercado. Dava sempre ares de bem informado. Mas quase que diariamente tinha que repetir a mesma frase: o mercado não reagiu conforme o esperado. E sempre com os mesmos ares de bem informado pelo mercado, profetizava nova bomba para o dia seguinte, quando novamente teria que dizer “o mercado não reagiu conforme o esperado”. Quem tem ouvidos, ouviu e passou a desrespeitar o comentarista. Menos a Globo que continuou e continua a apostar na sua “competência”…
Acontece que ele sempre quer dar outras tacadas, comentando o que não é sua alçada (aliás, nem a economia é de sua alçada pelos erros de suas profecias, inclusive aquelas de que, afastada Dilma, o mercado floresceria, o emprego estaria disponível para todos, enfim, a felicidade chegaria aos arraiais brasileiros).
Um destes comentários que acompanhei foi sua espinafração ao livro didático que não leu, e de que não se deu o trabalho – como toda a grande imprensa – de virar a página. O tratamento das variedades linguísticas: o respeito pelos diferentes falares preconizado no livro foi espinafrado por este ignorante sobre qualquer coisa a respeito dos fenômenos linguístico. Na época, escrevi-lhe sobre seu artigo publicado no Estadão. Explicava-lhe o que são variedades e pedia-lhe que virasse a página do livro que criticara, pois na página seguinte as autoras, lúcidas, chamavam atenção para as relações de poder envolvidas na linguagem e a imposição do modelo padrão, este mesmo que vive se modificando apesar dos sardentos comentaristas.
Pois mereci uma resposta: “Logo vocês estarão ensinando a falar e escrever errado.” Nem respondi, porque em cabeça dura, mesmo pingando água mole diariamente, nada entra…
Agora ele repete, com aprimorada ignorância, o mesmo estilo. Vem dizer que o Comitê de Direitos Humanos da ONU não significa nada, confunde-o com o Conselho de Direitos Humanos – ambos órgãos da ONU que prestam contas à Assembleia Geral – e vai por diante, para tentar “enquadrar” a compreensão do requerido pelo Comitê: que o país tome as providências para que os direitos do cidadão Lula da Silva sejam respeitados e que ele possa concorrer à presidência nas eleições deste ano.
Aprimorada ignorância mostrada em público tem suas razões: estão em desespero. O golpe, com o Supremo e tudo, somente acumulou fracassos: o fracasso do programa econômico de Aécio Neves, tão aplaudido por comentaristas sarnentos e recusado nas urnas, mas posto em prática pela equipe de Temer; o fracasso na reforma do Ensino Médio; o fracasso da reforma trabalhista em que o acordado vale mais do que o legislado; o fracasso na tentativa de restabelecer o trabalho escravo nas fazendas e nos rincões do agronegócio; o fracasso retumbante na arena política, onde todos fogem de Temer e correm cada um para seu lado; o fracasso no tal combate à corrupção, quando vem à público, pela voz de Tacla Duran, que há negócios na indústria da delação premiada… tudo fracasso!
Mas como eles têm ares de “bons sujeitos” – ao velho estilo de FHC que agora vai o jornal O Globo para mostrar seus receios com o fascismo que ajudou a emergir – estão agora com medo de um governo fascista (que poderá se dar ares de nacionalista) ou de um governo popular. Nenhum deles lhes interessa, por enquanto. Assim que o mercado migrar para o fascismo burro representado por um candidato imbecilizado, os sarnentos e “bons moços” começarão a dizer que não é bem assim, que as propostas econômicas são boas, que haverá com o fascismo garantia de combate à corrupção, etc. etc. A mesma lenga-lenga que ouvimos sempre que alguma política de construção da cidadania comece a ganhar espaço neste país de escravocratas, vivam eles nas velhas casas coloniais, ou vivam eles nos gabinetes dirigentes da indústria, do comércio e da exploração em negócios de atravessadores. Sempre terão na cidade letrada a seu serviço: há sarnentos para tudo e para todos a emprestar pena e inteligência.
Depois, muito depois, como fez O Globo, Sardenberg sairá dizendo, diante dos novos fracassos, ajoelhado ante seu deus, “o mercado não reagiu conforme o esperado”. Esperado por quem? Pelo Senhor, o comentarista de plantão, que não acerta profecia alguma, nem para o bem quando tirou calças e cuecas para defender Meirelles no Ministério da Fazenda, nem para o mal quando previu catástrofes sobre catástrofes nos governos populares de Lula e Dilma.
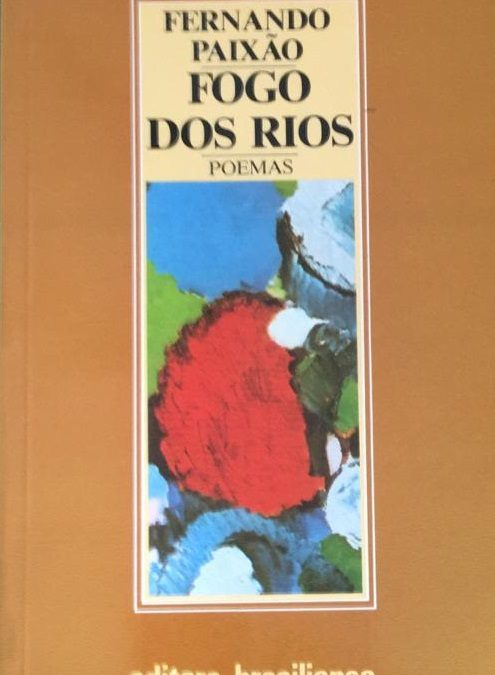
 A lua é da noite
A lua é da noite


 ovo
ovo
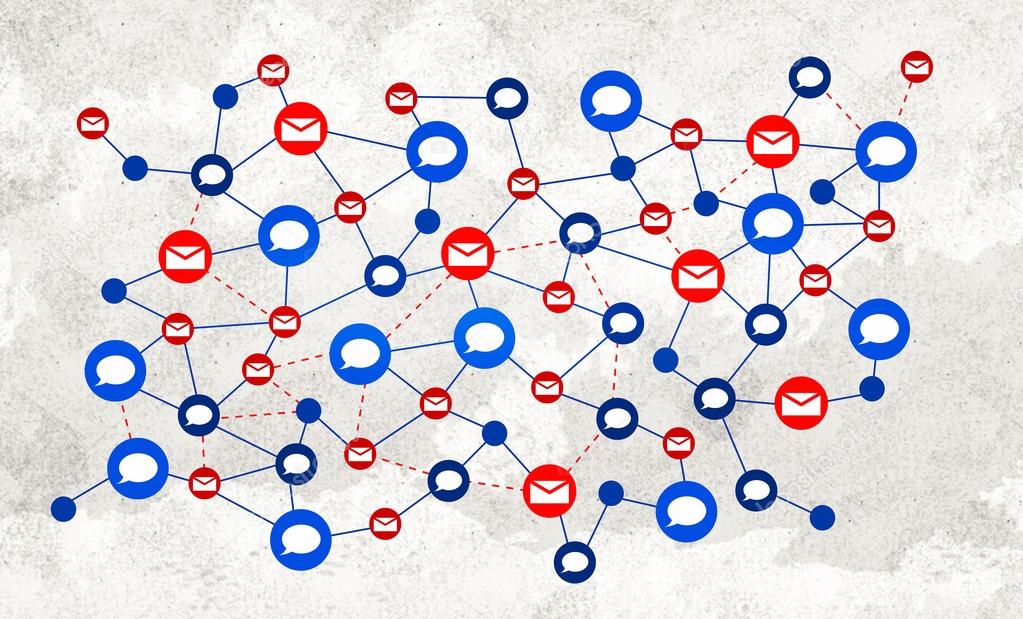



Comentários