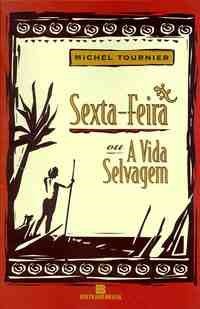
por João Wanderley Geraldi | set 8, 2018 | Blog
Mais uma vez Michel Tournier retorna ao clássico Robinson Crusoé de Daniel Dufoe (primeira publicação em 1719). No alentado Sexta-feira ou os limbos do Pacífico (Difel, 1985), Tournier refaz a história do náufrago e de sua relação com o índio Sexta-feira, praticamente analisando as formas como Robinson manteve sua “civilização” mesmo estando solitário da Ilha Speranza e nela assume diferentes papeis, de general, de governador, de chefe de tudo. A esta vida “civilizada”, Sexta-feira, chegado depois, teve que se submeter.
O que caracteriza o romance é a reflexão que vai fazendo Robinson sobre a necessidade do Outro para se manter civilizado. Por isso escreve leis, por isso escreve sempre em seu Log-book. Ler esta primeira visita de Tournier a Defoe é fazer, ao mesmo tempo, um estudo sobre o homem e sua relação com o Outro. Não por acaso, a edição (brasileira) vem acompanhada de um posfácio assinado por Gilles Deleuze, com o título Michel Tournier e o Mundo sem Outrem.
Em seus dois livros, Tournier não dá o mesmo final que Defoe deu a Robinson. Neste, ele retorna a sua Inglaterra depois de quase trinta anos vivendo no meio do Pacífico. Ao contrário, a Tournier encanta a vida selvagem, este eterno retorno ao “bom selvagem”, ao “paraíso perdido”, a que inicialmente Robinson se opõe:
A vida seguia o seu curso, mas Robinson sentia cada vez mais a necessidade de organizar melhor seu tempo. Ele continuava sentido medo de ser atraído novamente pelo chiqueiro e de se tornar um animal. É muito difícil continuar sendo um homem quando não há ninguém por perto para ajudar! Contra essa má tendência ele não conhecia outro remédio além do trabalho, da disciplina e da exploração de todos os recursos da ilha.
Estão aí as três palavras mágicas da civilização: trabalho, disciplina e exploração da natureza. Neste “Sexta-feira ou a vida selvagem”, há um jogo entre o mundo civilizado conhecido por Robinson e o mundo selvagem de seu companheiro na ilha. Frequentemente há disjunções, mas na primeira parte do romance, quem impõe o seu mundo ao outro é Robinson. Praticamente um trabalho que poderia ser de um servo pago pelo “amo”:
… ele estava contente por ter encontrado enfim alguém que pudesse por a trabalhar e a quem podia ensinar tudo da civilização. Sexta-feira sabia agora que tudo que seu senhor ordenava era bom e que tudo que proibia era ruim. Era ruim comer mais do que a porção prevista por Robinson. Era ruim fumar o cachimbo, passear nu e esconder-se para dormir quando há trabalho a ser feito. Sexta-feira aprendera a ser soldado quando seu senhor era general, coroinha quando ele fazia suas preces, pedreiro quando ele construía, carregador quando ele viajava, batedor quando ele estava caçando, e também sabia agitar o espanta-mosquito acima de sua cabeça quando ele dormia.
Robinson tinha outra razão para estar contente. Agora ele sabia o que fazer com o ouro e as moedas que tinha salvo do naufrágio do Virgínia. Ele pagava Sexta-feira. Meia libra esterlina de outro por mês. Com esse dinheiro, Sexta-feira comprava comida a mais, pequenos objetos de uso corrente provenientes também do Virgínia ou, simplesmente, meio dia de repouso – era proibido comprar um dia inteiro. Ele tinha preparado para si mesmo uma rede entre duas árvores, onde passava todo o seu tempo livre.
Robinson havia salvo do Virgínia toneladas de pólvora que guardava na grande gruta. Sexta-feira, que às escondidas fumava seu cachimbo, certa vez, com medo de ser surpreendido, joga longe o cachimbo, e provoca uma grande explosão na ilha. Com ela, foi-se tudo o que de “civilizado” havia sido construído. A partir de então, inverte-se a relação: “… toda a obra que ele realizara na ilha, as plantações, os animais de criação, as construções, todas as provisões que ele acumulara na gruta, tudo aquilo tinha se perdido por culpa de Sexta-feira. Entretanto ele não estava com raiva. A verdade é que, há muito tempo, ele estava cheio de toda aquela organização entediante e maçante, embora não tivesse coragem de destruí-la. Agora eles estavam livres. Robinson se perguntava com curiosidade o que ia acontecer e compreendia que, de agora em diante, Sexta-feira é que daria as cartas do jogo”.
E então começa realmente a “vida selvagem”, livre da vontade de acumulação e exploração (da natureza e do parceiro). E Robinson, observando Sexta-feira, começa a aprender a viver o cotidiano, em jogos, brincadeiras, caça e pesca, sem preocupações com acumulação e o dia seguinte.
O episódio dos papagaios é muito interessante. Cada palavra que diziam os agora companheiros, os papagaios repetiram, de modo que a vida se tornou uma balbúrdia por excesso de fala. “Nós falamos demais. Nem sempre é bom falar. Nós, araucanos, em nossa tribo, achamos que, quanto mais se é sábio, menos se fala.” Sexta-feira engenha então um sistema de sinais, de modo a não falarem mais e não ecoarem suas palavras nas vozes dos papagaios.
Quando no horizonte aparece o Whitebird e, portanto, a possibilidade de resgate, a ilha é invadida pelos marinheiros em busca de água e víveres. Um deles encontra uma das moedas de ouro trazidas do Virgínia e começa então a civilizada caça ao tesouro. E à custa da natureza, porque eles põem fogo na campina de modo a não deixar escapar nenhuma moeda que disputam a socos.
Robinson e Sexta-feira são convidados ao barco, para um jantar com o comandante. Já de entrada se deparam com uma cena típica do mundo “civilizado”: “Ele tinha dado alguns passos na ponte do navio, quando distinguiu uma pequena forma humana seminua, amarrado ao pé do mastro do traquete. Era um menino que devia ter uns doze anos. Ele era magro como um passarinho despenado, e suas costas estavam listradas de marcas que sangravam.” Era Jean Neljapaev, o grumete que foi solto para servir o jantar…
Enquanto isso, Sexta-feira estava encantado com a embarcação: nunca vira algo tão bonito. Divertia-se. Quando Robinson comunica ao capitão que não iria com eles, Sexta-feira toma um barco, à noite, e volta para o navio feliz com a nova vida de civilizado, sem saber que, na verdade, havendo o tráfico negreiro e a escravatura, seu destino era o trabalho árduo em qualquer fazenda do sul dos Estados Unidos…
Quando Robinson não encontra seu parceiro e verifica que as duas canoas (uma lhes fora dada pelo Whitebird) estão na praia, fica imaginando que Sexta-feira tenha fugido para o navio a nado. Engano seu: encontra Jean, que fugira do navio no barco com que Sexta-feira havia feito o trajeto para a “civilização”. Agora, na “vida selvagem”, estariam lado a lado, o adulto Robinson e o menino livre.
Este jogo com o enredo de Defoe, explorado por Tournier, recoloca o sonho de retorno ao paraíso perdido… e ao mesmo tempo a sedução enganosa das coisas da civilização que encantam e levam Sexta-feira à incivilidade da estrutura social dos começos do capitalismo, em que duas escravidões orientam a vida de todos: aquela dos explorados no trabalho e que constituem “os escravos”, pessoas-objeto da sanha da segunda escravidão, aquela dos homens que se pensam livres, mas que vivem com um único objetivo: a acumulação.
Este retorno de Tournier a Defoe, tanto aqui em Sexta-feira ou a vida selvagem quanto em Sexta-feira e os limbos do Pacífico, não é sem propósito: a paráfrase que modifica o enredo é também uma crítica social profunda ao sistema capitalista de acumulação.
Referência: Tournier, Michel. Sexta-feira ou a vida selvagem. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil. 2001.

por João Wanderley Geraldi | set 7, 2018 | Blog
Compartilhar avanços teóricos, metodológicos e práticos relativos à reflexão sobre a linguagem em sua modalidade escrita, sobre o significado da distinção que a escrita estatui em uma sociedade estruturada sob o signo da divisão, sobre os processos reais ou supostos de sua aquisição constitui-se no objetivo mais ou menos óbvio das discussões sobre o tema. Este texto, no entanto, não se centrará em avanços – que supõem novidades – mas na retomada de alguns temas que me parecem aqueles que mais insistentemente estiveram e estão presentes nas contribuições aportadas por linguistas brasileiros ao debate sobre a aquisição da língua escrita e o ensino da língua materna: a questão da concepção de linguagem e a concepção de sujeito a ela correlata, a questão das variedades linguísticas e a questão do acesso social ao mundo da escrita. Retomo estas questões inspirado pelas abordagens discursivas da linguagem e supondo, portanto, que a unidade linguística básica não é a palavra mas o discurso em sua materialidade social e em sua materialização textual.
Obviamente, o conjunto dos aportes da Linguística para a discussão do processo de aquisição da escrita ultrapassa as questões aqui listadas, especialmente no que concerne a descrições detalhadas de estruturas linguísticas. Por outro lado, seria ingenuidade pensar que a questão da escrita e da leitura em nossa sociedade seja uma questão meramente linguística e que os avanços obtidos sejam consequência apenas de uma aproximação dos estudos da linguagem.
- A questão da concepção de linguagem
Herdamos do estruturalismo francês uma concepção de linguagem como capacidade humana de construção de sistemas semiológicos e, emaranhados na discussão sobre o objeto da ciência linguística, acabamos nos debruçando sobre a língua entendida como um sistema de signos utilizados por uma comunidade para troca comunicativa. A descrição do sistema ocupando o tempo do linguista deste século acabou por relegar a segundo plano a discussão desta capacidade de linguagem que caracterizaria o humano. Filósofos, semioticistas, psicólogos, etc. assumiram, na verdade, a questão como tema de suas áreas, e raramente os linguistas, enquanto tais, discutem a concepção de linguagem que subjaz às análises que acabam produzindo. Delimitados os terrenos, a descrição e a análise dos elementos e suas relações no interior do sistema construíram um “exterior” com o qual, no final deste século, voltamos a dialogar em função das necessidades de construção de explicações para fenômenos internos ao sistema e que nele próprio não encontram seu fundamento.
Historicamente, como sintomas da emergência da necessidade de considerar o “exterior” como interno, redesenhando os limites e objetivos da Linguística, podem ser considerados:
- Os fenômenos da dêixis: pessoa, tempo e espaço expressam-se nas línguas conhecidas através de “signos referencialmente vazios”, demandando a remessa a instâncias discursivas para preencher seus sentidos efetivos. Para Benveniste, marcam a expressão da subjetividade. A partir desta constatação, já não se pode pensar o enunciado sem remeter ao enunciador e pensar o enunciador significa abrir espaços de reflexão antes excluídos da preocupação discritivista da linguística;
- Os fenômenos das modalidades: o esforço teórico para definir as condições de verdade das proposições acabou por elevar os enunciados afirmativos à categoria de modelares já que neles era possível distinguir uma proposição cujo valor de verdade poderia ser calculado. Obviamente, tal redução produziu resultados científicos interessantes e serviu aos programas de pesquisa que aproximaram a linguagem natural à lógica e às linguagens matemáticas, tanto assim que lógicas modais puderam ser construídas a partir do modelo da lógica bivalente. No entanto, uma aproximação intuitiva e pré-teórica às modalizações, a partir de um ponto de vista que não conceitua o significado como resultado de um cálculo matemático, permite, mais uma vez encontrar nos enunciados as posições do sujeito que os enuncia. Reaparece, pois, o enunciador e sua relação com os fatos que enuncia. Para explicar tais marcas linguísticas é necessário abandonar a análise formal para pode compreender como estas relações se constituem;
- Os fenômenos da performatividade: a concepção da linguagem como representação, em que um recurso expressivo se presentificar para “ausentar-se” representando outra coisa [x à y], o pensamento clássico já criticara a partir da noção de reflexividade da linguagem [x¿-à y, onde x¿ mostra a si mesmo, auto s referencia-se e referencia y]. A esta crítica, juntam-se duas outras noções que acabam por exigir a construção de uma concepção não representacionista da linguagem. Trata-se da não-transparência do signo linguístico (ou da sua opacidade) e do fato de que, ao falarmos, não só representamos estados de coisas no mundo, mas pela fala criamos no mundo estados de coisas novos. Fenômenos como o uso, na primeira pessoa do singular e no presente do indicativo, de verbos como “prometer”, “jurar”, “declarar” etc. criam no mundo uma promessa, um juramento, uma declaração etc. Ora, é impossível representar por “x” um estado de mundo que inexistia. E não se trata aqui de um uso ficcional ou estético da linguagem, mas de um uso comum. Benveniste, Austin, Searle acabam por conduzir os estudos da significação para a teoria da ação e, mais uma vez, o externo se internaliza, revolucionando os estudos linguísticos e definindo novos objetos: as regras constitutivas (eminentemente sociais) dos atos que se praticam ao falar;
- Os fenômenos da polissemia e do duplo sentido: higienizando o sistema, para definir um valor a cada um de seus elementos no contraponto com os demais, a Linguística acabou por reduzir a polissemia à ambiguidade (e resolveu esta construindo o número de “entradas” diacríticas necessárias ao estudo do léxico ou multiplicou as estruturas sintáticas de base) e o duplo sentido a usos desviantes da linguagem, de interesses apenas para a escuta psicanalítica. No entanto, no uso corrente da linguagem, “as metáforas que vivemos” (Johnson & Lakoff), os processos de implicitação, os eufemismos e hipérboles etc. não podem ser jogados, por uma decisão teórica, ao cesto do lixo das questões da linguagem. O custo teórico da redução acaba por desfigurar o objeto que se quer compreender. As análises pragmáticas, os estudos da conversação, as contribuições da análise do discurso etc. acabam por desvendar um mundo da linguagem que não se deixa “atravessar” inocentemente. Falar é bem mais do que representar o mundo: é construir sobre o mundo uma representação. E oferece-la ou impô-la ao outro;
- Os fenômenos da polifonia e da heterogeneidade: se a discussão do exemplo clássico “Todos os filósofos dizem que a terra é redonda” permitiu perguntas a propósito do comprometimento do falante com o conteúdo da proposição “a terra é redonda”, – afinal num sentido de dizer, o falante disse a-terra-é-redonda – levou a cunhar os conceitos de uso e menção, as reflexões de Bakhtin quer a respeito do processo sígnico da constituição da consciência enquanto internalização da palavra alheia, que a respeito do jogo de vozes que na “minha” palavra revela a palavra do outro, levaram a uma redefinição do sujeito discursivo como o lugar de uma constante dispersão e aglutinação de vozes, socialmente situadas e ideologicamente marcadas.
Qual o custo deum tal conjunto de questões para a Linguística? Externo ou interno aos diferentes programas de pesquisa, este conjunto fez a Linguística reaproximar-se da filosofia [da linguagem], da psicologia [social, especialmente], da sociologia e da psicanálise, deslocando suas preocupações descritivistas para a compreensão do próprio fenômeno da linguagem e seu funcionamento.
Em consequência, já não se poderia mais apostar num programa de pesquisa que partisse do suposto da existência de uma língua pronta e acabada, muito menos ainda num processo de ensino/aprendizagem que tivesse um objeto de ensino definido previamente sobre o qual se debruçariam o professor e o aprendiz. A lição fundamental a tirar do conjunto de questões [algumas das quais apontadas pelo próprio descritivismo linguístico] é que
antes de qualquer outro componente, a linguagem fulcra-se como evento (Osakabe, 1988), faz-se na linha do tempo e só tem consistência enquanto real na singularidade do momento em que se enuncia. A relação com a singularidade é da natureza do processo constitutivo da linguagem e dos sujeitos de discurso. Evidentemente, os acontecimentos discursivos, precários, singulares e densos de suas próprias condições de produção fazem-se no tempo e constroem história. Estruturas linguísticas que inevitavelmente se reiteram também se alteram, a cada passo, em sua consistência significativa. Passado no presente, que se faz passado, trabalho de constituição de sujeitos e da linguagem. (Geraldi, 1991:5).
Uma concepção de linguagem que investe na singularidade dos acontecimentos, com o deslocamento da noção de representação para a noção de trabalho linguístico, entendendo-se a atividade de linguagem como constitutiva da própria linguagem, das línguas e dos sujeitos, exige incorporar o processo de produção de discursos como essencial, de modo que não se trata mais de descrever/apreender uma língua para dela se apropriar, mas trata-se de erigir os usos sociais da linguagem como objeto de estudos e como processo de apreendê-la. Em segundo lugar, a eleição do acontecimento enunciativo como lugar de produção de língua faz intervir a noção de sujeito e de movimento, de modo que processos como a metáfora e a paráfrase se tornam lugares da ação com e sobre a língua dos sujeitos constituídos pela linguagem, o que implica necessariamente explicitar, de alguma forma, uma teoria do sujeito.
- A questão da concepção de sujeito
O tema da “constitutividade” remete, de alguma forma, a questões que demandam explicitação. Quando se admite que um sujeito se constitui na e pela linguagem, entendendo-se esta também como atividade constitutiva, o que se admite junto com isso? Que energeia põe em movimento este processo? É possível determinar seus pontos alfa e ômega? Com que “instrumentos” ou “mediações” trabalha este processo? Em que sentido a prática pedagógica faz parte deste processo? Obviamente, este conjunto de questões, a que outras podem ser somadas, põe em foco a totalidade do fenômeno humano, sua destinação e sua auto-compreensão. Habituados à higiene da racionalidade, ao inescapável método de pensar as partes para nos aproximarmos de respostas provisórias que, articuladas um dia – sempre posto em suspenso e remetido às calendas gregas – possam dar do todo uma visão coerente e uniforme, temos caminhado e nos fixado nas partes, nas passagens, mantendo sempre no horizonte esta suposição de que o todo será um dia compreendido.
Admitir a noção de constitutividade é pôr sob suspeição a esperança que inspira a construção deste horizonte ponto de chegada, porque a noção de constitutividade da linguagem e do sujeito
- Implica admitir a inconclusibilidade
- Implica admitir a insolubilidade
- Implica admitir o caráter não fechado dos instrumentos com que opera o processo de constituição.
No movimento pendular da reflexão sobre o sujeito, os pontos extremos a que remete nossa cultura situam o sujeito ora em um de seus lados tomando-o como um deus ex-nihilo, fonte dos sentidos, território previamente dado, racional por natureza, onde se processa toda a compreensão. Na outra extremidade, o sujeito é considerado mero ergon, produto do meio ambiente, da herança cultural de seu passado. Produto da história. Entre a metafísica idealista e o materialismo mecanicista, pontos extremos, movimenta-se o pêndulo. E a força deste movimento é territorializada em um de seus pontos. A absorção de elementos outros, não essenciais segundo o espaço em que se situa a reflexão, são acidentes incorporados ao conceito de sujeito que cada corrente professa. Exemplifiquemos pelas posições mais radicais.
Do ponto de vista de uma metafísica religiosa, destinando-se o homem a seu reencontro paradisíaco com seu Criador, de quem é feito imagem e semelhança, os desvios de rota, os pecados, enfim, a vida vivida pro todos nós, tempo de provação, a consciência que, em sua infinita bondade, nos foi concedida pelo Criador, aponta-nos o bem e o mal, ensina-nos do nada o arrependimento pela prática deste e a alegira daquele. Deus e o Diabo, ambos energeia. Impossível um sem o outro, como mostra o “evangelista” contemporâneo José Saramago em O Evangelho segundo Jesus Cristo.
Do ponto de vista de um materialismo estreito, o sujeito na vida que vive apenas ocupa lugares previamente definidos pela estrutura da sociedade, cujas formações discursivas e ideológicas já estatuíram, desde sempre, o que se pode dizer, o que se pode pensar. Recortaram o dizível e o indizível. Toda e qualquer pretensão de dizer a sua palavra, de pensar a motu proprio não passa de uma ilusão necessária e ideológica para que o Criador, agora o sistema, a estrutura, se reproduza em sua igualdade de movimentos. Assujeitado nestes lugares, o sujeito conduz-se segundo um papel previamente dado. Representamos na vida. Infelizmente uma representação definitiva e sem ensaios. Sempre a representação final de um papel que não escolhemos. E aqui a lembrança de leitor remete a Milan Kundera de A insustentável leveza do ser.
Em nenhum dos extremos a noção de constitutividade situa a essência do que define o sujeito. Considera que o sujeito se constitui nos processos interativos de que participa. Elege o fluxo do movimento como seu território, um território sem espaço. Lugar de passagem e na passagem a interação do homem com os outros homens no desafio de construir categorias de compreensão do mundo vivido, nem sempre percebido. Das histórias contidas e não contadas. Dos interesses contraditórios, das incoerências. De um presente que em se fazendo nos escapa porque sua materialidade “inefável” contém no aqui e agora as memórias do passado e os horizontes de possibilidades, uma memória do futuro. Associar a noção de constitutividade à noção de interação é aceitar o fluxo do movimento, cuja energia não está nos extremos, mas no trabalho que se faz cotidianamente, movido pelas utopias, pelos sonhos, limitado pelos instrumentos disponíveis, construídos pela herança cultura e reconstruídos, modificados, abandonados ou recriados pelo presente.
Professar uma tal teoria do sujeito é aceitar que somos sempre inconclusos, de uma incompletude fundante e não causal ou casual. Que no processo de nos compreendermos a nós próprios apelamos para um conjunto aberto de categorias, diferentemente articuladas no processo de viver. Somos insolúveis no sentido de que não há um ponto rígido, duro, fornecedor de todas as explicações.
Que papel reservar no mundo da escrita neste processo de constituição? Leitura e escritura, formas de interação entre os homens, é espaço ampliado de constituição. Na história de cada palavra escrita, a história das compreensões do passado e a construção de compreensões do presente. Na palavra, passado, presente e futuro se articulam.
Isto nos leva a dois aspectos sempre presentes e essenciais do processo de interação: o reconhecimento e a compreensão. O reconhecimento do outro e dos recursos expressivos mobilizados é uma condição necessária para que a interação aconteça, mas não é condição suficiente. É preciso reconhecer e ao mesmo tempo ultrapassar o reconhecimento para compreender o que se diz, o que se ouve, o que se lê. Neste sentido, todo o enunciado é sempre co-produzido pelos sujeitos envolvidos no processo de produção já que o enunciador opera seus recursos expressivos concomitantemente aos recursos expressivos [contrapalavras na expressão de Bakhtin] mobilizados ou supostamente mobilizáveis pelo enunciatário. Escritura e leitura são sempre co-produção materializada na sequência textual.
São, neste sentido, atividades orientadas que ultrapassam a materialidade palpável do texto que produzem. Retome-se aqui da estética de Ingardem (apud Iser) a produção esquemática do texto, com pontos de indeterminação que o leitor preenche, não como uma espécie de preenchimento de vazios desleixadamente pontuados, mas um preenchimento que releva da articulação que fazem os leitores de hoje, trazendo para o texto suas contrapalavras com que dialogam com as compreensões de mundo do autor, do mundo de ontem.
- A questão das variedades linguísticas
Seria ingênuo, no entanto, admitir um jogo interativo de palavras e contrapalavras como se houvesse ou fosse possível haver uma homegeneidade linguística (e social). É da experiência comum de qualquer falante, já que ele vive numa sociedade e uma sociedade se caracteriza diferentemente em cada época em função das formas como se estrutura, que obedecemos regras em função das instituições no interior das quais falamos. Para tomar um exemplo simples, enquanto na sala de jantar de sua própria família nenhum dos convivas precisa levantar a mão para pedir a palavra, mas interfere na conversação no momento em que julga oportuno, disputando com os outros o turno de fala, numa assembleia ou numa reunião formal inscreve-se para falar, tem sua oportunidade de fala segundo a ordem de sua inscrição, um tempo determinado para falar etc.
Podem ser generalizadas estas diferentes situações considerando que há instâncias públicas de fala e instâncias privadas de fala. Não é a fala em si que é privada ou pública, mas a instância em que se fala é que pode ser privada ou pública. Uma e outra instância tem exigências diferenciadas quanto às regras de uso da fala, do registro adequado para esta fala, do dialeto que circula nas diferentes instituições etc. Ora, sabendo-se que a língua portuguesa não é uma, mas se concretiza em diferentes dialetos regionais (por exemplo, o dialeto gaúcho, o dialeto carioca, os dialetos nordestinos) e dialetos sociais (por exemplo, o dialeto caipira, o dialeto culto, o dialeto popular), e em diferentes gêneros discursivos, um e apenas um dos dialetos tem sido aquele admitido em cartas instituições sociais, especialmente aquelas que se classificariam entre “as instâncias públicas” de uso da linguagem.
O reconhecimento de algumas destas diferentes instâncias, o aluno traz para dentro da sala de aula. Uma de suas dificuldades, no entanto, é que a escola e a sala de aula se caracterizam como “instâncias públicas” de uso da linguagem e nem sempre os alunos em suas experiências vividas anteriormente estiveram em situação de produzir textos (orais) em instâncias públicas. Frequentaram cultos, reuniões públicas etc. mas neles não eram locutores e sim ouvintes. Neles apreenderam a compreender tais falas e suas regras, mas ainda não as praticaram enquanto falante. Esta é uma de suas primeiras dificuldades ao se tornarem “alunos” e muitas das “indisciplinas” não são nada mais do que o não domínio das regras de uso da linguagem em situações como as de sala de aula.
É a escola o primeiro lugar público em que o aluno se expõe (ou deveria se expor) como locutor. Admitindo-se que a escola, de uma forma ou outra, tem possibilitado a seus alunos interlocuções nesta instância pública de uso da linguagem, e como estas exigem o dialeto culto, como explicar que depois de anos de escolarização, falantes de variedades linguísticas não prestigiadas socialmente permaneçam falando a variedade de origem?
A existência de variedades linguísticas é um fato empírico inegável. Habituados, com justiça, a observar as diferenças entre os modos de fala, temos distinguido, pela análise de diferenças formais (marcas), diferentes dialetos sociais ou regionais. Como é a diferença que identifica, nada mais justo que as descrições linguísticas tenham chamado a atenção fundamentalmente para estas diferenças.
As pesquisas sociolinguísticas, sempre atentas à heterogeneidade, têm mostrado, por outro lado, que este caos aparente pode ser sistematizado. O estudo das marcas formais identificadoras de variedades linguísticas correlaciona de um lado variáveis linguísticas e de outro lado variáveis identificadoras dos grupos sociais pesquisados. Nos resultados destes estudos podemos detectar sistematizações que fazem corresponder variedades a determinadas variáveis sociais (classes, gêneros, faixas etárias, etc.). Assim, o caos da heterogeneidade linguística é, de fato, apenas aparente.
Embora as pesquisas de campo em sociolinguística tenham se dedicado mais a alguns aspectos do fenômeno linguístico (inclusive por questões de método e segurança científica), elas são suficientes para identificar a multiplicidade de variedades em nossa sociedade. Estudos de outra ordem, menos limitados em termos da estrutura linguística, por outro lado, têm mostrado e chamado a atenção para as relações de poder envolvidas no quadro das variedades linguísticas. Conceitos como variedade padrão, prestígio, forma estigmatizada, etc. são usados tanto por pesquisas mais estritamente linguísticas quanto por estudos mais sociológicos que tematizam a linguagem.
Soares (1985) é, neste sentido, um trabalho a ser constantemente manuseado por aqueles que se interessam tanto pelas questões sociolinguísticas quanto pelas questões educacionais decorrentes das diferentes visões do fenômeno da heterogeneidade e seu tratamento na escola.
Normalmente, associa-se a variedades linguísticas não prestigiosas (observando aspectos formais de pronúncia, de estrutura frásica ou mesmo de estrutura textual) um grupo de falantes que, sociologicamente, não pertence às classes dominantes. Estas variedades são desprestigiadas porque
Uma variedade linguística “vale” o que “valem” na sociedade os seus falantes, isto é, vale como reflexo de poder e da autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais. (Gnerre, 1985:4)
Parece que quanto mais se desenvolvem as pesquisas sociolinguíticas, mais se comprova que as variedades são estigmatizadas na mesma medida da estigmatização social de seus falantes. Avançando um pouco mais na compreensão desta co-variação linguística/sociológica, força é reconhecer que a quase absoluta totalidade da experiência histórica acumulada (e que hoje são conhecimentos disponíveis) vem expressa numa variedade linguística quenão é aquela dominada pelas camadas populares. As classes dominadas, trabalhando para a sustentação, na produção de riquezas, não deixam de produzir cultura, cosmovisões, reflexões. Mas o registro de tal produção, quando disponível, é mediado pela forma de registro (e de fala) da classe dominante. Obviamente, isto não quer dizer que não haja “transmissão” de saberes entre membros das classes menos privilegiadas, especialmente através da oralidade. Trata-se aqui de registrar, de apontar para os conhecimentos “escolarmente rentáveis”, poia mesmo saberes recolhidos no meio popular sofrem a interferência linguística da exposição por aqueles que pertencem ao “mundo da escrita” [e estes nem sempre estão comprometidos com o poder dominante].
Ensina Gnerre (1985) que a “variedade culta” separa-se das demais variedades fundamentalmente porque: a) é associada à escrita; b) é associada à tradição gramatical; c) é inventariada nos dicionários; d) é apresentada como portadora legítima de uma tradição cultural e e) é tida como essencial à unidade nacional.
Na história social da produção das diferentes variedades linguísticas constituíram-se, concomitantemente, diferentes modos de compreender o mundo, modos não estáticos e não sem interpenetrações. Em consequência, falantes de diferentes dialetos conseguem produzir compreensões aproximativamente semelhantes sobre o mundo. Por isso, dialetos se interpenetram, aliás uma necessidade da própria dominação, sob pena de ser impossível as ideologias circularem entre diferentes grupos sociais.
Associando estas características da linguagem à “democratização” histórica do acesso à escola, resultado de dois fatores interligados: as exigências da produção (a fábrica) demandam operários que, no mínimo, saibam ler; de outro lado, a escola pública
É uma progressiva e lenta conquista das camadas populares, em sua luta pela democratização do saber, através da democratização da escola. (Soares, 1985:9)
A escola pública vê chegarem a seus bancos alunos provenientes de camadas sociais para as quais até então suas portas estavam fechadas. E estes alunos, provam-no as pesquisas sociolinguísticas, falam diferente. Acrescente-se a este falar diferente a construção de categorias outras com que interpretam o mundo. Assim, vemos na história cotidiana das salas de aulas, confrontarem-se diferentes modos de ver o mundo e diferentes formas de falar sobre ele. Os alunos provenientes das classes populares falam e compreendem o mundo de um modo que a escola não aceita e às vezes sequer compreende. Seus falares e saberes são “capitais não rentáveis” nas escolas.
É preciso salientar ainda um terceiro elemento: embora a diferença seja o que identifica cada uma das variedades linguísticas, não se pode esquecer que há cruzamentos entre elas. Ou seja, as semelhanças não pesquisadas, porque não pertinentes, são maiores do que as diferenças. Por isso todas as variedades pertencem à mesma língua. O trabalho linguístico, histórico e social, é coletivo. Há fatores, anotados também pela reflexão sociolinguística, que tendem, dentro de uma comunidade, a produzir uniformidades linguísticas (e como tais também sistemas de compreensão de mundo comuns). Semelhantemente à circulação de influências entre cultura erudita/cultura popular, não se pode deixar de reconhecer, junto às diferenças, as semelhanças produzidas por esta circulação. É evidente que em sociedades extremamente estratificadas, a circulação de ideias (e de linguagem, portanto) é menor e, consequentemente, aprofundam-se os fatores sociais responsáveis pela construção da diferença. Em sociedades complexas como as contemporâneas, a circulação de influências é, no entanto, uma constante. Em consequência, tanto a variedade culta quanto as variedades não-cultas estão continuamente se modificando, quer por influências mútuas, quer pelo simples fato de serem variedades faladas.
Há um quarto elemento a ser considerado. A escola age como se a língua culta fosse estática, pronta, inabalavelmente infensa a seu uso nos processos interlocutivos. É óbvio que tal posição da escola tem razões sociais de ser: a cristalização da língua serve para “chumbar”, como diriam os alunos da Escola de Barbiana, aqueles que não falam como o prescrito. Mais, pesquisas sociolinguísticas já mostraram que professores em falas em estilo casual, usam formas que consideram “erradas” ou “estigmatizadas”. Na verdade, não é concretamente a língua padrão contemporânea que indica as estigmatizações, mas certa “imagem de língua correta e adequada” a responsável pelas qualificações postas em prática pelos falantes, quer professores, quer não professores.
Decorre destas observações que os juízos de valor a propósito de variantes linguísticas estão articulados não a fatos linguísticos efetivos, mas a imagens de como se deve falar ou certa imagem de qual é a forma linguística correta.
Associemos a estas considerações a opção política de que numa escola transformadora, a articulação de conhecimentos produzidos por diferentes teorias se faz a partir de uma concepção política da escola, vista como espaço de atuação de força que podem levá-la a contribuir na luta por transformações sociais. (Soares, 1985:75)
E tornemos nossa a seguinte questão:
Como podem ser trabalhadas as relações entre linguagem, educação e classe social, numa escola que pretende estar realmente a serviço das camadas populares? (Soares, 1985:17)
Um aluno falante de variedade não-padrão, numa escola que possibilite interlocuções com outras variedades linguísticas (inclusive com a padrão, mas não só ela, já que numa mesma sala de aula convivem diferentes variedades, pormenores que sejam as diferenças que as identificam), não se apropria do dialeto de prestígio, mas ao contrário, enquanto locutor e interlocutor, por sue trabalho linguístico, participa da construção deste dialeto. O dialeto de prestígio também se constrói historicamente, modificando-se, ainda que suas mudanças formais sejam mais lentas.
Tudo se passa num movimento contínuo de produção das próprias variedades, de modo que a variedade padrão hoje usada por professores universitários (tomo-os como exemplo) não é idêntica, sequer em termos de imagem de língua, à variedade padrão que, numa visão estática desta variedade, lhes foi ensinada na escola. Aceitando-se esta visão de movimento histórico de constituição das variedades linguísticas e aceitando-se que o entrecruzamento de variedades é uma constante social, pode-se formular um projeto de correlação entre variedades e ensino que tenha no horizonte este percurso de contínua mudança das formas verbais.
Querendo-se uma escola transformadora, a opção mais coerente é assumir o movimento da linguagem (e portanto sua transformação no tempo), participando sem preconceito deste processo. A nova variedade padrão resultante desta história não via afetar a capacidade humana de compreensão do conhecimento acumulado e registrado em variedades padrões do passado: ainda hoje podemos ler documentos do quatrocentos e do quinhentos, embora nossa padrão esteja longe daqueles de então.
O sujeito letrado pode manter processos interlocutivos não possíveis para o analfabeto, e com isso está automaticamente ampliando suas condições de constituição (notem-se a contradição e o movimento no interior de uma sociedade de classe: a própria necessidade da produção exige sujeitos alfabetizados; o sujeito estar alfabetizado é também uma condição para a leitura de panfletos sindicais, por exemplo…).
As diferentes instâncias de uso da linguagem e as diferentes variedades linguísticas apontam para outras aprendizagens a se darem na escola, aprendizagens possíveis pelo deslocamento do que tem sido considerado o “conteúdo de ensino” de aulas de linguagem, recuperando as próprias atividades dos sujeitos falantes como inspiração do trabalho escolar. É evidente que deste sempre os alunos chegaram aos bancos escolares falando português, mas este saber falar nunca foi tomado explicitamente como um saber. Ao contrário, frequentemente a escola desconsiderou este saber (e as regras que o uso da modalidade oral implica), aproveitando-se, no máximo, de um dado suposto necessário para a alfabetização: a associação de sons da fala a letras da escrita. Para além desta associação, nunca explicitada como um conhecimento, mas tomada como necessária à aprendizagem/aquisição da escrita, todos os outros conhecimentos que o domínio da modalidade oral implica foram deixados de lado.
Este deixar de lado resultou, na verdade, de dois pontos de vista:
- A desvalorização preconceituosa da modalidade oral e das variedades dialetais;
- O desconhecimento de que a própria variedade padrão não é uma, alterando-se no tempo e no espaço.
Apenas o desenvolvimento das pesquisas sobre o funcionamento da linguagem em sua modalidade oral – que somente agora está se tornando conhecido – é que permitiu constatar que entre as duas modalidades há diferenças e semelhanças, o que seria natural, mas que há uma interferência de uma sobre a outra. Como se sabe, o processo de construção histórica da escrita permitiu uma reflexão sobre a linguagem em geral e sobre cada língua em particular e esta reflexão, fixando-se na escrita, acabou por prevalecer como “o conhecimento escolarmente rentável”.
Ao mesmo tempo, a escrita passou a ser usada como forma de “normatizar” a fala: para sujeitos letrados, o lugar utópico em que gostariam de estar quando falam (e que imaginam ocupando quando falam) é “falar como se escreve” porque a escrita é que seria “a língua correta”. Um exemplo radical seria aquele que aprendendo que “nascer” escreve-se com sc passa a falar nas-cer, uma hipercorreção óbvia.
Essa variação da língua e dos falantes em função da correlação entre as modalidades oral e escrita é defendida por Kato:
… a fala e a escrita são parcialmente isomórficas; mas, na fase inicial, é a escrita que tenta representar a fala – o que faz de forma parcial – e, posteriormente, é a fala que procura simular a escrita, conseguindo-o também parcialmente. (Kato, 1986:11)
Ora, mesmo antes de se alfabetizar, falantes que convivem com alfabetizados acabam incorporando características da escrita em suas falas. Além do domínio das regras de uso da oralidade, o aluno já traz para dentro da sala de aula também este outro conhecimento que foi ainda mais esquecido: vivendo numa sociedade letrada, o aluno muito antes de “escrever” convive com a língua escrita e sabe, portanto, o que é escrita e o que não é escrita. Mais: ele sabe alguns dos usos sociais da escrita, algumas de suas funções e o seu valor numa sociedade como a nossa. Ao buscar a escola ele pretende precisamente isso: aprender a ler e escrever porque este saber é uma necessidade para sua sobrevivência nesta mesma sociedade.
São estes tipos de conhecimentos que a escola contemporânea reconhece e toma ou pretende tomar como pontos de partida em seus processos de ensino. Ora, este fato determina mudanças radicais na relação professor/aluno já que aquele não ocupa mais sozinho o lugar do saber e este o lugar do não-saber. Tarefa difícil, dado que ela demanda construir formas de convívio com a heterogeneidade – as diferentes histórias de relações dos alunos com a linguagem (oral e escrita) não podem ser esquecidas – não pra abafá-las e construir uma fala unidade, uma homogeneização dos sujeitos, mas para permitir uma ainda maior heterogeneidade abrindo para os alunos espaços de novos convívios que lhes permitam constituir-se como sujeitos autores de suas falas e de suas escritas.
Trata-se, pois, de descobrir novos processos de alfabetização e a partir desta, novos processos de convívio com o mundo cultural expresso na herança cultural disponível – daí a grande importância da biblioteca, das salas de leituras, da circulação de jornais e da presença necessária de outras linguagens, como TV, vídeo, internet nas aulas de linguagem. E a exigência não para aí: não se quer mais somente um cidadão que re-conheça a herança cultural, mas que se torne um produtor de cultura. E aqui uma nova heterogeneidade: a escola tradicional reconhecia como cultura apenas certas manifestações do homem; o mundo contemporâneo (e em consequência a escola) reconhece culturas e cada vez mais estas culturas se interpenetram, constituindo o mosaico fragmentário do mundo em que vivemos e que precisamos conhecer para nele interferirmos.
Todas estas considerações mostram a necessidade de transformar o tempo de sala de aula em um tempo de reflexão sobre o já conhecido para aprender o desconhecido e produzir o novo. É por isso que atividades de reflexão sobre a linguagem (atividades epilinguísticas) são mais fundamentais do que aplicação a fenômenos sequer compreendidos de uma metalinguagem de análise construída pela reflexão dos outros. Aquele que aprendeu a refletir sobre a linguagem é capaz de compreender uma gramática – que nada mais é do que o resultado de uma (longa) reflexão sobre a língua; aquele que nunca refletiu sobre a linguagem, pode decorar uma gramática mas jamais compreenderá seu sentido.
Reconhecer as diferenças, propor um convívio com a pluralidade, admitir a existência de diferentes saberes e diferentes forma de compreender o mundo, etc. parece ser uma solução óbvia, irritantemente simples, teoricamente até coerente, mas historicamente inadequada por esquecer que na linguagem se dá uma luta constante pelo poder e, desta luta os recursos linguísticos de qualquer língua saem marcados pelos valores hegemônicos de certa época, valores que internalizamos junto aos primeiros balbucios, a que retornamos em cada encruzilhada. Por isso, o trabalho com a escirta e leitura é um trabalho no centro do político.
- A cidade das letras, a cidade das exclusões
A conquista humana do domínio das técnicas da escrita alarga incomensuravelmente, no tempo e no espaço, os horizontes de nossas possibilidades interativas, e por isso mesmo da constituição de nossas consciências. Tal “tecnologia” a duras penas construída não poderia deixar de ser objeto de desejo e instrumento de dominação. É necessário fixar uma ordem à desordem resultante do alargamento possível. A leitura pressupõe uma escritura. E a escritura erigiu-se historicamente como o espaço da ordem e do limite dos sentidos. Tal uso da técnica da escrita pretendeu estancar a fluidez da palavra; entorpecer-lhe os poderes; impedir toda futura desordem pela fixação dos significantes e seus significados; definir, orientar e projetar as realizações humanas, enfim, reger a mutante vida dos homens e seus signos.
Ao labirinto das produções fluidas da oralidade sobrepõe-se, com a escrita, o esforço de decifração da ordem, da construção do imutável. E antes mesmo que a escrita se torne tecnicamente acessível àqueles que habitam as periferias das cidades e do poder, a escritura construiria uma cidade letrada, “o anel protetor do poder e o executor de suas ordens: uma plêiade de religiosos, administradores, educadores, profissionais, escritores e múltiplos servidores intelectuais” (Rama, 1984:43).
Omo realizar semelhante proeza, se a escrita trabalha com a linguagem, objeto essencialmente mutável, sujeito às precariedades singulares dos acontecimentos interativos? Como fixar e tornar inalterável o que, na imagem de Wittgenstein (1975:19) pode ser considerado “como uma velha cidade: uma rede de ruelas e praças, casas novas e velhas, e casas construídas em diferentes épocas; e isto tudo cercado por uma quantidade de novos subúrbios com ruas retas e regulares e com casas uniformes”.
Somente o exercício do poder, reservando a uma minoria estrita o acesso ao mundo da escrita permitiu a façanha da seleção, da distribuição e do controle do discurso escrito, produzindo um mundo separado, amuralhado, impenetrável para o não convidado. E de dentro destes muros, uma função outra agrega-se à escrita, como se lhe fosse própria e não atribuída pelo poder que emana de seus privilegiados construtores e constritores: submeter a oralidade à sua ordem, função jurídica por excelência, capaz de dizer o certo e o errado, ditar a gramática da expressão, regrar os processos de negociações de sentido e orientar, através de suas mensagens uníssonas e uniformes, os bons caminhos a serem trilhados.
A sociedade só pôde ser assim construída sob o império de uma separação radical, a partir de uma estrutura de exclusão. Sob qualquer das formas com que se organizaram politicamente o Estado e o Poder, soube a cidade letrada estar próxima, adequar-se às circunstâncias. No que concerne à América Latina, segundo Rama (1986:65-66):
… a cidade letrada quer ser fixa e atemporal como os signos, em oposição constante à cidade real que só existe na história e se adequa às transformações da sociedade. Os conflitos são, portanto, previsíveis. O problema principal, então, será o da capacidade de adaptação da cidade letrada. Nós nos perguntamos sobre as possíveis transformações que nela se introduzem, sobre sua função em um período de mudança social, sobre sua sobrevivência no momento das mutações revolucionárias, sobre sua capacidade para se reconstituir e reinstaurar suas bases, quando estas tenham sido transformadas.
Observando sempre sob o ângulo da produção da escritura, Rama aponta, ao longo desta história do convívio com o poder, uma cidade letrada que foi ordenada, foi escriturária, foi modernizada. Politizou-se e pode ser revolucionária. A cada momento, diferentes feitos históricos, mas sempre uma constante: a capacidade paradoxal de, ao mesmo tempo, expandir-se para as periferias supostamente acolhendo novos convivas e manter a distância das distinções: escrita x oralidade; erudito x popular; culto x não-culto; alfabetizado x analfabeto; letrado x iletrado. Pelo prisma do letrado, ao outro sempre se atribui uma falta.
Uma “tecnologia” que penetrou tão profundamente a vida humana não deixaria de abrir tortuosos caminhos percorridos pelos estruturalmente excluídos. As estruturas não são sem frinchas, e o Poder não se exerce monoliticamente. No interior da microfísica, no piscar de olhos da eterna vigilância da ordem, a “desordem” pôde instalar-se. Numa sociedade com letramento, não há sujeitos absolutamente leigos: também aqueles que não leem e não escrevem são atingidos pela escritura (Illich, 1991).
Estudos mais recentes, sob o ângulo da recepção da escritura, vêm mostrando que os produtos das diferentes cidades letradas circularam e aproximaram os mundos que a letra separou. Alguns destes estudos confirmam a força com que se limitaram a produção e a circulação de sentidos, de que é exemplo o final trágico de Menocchio sob a Inquisição (Ginzburg, 1976). Outros mostram o caminho inverso – a letra se deixando fecundar pela produção oral e popular. Rabelais é o exemplo (Bakhtin, 1977). A história desta prática social e cultural, que é a leitura, vem esquadrinhando fatos singulares e mostrando a circulação entre mundos, possivelmente antagônicos em seus interesses, mas não sem interpenetrações. A escrita populariza-se mais por necessidade da distinção do que pelo objetivo de humanização. Em se popularizando, torna-se heterogênea e outros artefatos verbais somam-se às clássicas bibliotecas. Manifestos, panfletos, poemas, páginas soltas, graffitis, orações, agendas, almanaques, cópias, paródias, paráfrases: o universo de discursos escritos expande-se, vulgariza-se, circula e faz circular sentidos.
- Políticas de inclusão: apostas e riscos
Independentemente da existência atual de outros meios de circulação de discursos, muitos deles de uma oralidade secundária porque alicerçada na escrita prévia ou no “script” – fita cassete, vídeo, televisão, telefone, rádio, computador, etc. – a escrita e por consequência a escritura, alterando-se, permanece. Como apontou Rama (1984:63):
Toda tentativa de rebater, desafiar ou vencer a imposição da escritura, passa obrigatoriamente por ela. Poder-se-ia dizer que a escritura termina absorvendo toda a liberdade humana, porque só no seu campo se desenrola a batalha de novos setores que disputam posição de poder.
Apoderar-se da letra, e da escolaridade que ela demandou e demanda, resulta de uma sábia luta porque os excluídos cedo perceberam sua significação e relevância sociais. No entanto, elas nos foram e são oferecidas como “alavanca de ascensão social, de respeitabilidade pública e de incorporação aos centros de poder” (Rama, 1984:79). Por isso mesmo, ao incluir a escola exclui: respondendo às elites, alfabetiza sem tornar possível uma política de “leiturização” (Foucambert, 1994). Na escola que temos e no estágio atual da estrutura de sociedade, ainda é possível apostar em políticas de inclusão? Que espaço reservar à prática pedagógica numa concepção constitutivista de sujeito? Do interior desta concepção, que espaço reservar às práticas sociais de leitura?
Habituados a mediar os processos de desenvolvimento proximal dos estudantes (movimento de um ponto do sabido para um ponto de um saber já dado) a prática pedagógica, para fugir à inconclusibilidade, à insolubilidade, ao não-fechamento, acaba atuando nos processos de reconhecimento e por isso mesmo insatisfatoriamente na construção de compreensões. Como consequência, a leitura em lugar de se tornar espaço de confrontos e rupturas, torna-se meio de sobrepor e subjugar as contrapalavras do estudante, substituindo-as pelas palavras do texto lido. Palavras alheias, estrangeiras, de um saber que se apresenta como pronto, acabado. Não na relação dialógica de construção, mas relação hierárquica de imposição.
Mas, como ensina Snyders (1973), a prática pedagógica consiste na unidade dialética da continuidade e da ruptura. A educação “é um esforço de ruptura, um esforço difícil e doloroso para se equilibrarem as coisas” (p. 320).
É baseando-se na prática efetiva e cotidiana que os homens podem escapar às quimeras da teoria; uma prática que, ela também, deve ser baseada, coordenada, alargada, mas que indica já a direção a seguir […]. Ao memso tempo, a ação cotidiana, no seu caráter parcelar, dividido e inorganizado, é insuficiente, radicalmente insuficiente, simples paliativo que não atinge as causas do mal; e no entanto é ela que marca a orientação. Não se trata de tomar outro caminho, de retroceder, pois esse é o verdadeiro caminho. É sobre a prática de produção, a prática de luta e de resistência, que se edificam as ações e os verdadeiros juízos. (Id. Ibidem, p. 323)
- Como se fosse uma conclusão: o paradoxo do ensinar a ler e escrever
Que espaço reservar à prática pedagógica numa concepção constitutiva da linguagem e do sujeito, em meio às variedades linguísticas tornadas e tomadas como lugar de luta e exclusão, numa história de compromissos da “cidade letrada” com o poder, camaleonicamente capaz de tornar todo esforço efetivo de acesso a seu mundo em mera forma de cooptação ou outra forma sutil de exclusão?
Para ensinar linguagem não basta devolver ao aluno a palavra para que emerjam histórias contidas e não contadas em função apenas de uma opção ideológica de compromisso com as classes populares. Devolver e aceitar a palavra do outro como constitutiva de nossas próprias palavras é uma exigência do próprio objeto de ensino. A monologia própria dos processos escolares, que reduz o mundo ao pré-enunciado por determinada classe social, é um dos obstáculos maiores interpostos pelo sistema escolar de reprodução de valores sociais à “eficiência” do próprio sistema. Este nosso paradoxo: ensinar a ler e escrever para sujeitos excluídos do mundo da escrita.
A partir da década de 80, ao mesmo tempo em que no interior de programas de pesquisa uma concepção nova de linguagem instaurava-se – especialmente na Linguística Textual, na Análise do Discurso e na Sociolinguística – muitos professores universitários brasileiros passam a articular suas reflexões teóricas a propostas de alternativas de ensino. Às vezes sem respostas suficientemente claras, as sugestões concretas derivaram de análises linguísticas muito precisas (por exemplo, as marcas dos torneios argumentativos presentes em relatores sentenciais, mostrados pela semântica argumentativa). Outras vezes, a eleição de um posto específico de observação, por exemplo, a interação como lugar de constituição de sujeitos e de linguagem, levou à distinção entre redação e produção de texto e desta distinção a propostas de trabalhos muito próximas daquelas defendidas pela Pedagogia Freinet.
Uma década e meia depois, seria um otimismo ingênuo imaginar que a “vulgarização” destas reflexões tenha alterado substantivamente as práticas de ensino; que a compreensão de que a língua não está de antemão pronta, dada como um sistema de que o sujeito se apropriaria para usá-la, mas que o próprio processo interlocutivos, na atividade de linguagem, está sempre e a cada vez a re-construindo, tenha produzido as consequências pedagógicas de aposta na dialogicidade, na mediação e na construção conjunta e polifônica de textos.
Isto porque às concepções, hipóteses e descrições da Linguística associa-se a clareza do paradoxo de ensinar/aprender a ler e escrever numa sociedade dividida em classes: somente quando a divisão fundante da estrutura social for ultrapassada, leitores e escritores poderão emergir no contexto de uma cidadania outra em que o acesso ao mundo da escrita se torne efetivo porque tornada possível a plenitude do humano.
Mas como “o exercício das nossas perplexidades é fundamental para identificar os desafios a que merece a pena responder” e como “a análise do presente e do passado por mais profunda que seja, não pode fornecer mais do que um horizonte de possibilidade, um leque de futuros possíveis: a conversão de um deles em realidade é fruto da utopia e da contingência” (Santos, 1994), resta-nos agora agudizar o convívio com o paradoxo, para que a proximidade crítica com o cotidiano não nos torne sujeitos de uma hiperlucidez cega.
Nota
- Este texto foi escrito para minha participação em Simpósio do GT Alfabetização, Leitura e Escrita, na 18ª. Reunião Anual da ANPED, em 1995. Não sei hoje quais as razões, mas o texto mereceu três circulações distintas: publicado no Caderno de Estudos Linguísticos (n. 31, jul/dez de 1996); posteriormente foi incluído em edição comemorativa, em livro, organizada por Eleonora Albano et alii. (Saudade da Língua, Mercado de Letras/IEL-Unicamp, 2003) e por fim foi incluído numa coletânea de textos organizada por Gladys Rocha e Maria da Graça Costa Val (Reflexões sobre práticas escolares de produção de texto. Belo Horizonte : Autêntica, 2003). Trata-se, portanto, de um dos meus textos que mereceu circulação variada… Na época, estava preocupado com o fato de que, contrariamente ao que esperávamos que teríamos depois de dez anos de redemocratização, o que víamos era uma sociedade cada vez mais excludentes, com uma concentração de renda cada vez maior (vivíamos sob o auge do pensamento neoliberal, e qualquer crítica ao sistema era considerada pelo sociólogo presidente nada mais do que mimimi… até a denominação neoliberal não era aceita, e se respondia a ela chamando os críticos de “neobobos” – expressão de Fernando Henrique Cardoso, tido como “príncipe dos sociólogos” que, ao assumir a presidência da república pediu que esquecêssemos o que havia escrito… Talvez por isso me parecia então paradoxal estar trabalhando para a constituição de sujeitos leitores e autores que viveriam numa sociedade que não queria nem leitores nem autores. O leitor também notará que este texto retoma outros, que ficou muito extenso e que houve tratamento desigual aos tópicos em que está dividido.
Bibliografia
Bakhtin, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. S. Paulo, Hucitec, 1987.
______________ Estetica de la creación verbal. Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1982.
Barata, Manoel Sarmento. Canto Melhor – Uma perspectiva da poesia brasileira. Rio, Paz e Terra, 1969.
Brecht, Bertold. Poemas e Canções. Seleção e tradução de Geir Campos. Rio, Civilização Brasileira, 1966
Foucambert, Jean. A leitura em questão. Porto Alegre, Artes Médicas, 1994.
Freire, Paulo. A importância do ato de ler. S. Paulo, Cortez & Autores Associados, 1982.
Geraldi, J. W. Portos de Passagem. S. Paulo, Martins Fontes, 1991.
Ginzburg, Carlo. O queijo e os vermes. S. Paulo, Cia. das Letras, 1987.
Gnerre, Maurizzio. Linguagem, escrita e poder. S. Paulo, Martins Fontes, 1985.
Illich, Ivan. “A plea for research on lay literacy” in. Olson, David e Rorrance, M. (eds). Literacy and Orality. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1991, 21-46.
Kato, M. O mundo da escrita. Uma perspectiva psicolinguística. S. Paulo, Ática, 1986.
Kramer, Sônia. “A formação do professor como leitor e construtor do saber”. In. Moreira, Antônio Fávio (org). Conhecimento educacional e formação do professor. Campinas, Papirus, 1994.
Kundera, Milan. A insustentável leveza do ser. Rio, Nova Fronteira, 1985.
Magnani, Maria do Rosário. Leitura, literatura e escola. Sobre a formação do gosto. S. Paulo, Martins Fontes, 1989.
Osakabe, H. “Considerações em torno do acesso ao mundo da escrita” in. Zilberman, Regina (org) A leitura em crise na escola. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1985.
Rama, Angel. A cidade das letras. S. Paulo, Brasiliense, 1984.
Santos, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade. Porto, Edições Afrontamento, 1994.
Saramago, José. O evangelho segundo Jesus Cristo. S. Paulo : Cia. das Letras, 1991.
Snyders, Georges. Para onde vão as pedagogias não-diretivas? Lisboa, Moraes Ediotres, 1974.
____________. A alegria na escola. S. Paulo, Editora Manole, 1988.
Soares, Magda. Linguagem e escola. Uma perspectiva social. S. Paulo, Ática, 1985.



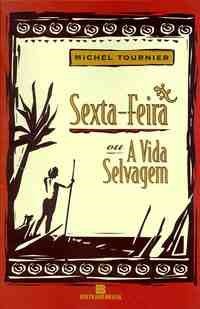


Comentários