por João Wanderley Geraldi | out 21, 2017 | Blog
Um Mia Couto é sempre um Mia Couto: de produzir fôlego, paradas e sofreguidão. É um autor que conhece seu ofício como ninguém. E reúne em suas obras, mas particularmente neste Terra Sonâmbula um misto de realidade e realismo mágico, um olhar europeu da África e um olhar africano sobre os desfazeres europeus colonizadores.
Este romance, um dos mais festejados e reeditados de Mia Couto, tem como estrutura o desenrolar de duas histórias, de dois meninos-rapazes, Muidinga e Kindzu: são dois enredos, duas histórias, personagens distintos que não se entrelaçam, ainda que o leitor desde a leitura do primeiro Caderno de Kindzu se pergunte como se unirão estas histórias, porque alguma razão conduzia a independência das histórias paralelas, mas que reunidas num mesmo livro deveriam ter, em algum momento, um encontro.
O pano de fundo de realidade é a guerra civil moçambicana, ainda que esta não seja seu tema. Ela existe. E a existência das personas das histórias é marcada pela guerra, pelos bandos e pela “nova organização” política do pós-independência de Moçambique, não sem farpas aos “administradores” da nova ordem que invocam sempre os inimigos da nação num discurso eivado de uma “dialética marxista” distante a anos-luz da obra de Karl Marx.
Vamos às histórias:
Na primeira história, somos apresentados a Muidinga e Tuahir, já caminhantes em estradas sem vida. Encontram um machimbombo (um ônibus) queimado, de que fazem alojamento depois de enterrarem os corpos carbonizados e um corpo de homem que fugira. Junto a este encontraram uma mala contendo mantimentos e um conjunto de cadernos. Estes cadernos contaram a segundo história que assumirá de fato o primeiro plano da narrativa. É a leitura destes cadernos que darão vida a Muidinga e Tuahir, que num mundo parado pela guerra estão alojados sem terem para onde ir ou sem saberem para onde ir. Suas andanças limitam-se aos arredores do ônibus, andando sempre em círculos. Poucos são os episódios que dão movimento a este mundo de um velho e um menino: o encontro com Siqueleto, o velho magro e esfomeado, sobrevivente de uma aldeia saqueada pelos bandos em guerra e abandonada por seus habitantes, restando Siqueleto que se faz semente para que uma nova aldeia surja; o encontro com o fazedor de rios, que cava a terra para “fabricar um rio” que efetivamente vem a correr enquanto dura uma grande tempestade; o encontro com as idosas que em rito contra a praga dos gafanhotos foram surpreendidas por Muidinga, que presenciando suas danças atravessou um interdito e foi castigado com um “estupro” coletivo, antes mesmo de sua iniciação por “mãos sonhando mulheres”. Chega enfim um momento em que Tuhair concorda com Muidinga e afastam-se do ônibus alojamento em busca do mar, passando um pântano em que picado por mosquitos, Tuahir adoece e vai morrer quando chegam ao mar, o corpo posto em uma canoa de nome Taímo: aqui se encontram as histórias. O barco que fora a “locomotiva” de viagem de Kindzu servirá de esquife para Tuhair… e Muidinga se descobre Gaspar.
A segunda história, aquela contida nos Cadernos de Kindzu, são escritas como se fossem memórias deste: um registro de sua vida. Ao contrário de Muidinga que não se lembrava de seu passado, Kindzu conheceu família, pai Taímo e mamã (surpreendentemente não nominada, é sempre “minha mãe”), a aldeia com seus moradores, incluindo um comerciante indiano (Surendra Valá) com quem Kindzu gastava tempo em conversas. Houve a independência e como sua mãe ganhara logo após um filho, o pai lhe deu o nome de Vinte e Cinco de Junho. Ficou chamada Junito, este que por ordem do pai é largado no galinheiro, coberto por vestido de penas tecido pela mãe. Junito passa a viver com as galinhas… até fugir e sumir na história restando como lembrança para Kindzu. Depois da morte do pai, este descobre a existência de guerreiros da justiça, os naparamas. Juntar-se a eles tornou-se o sonho de Kindzu e sai em barco para não deixar rastros e não ser seguido pelo pai, a quem deixava, com a viagem, de levar os alimentos da tradição. Kindzu viaja pelo mar, chega a Matimati, um povoado “despovoado” pela guerra mas repleto de deslocados famintos. O povoado é administrado por representante da “nova ordem”, por um “administraidor” como o chamava a mulher. Kindzu não é bem recebido no povoado. Mas na praia fica sabendo que um navio com mantimentos havia naufragado. A narrativa do episódio é conduzida por um ex-assessor da “administração” numa linguagem burocrática. Segundo esta narrativa, neste contínuo desdobrar-se de narrativas que compõem os Cadernos de Kindzu, “… toda a tripulação desapareceu por intermédio de ondas gigantes e de duração interminável. As autoridades imediatamente desencadearam uma ofensiva de averiguações político-ideológicas tendo apurado a presença do inimigo da classe”. Kindzu, saindo de Matimati, acaba também ele no navio naufragado e nele encontra Farida, a mulher que passa a amar e a quem promete encontrar seu filho Gaspar. Esta promessa faz que Kindzu retorne a Matimati inciando sua busca. E nesta busca se dá a formação do homem Kindzu, que reencontra no povoado seu amigo, o indiano Surendra Valá que junto com o ex-assessor estavam montando negócio de comércio, sempre muito lucrativo em tempos de guerras, com um estoque já amealhado com o desvio dos donativos chegados por navios anteriores. Chegam a inaugurar a loja, no antigo casarão de Romão Pinto, o pai adotivo de Farida e também pai de Gaspar! No convívio com os habitantes de Matimati, desenrolam-se inúmeras histórias que comporão a busca por Gaspar, passando pelas aventuras de Kindzu com a mulher do administrador, Carolinda. Guiado por Quintino, um bêbado de Matimati, Kindzu chega a um campo de deslocados, onde encontra a tia de Farida, Euzinha que lhe diz que Gaspar havia sido transferido para outro campo porque os meninos e jovens que os bandos encontravam eram obrigados a se “alistarem” e irem para a guerra… Desiste Kindzu de sua busca, volta a Matimati e lá toma um ônibus em retorno a sua aldeia. Nesta viagem, Kindzu já dado por falecido depois do incêndio do ônibus, vê Muidinga e o chama (talvez de outro mundo) de Gaspar… E as histórias se encontram.
O leitor, percorrendo os dois mundos das duas histórias, desde o começo desconfia: onde os fios se encontrarão. De início, seria de esperar que Junito, o filho tornado galináceo, poderia ser o ponto de encontro, não sendo mais do que Muidinga. Não foi. Muita história correu até o encontro de Farida, o conhecimento da existência de Gaspar, filho do estupro praticado pelo colono tuga Romão Pinto.
Como em toda obra de Mia Couto, a narrativa é perpassada por mitos moçambicanos, mitos africanos, histórias e mais histórias. Elas desvelam a dicotomia de que a própria obra é exemplo: escrita em português, preenchido de léxico das línguas da terra, o próprio enredo de invenção se deixa penetrar por enredos míticos que povoam o imaginário africano e que são inacessíveis ao pensamento europeu. A duplicidade da história é também a duplicidade do dizer narrativo e a origem do povo moçambicano de que Mia Couto é parte.
O livro está cheio de metáforas. Junito, aquele que recebeu por nome a data da independência é encerrado num galinheiro em vestes que não lhe são próprias. Moçambique, independente, se tornar uma república socialista, em vestes e palavras que não lhe são próprias. Como Junito teve que aprender a cocoricar, a administração da nova ordem tinha que aprender o jargão: o discurso de Assane, o ex-assessor da administração de Matimati e as falas do próprio administrador, chamado pela mulher de “administraidor” revelam esta dualidade entre o espírito cultural próprio e o que se lhe impõe de fora.
Mia Couto encanta em suas histórias. Mas também é um dedicado descobridor que mobiliza os recursos da língua portuguesa fazendo-a falar magicamente. Em qualquer obra de Mia Couto perdemos o fôlego de instante a instante pelo inusitado, pelo que nos mostra que estava ali, nas palavras… Extraio da narrativa algumas passagens, descontextualizando-as. Se há ações que praticamos com a linguagem, como narrar e performaticamente se apresentar como escritor de “brincriações”, há no trabalho sobre a língua um esmero que talvez somente o trabalho da língua na constituição duplicada do cidadão moçambicano possa iluminar. Este duplo constitutivo (do eu europeu e do eu africano) abre caminhos para o fazer estético que implica uma ação sobre a língua. Chama atenção neste livro, para além das analogias e das metáforas, da presença do mito e da ironia, das imagens em cena, também a “produtividade lexical” que faz a língua dizer mais do que diria sem o esforço da ação estética. Vamos a alguns exemplos (os grifos são meus):
- Sempre a água me trouxera facilidades, nela eu ficava no à-vontade de gafanhoto em capinzal. Naqueles momentos, porém, concorriam confusas desordens. Me vinha vontade de regressar, tornar a alimentar meu falecido velho, me simplificar no nada acontecer da aldeia.
- As ideias, todos sabemos, não nascem na cabeça das pessoas. Começam num qualquer lado, são fumos soltos, tresvairados, rodando à procura de uma devida mente.
- Sou eu que ando a ratazanar seu juízo.
- O velho sai ao desengonços, tropernando pelas escadas…
- Que protestava o velho assim tão espalhafarto.
- É melhor a gente se emborar.
- À volta, se escuta apenas o silêncio pingando.
- Timiudamente, despontam os primeiros fios de conversa…
- O velho Tuahir admolestava: não se chateie, miúdo.
- Minhas mãos tinham o malvoroço de quando seguramos um recém nascido.
- Mas vendo seu tamanho maiúsculo me dava ainda mais pena lhe ver assim perninulo.
- … ver o céu, todo redondo, estrelinhoso.
É impressionante a capacidade de Mia Couto de fazer a língua falar, juntar palavras em parte de palavras por um jogo paradigmático, em que a forma da própria palavra chama outra palavra fazendo com que reunidas elas digam a si próprias e mais que isto. Tornar “espalhafatoso” em “espalhafarto” é um achado linguístico. A questão não é somente de ordem semântica (todo o espalhafatoso é farto de espalhafatos), é de ordem do trabalho sobre os recursos expressivos que fazem-nos ultrapassar sentidos e formas.
Uma pesquisa de um linguista poderia apontar os modos de composição lexical de Mia Couto. Certamente isso é possível. Mas certamente encontrar o algoritmo da produtividade lexical não será suficiente para explicar esta falta de fôlego que ler um livro de Mia Couto nos traz: pela história que conta aliada aos modos de contar chegando à filigrana da alteração e criação lexical. Tudo isso faz com que Mia Couto ao escrever sempre está em interinvenção: inventando e intervindo (Interinvenções é o título que Mia Couto deu a uma coletânea de crônicas, ensaios e conferências que proferiu durante certo período; depois, seguiu-lhe outra coletânea: Pensatempos).
Uma nota da ordem da história do meu exemplar: ganhei-o da colega Profa. Dra. Helena Sá, da Universidade de Aveiro, em 2003, quando por lá estive como professor visitante. A dedicatória: “Lisboa 2?/03/03 Finalmente posso oferecer-lhe a minha primeira descoberta da literatura africana, o primeiro fascínio com a linguagem de Mia Couto (que vou agora continuar numa outra voz, com Guimarães Rosa, uma descoberta vossa). Espero que esta leitura lhe dê tanto prazer quando a mim. Helena”. Havíamos conversado, antes de eu receber sue presente, sobre a aproximação da linguagem de Mia Couto à linguagem de Guimarães Rosa. Eu me surpreendera com algumas páginas do escritor moçambicano e imediatamente fiz a ligação com o autor brasileiro. Somente muito mais tarde, num dos textos de Interinvenções descubro o tributo que faz Mia Couto a Guimarães Rosa.
Quem ainda não conhece qualquer livro de Mia Couto, saiba que está perdendo muito, muito mesmo…
por João Wanderley Geraldi | out 19, 2017 | Blog
Na atual política brasileira tudo é previsível quando a decisão cai nas mãos do Congresso, seja na casa dos senadores, seja na casa dos deputados. São casas deles, não são “casas do povo” já que a opinião do povo não vale nada. Nem a rejeição a Temer na estratosfera abala as certezas das decisões, sabidas desde sempre e para sempre. Apenas ficarão nos registros da história, para vergonha dos senadores e deputados. E estes usarão de seu poder de legislar para acharem brechas na “reforma política” para se eternizarem nos cargos através de eleições manipuladas por uma obra cá, outra lá, e pelos meandros próprios por que passam os votos na ação dos cabos eleitorais e na inconsistência política da população.
Aécio Neves, conhecidíssimo como Aécim, aquele do pó branco (trata-se de talco) foi flagrado em telefonema pedindo 2 milhões. Foi filmada a entrega de parte da dinheirama ao indicado pelo respeitável senador, aquele que “a gente mata antes de delatar”. Um primo do senador!
Seguindo a Constituição, apesar das controvérsias entre os ministros do STF, seu afastamento do mandato somente pode ser feito pelo próprio Senado. Havia sido afastado primeiro por decisão monocrática de um ministro, depois pela maioria de uma turma do STF, por fim reintegrado pelo pleno do mesmo tribunal. A bola foi passada para os senadores.
Os senadores, por ampla maioria, recebeu a bola e chutou para dentro: Aécio fica aqui, e ninguém tasca. Os descontentes podem ir reclamar ao bispo de sua diocese! Se fosse um senador de outro partido, digamos do PT, todos também saberiam de antemão o resultado: a execração pública na mídia e a votação quase unânime pelo afastamento. Ninguém sabe se, agora, haverá algum pedido de cassação por falta de decoro parlamentar (e isso ainda existe?), em requerimento a ser arquivado pelo presidente da Comissão de Ética (e isso também existe?) do Senado.
O palhaço deste episódio macabro é o PSDB. Vota pelo não afastamento do Aécim, mas exigem em reunião do mesmo dia que ele renuncie ao cargo de presidente do partido, cargo de que está licenciado. E diz o senhor Tasso: “O senador Aécio tem plena consciência que vivemos uma crise, que o partido enfrenta uma crise. Vivemos um momento muito delicado, que exige uma decisão definitiva. Não podemos mais ter uma situação provisória, mesmo que só até dezembro, quando acontece a convenção nacional”. (Leia mais: https://oglobo.globo.com/brasil/apos-retomar-mandato-aecio-pede-tempo-para-decidir-se-deixa-presidencia-do-psdb-21964325#ixzz4vxGNzR8U
stest )
Pois é: o cara é bom para ficar no Senado, porque senadores não cometem crimes (a não ser senadores de certo partido). Mas não é bom para ficar na presidência do partido que negociou com seus comparsas de outros partidos a permanência de Aécim no Senado. As coisas são assim: lá pode, cá não pode.
Quanto ao Temer e seus dois escudeiros, todos já sabiam: a denúncia será arquivada, seguindo o parecer favorável ao arquivamento já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Não pasmem: o relator é do mesmo partido de Aécim… cujo líder na Câmara, assim que apresentada a denúncia no STF, ofereceu todo apoio a Temer. Cômico: dentro do partido, o relator não obteve a maioria de seu partido!!!
Quer mais para saber que o PSDB acabou? Ah! Tem também a história do racha entre o criador e sua criatura: Alckmin e Doria. Mas isso já está tão manjado e deglutido e digerido e dada a descarga, que nem vale a pena trazer à baila.
por José Kuiava | out 17, 2017 | Blog
Os políticos parlamentares do Brasil podem cometer crimes e podem não ser condenados, nem punidos, nem castigados pelos crimes que cometem. E como acontece isso? No primeiro plano – na escala e palco do Legislativo – os políticos parlamentares inventam e aprovam leis geniais e garantem nas leis o “foro privilegiado”. E por força legal e jurídica deste foro – lugar e papel político de venda de votos para aprovação de programas e projetos do Executivo – gozam da deliciosa e salvadora “imunidade parlamentar”. Simples, assim: parlamentares corruptos não podem ser condenados, nem presos e não perdem o mandato político para o qual foram eleitos. Neste mesmo plano, os políticos parlamentares tem o cuidado inteligente e nobre de aprovar e autorizar salários e benefícios altíssimos, privilegiados, para si mesmos e para os juízes e promotores. Sempre e apenas por força da harmonia constitucional dos Três Poderes. No segundo plano – escala e palco do Judiciário – há juízes, vestidos rigorosamente de togas pretas de alta costura, que falam, falam, falam: “não podemos confundir imunidade com impunidade”; “precisamos ter cuidado com a judicialização dos processos de acusações dos parlamentares e demais políticos”; “vivemos hoje uma situação muito perigosa e não podemos discar o fósforo para verificar se há gasolina no tambor”, Gilmar Mendes no caso de Aécio. Se prender Aécio, o barril de criminosos do PSDB, PMDB e outros implode . E falam dos processos de acusação dos parlamentares numa linguagem inexata, imprecisa, passível de múltiplas e contraditórias interpretações de um mesmo processo, mesmo este tendo fatos reais comprovados de crimes em flagrante. Dependendo do parlamentar de que se trata, isso não é suficiente para a condenação. É como se dissessem: “não pode matar, nem roubar, nem corromper”. Já outros diriam: “porém, se for preciso, mate, roube, corrompa e serás absolvido, pois tens o foro privilegiado”.
Assim, neste jogo de ambivalência jurídica – no palco e na escala da harmonia legal porque constitucional, mas ilegítima – o Supremo Tribunal se divide: ora empata, ora desempata e neste jogo de correlação de forças de classes sociais o bloco hegemônico vota a favor das elites políticas e do capital, já o grupo menor vota pela condenação do Temer, Aécio e dos seus comparsas. Só que, mesmo o Supremo condenando os acusados por crimes reais, concretos, materiais, verídicos, com provas de crimes em flagrante, submete a decisão e condenação ao crivo do Senado. Esta decisão do Supremo de submeter ao Senado o julgamento final do Aécio é garantir a absolvição do Neves. Lá no Senado há a via de mão dupla uma aliança, cuja lógica é: você me absolve da minha condenação e eu te protejo dos seus crimes. Assim, salvar o colega Aécio é salvar a própria pele. Essa é a lei: afastar e condenar o senador Delcídio do PT, pode; afastar e prender o presidente do Parlamento Cunha, pode só depois do impeachment de Dilma; afastar e condenar o senador Aécio, não pode porque é contra a constituição.
A corrupção é universal. Isso é verdadeiro e triste, mas não justifica tantos crimes no Brasil de hoje. Fica aqui a dúvida e a pergunta: os juízes, os promotores, os advogados, os parlamentares e os políticos em geral não estudaram, não apreenderam o real e verdadeiro sentido dos princípios e valores da ética nas classes escolares universitárias e nos cursos de direito? Ou aprenderam e memorizaram os sentidos e valores históricos de ética e de moral somente para se dar bem nos trabalhos, nas provas e nos exames? O que é que eles entendem por ética na política? A questão é complexa para todos, para o mundo inteiro.
Ao contrário do “Crime e Castigo” de Dostoiévski – romance polifônico dialógico mais emblemático da literatura universal – aqui vigora o Crime sem Castigo. Até quanto?
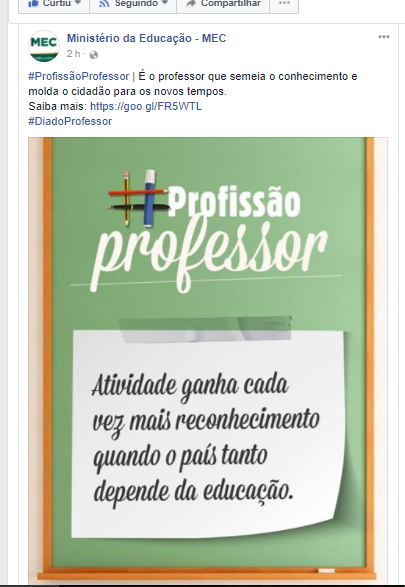
por Cristina Batista de Araújo | out 16, 2017 | Blog
O Ministério da Educação (MEC), em sua página no Facebook, publicou ontem uma homenagem ao professor.
Vejamos:
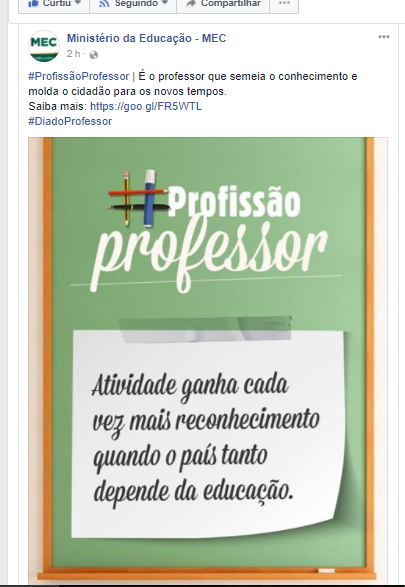
Deixando temporariamente à parte a ideia de que o professor é aquele que “molda o cidadão para os novos tempos”, a figura do cartaz colado no quadro-negro despertou minha atenção. Talvez pelo estranhamento de ver um quadro na vertical, ou por não encontrar um escrito à giz, ou ainda, por não entender a estratégia sintática da frase. Sei que essa sensação me conduziu a buscar no link indicado na postagem algo que fosse esclarecedor, e vi que se trata da primeira de uma série de reportagens a serem veiculadas pelo Portal do MEC que abordarão a ampliação do mercado de trabalho do professor. Em síntese, pelo que li, o professor não precisa ser só professor! Lembrei-me do ano de 1999, quando alguns alunos da sétima série, do Colégio de Aplicação da UFG, me perguntavam sobre o que eu fazia além de dar aulas.
Na matéria do Portal do MEC, encontramos o seguinte:
“O mercado de trabalho para o professor vai muito além da atuação nas escolas. Há duas opções de formação: bacharelado e licenciatura. Quando o acadêmico opta pelo bacharelado, o foco é exercer funções no mercado de trabalho; sendo assim, não pode seguir carreira de professor.
Quando o acadêmico opta pela habilitação em licenciatura, poderá continuar sua vida profissional atuando como professor, em escolas de educação infantil, ensino fundamental, médio ou acadêmico. Neste caso, ele pode se especializar em geografia, história, matemática, física, química, língua portuguesa, línguas estrangeiras, artes, entre outras.
Se sua opção é o bacharelado, poderá atuar em ONG’s, bibliotecas, hospitais, com mídias educativas, em pesquisa, com políticas educacionais, em consultorias, abrangendo diversos segmentos do mercado.”
De novo, o estranhamento! Seria um Novo Ensino Superior?
A matéria diz que o mercado de trabalho para o professor é amplo porque há duas opções de formação. Mas, ao escolher o bacharelado, não se pode ser professor. E se optar pela licenciatura, será professor e terá de se especializar e, pela linha de raciocínio do texto, não atuará em diversos segmentos do mercado. Pergunto: Qual é mesmo a opção?
O Novo Ensino Médio, embalado pela Base Nacional Curricular Comum, reforça que aprendemos a necessitar da escola e que as nossas atividades assumem a forma de relações de cliente, tal qual em outras instituições especializadas. E a formação docente? Seria ensinar as pessoas a se submeterem a padrões de mercado e não mais ser preciso colocá-las em seu lugar, porque elas mesmas se colocarão nos cantinhos indicados? Tanto se espremerão até caberem no nicho que lhes foi ensinado a procurar e, do mesmo modo, colocarão seus companheiros também em seus lugares, até que tudo e todos estejam acomodados?
Mas, e por que o estranhamento? Talvez pelo esquecimento de ter lido que:
“A escola vende currículo — um monte de bens de consumo feitos pelo mesmo processo e tendo a mesma estrutura que outras mercadorias. A produção do currículo começa com uma pretensa pesquisa científica na qual os engenheiros educacionais se baseiam para predizer a demanda futura e as ferramentas da linha de montagem, dentro dos limites traçados pelo orçamento e pelos tabus. O professor-distribuidor entrega o produto acabado ao aluno-consumidor cujas reações são cuidadosamente analisadas e tabuladas a fim de haver dados de pesquisa para a preparação do próximo modelo. O resultado do processo de produção curricular assemelha-se ao de qualquer outro processo mercadológico moderno. É uma embalagem de significados planejados, um pacote de valores, um bem de consumo cuja «propaganda dirigida» faz com que se torne vendável a um número suficientemente grande de pessoas para justificar o custo de produção. Ensina-se aos alunos-consumidores que adaptem seus desejos aos valores à venda. São levados a sentirem-se culpados caso não ajam de acordo com as predições da pesquisa de consumo, recebendo os graus e certificados que os colocarão na categoria de trabalho pela qual foram motivados a esperar.”
O fragmento acima é de Ivan Illich, escrito em 1970. E o estranhamento é só a reação de alguém que ainda não aprendeu a minimizar a capacidade de surpreender-se.
Obrigada, MEC.
Cristina de Araújo escreve neste blog às segundas-feiras.
por João Wanderley Geraldi | out 15, 2017 | Blog
Neste dia do professor, peço licença para homenagear a Profa. ANA LÚCIA VIEIRA MENEZES, uma professora eternamente batalhadora. Conheci-a no ano de 1980. Logo, nos tornamos irmãos e assumi que sou o pai branco da minha Carol, filha sua.
Não foi minha professora, antes minha aluna, mas foi quem me ensinou a esperança e a necessidade da luta. Com ela aprendi, em 1981, um lema que necessariamente deveria estar no horizonte daqueles que trabalham com educação continuada: o necessário respeito ao saber-fazer do professor, a partir do qual uma caminhada outra se torna possível.
Pensar na Aninha, queiram ou não seus adversários – e os há às pencas – é também pensar no Sindicato dos Trabalhadore em Educação do Estado de Sergipe – SINTESE. Dentre os sindicatos, o mais combativo e preocupado também com as práticas pedagógicas.Como sócio honorário do Sintese, quero deixar aqui meu registro: uma homenagem àqueles combatentes que fazem o Sintese diuturnamente em sua sede e subsedes.
De uma publicação deste Sindicato, retiro versos de um poema do Prof. José dos Santos
Coração Socialista
Há uma mulher…
Ela é mariojorgeAna de sangue
e “poesia visceral” revolucionária,
paulofreireAna irretocável por convicção e amor à humanidade,
sitneseAna de raiz fundante,
“Professora sim”, por vocação e consciência crítica
Educadora Popular, “tia não”,
alma guerreira, resistente, valente e serena
lembra Zumbi de Palmares,
zelosa da coisa pública,
perfeita na busca de fazer chegar
ao POVO – seu verdadeiro dono –
na forma de políticas públicas
o que dele usurparam os assassinos
sanguessugas mafiosos coroneis
gauturamas corruptos e corruptores
“vigaristas pilantras” … lacaios das empresas
nacionais e multinacionais exploradores do POVO.
[…]
Humanista popular, jamais populista
muito menos assistencialista,
antes de tudo caminhante
amorosa solidária feito rosas e margaridas
que transforma lutas em canções
para mudara Aracaju, Sergipe, o Brasil e o mundo
para melhro, em mundos mais bonitos
que proporcionem ao POVO, concretametne
um futuro aqui e agora anunciador
de pão, paz e beleza farto.
[…]
Há uma mulher sicnera… e Professora
a quem devemos justiça, e reverência!
cujo nome é coerência
porque vai e vai mesmo, destemidamente
desanuviando rumos, diminuindo a distância
entre o que diz e faz!
(José dos Santos, Utopia Peregrina, Aracaju : Sintese)
por João Wanderley Geraldi | out 14, 2017 | Blog
Este livro infanto-juvenil, escrito por Rudi Bohn, se apresenta como uma iniciação à filosofia, e pretende “o início de uma mudança”. Trata-se de uma aposta nas crianças e na reflexão a contrapelo das inúmeras e chamativas ideologizações patrocinadas pelo sistema, quer na família como unidade de consumo, quer na mídia como indústria cultural de formação das percepções de mundo, quer na escola em que circula o pensamento do vencedor (e sempre que o pensamento do vencido aparece, não faltam acusações de que se trata de reflexão partidária e é disso surgem as propostas de uma “escola sem partido”).
A história é simples: um general aposentado semanalmente veste seu uniforme e põe sobre a mesa seus 422 soldadinhos de chumbo, organizando uma batalha… soldado morto num flanco, reaparece vivo noutro, de modo que os soldadinhos terminam o dia exausto de tanto guerrearem. Repostos da caixa escura, guardados ao lado do uniforme de general, os soldadinhos se revoltam e elegem uma comissão que sai da caixa em duas missões: saber porque há guerra e encontrar um lugar para viverem tranquilos e sem guerra. Saem os três soldadinhos de chumbo e circulam pela vida da cidade: o primeiro, que dizia haver guerra por causa de comida (uma justificativa sempre presente na história, inclusive recente), viaja dentro da sacola de uma viúva de um soldado morto na guerra. E descobre na feira que há alimentos suficientes e que há muito desperdício de alimentos e não falta deles; um segundo viaja no bolso de um diretor de uma multinacional. Defendendo que a guerra é por causa do poder, descobre que o poder também pode ser útil às pessoas e à supressão da guerra. Restava-lhes conviver com crianças: elas não deveriam ter o menor interesse em guerra. Caem na mochila de um menino que os descobre e no intervalo todos brincam de guerra, e segundo um ponto de vista, a violência é “natural” nos humanos, nascemos violentos dentro de nós mesmos e depois esta violência se torna social. O livro não explora, no entanto, a hipótese de que o mundo dos adultos desde sempre conforma também as crianças. Resta, pois, uma posição anti-rousseauniana: não nascemos inocentes e depois nos tornamos violentos, mas nascemos maus desde sempre…
Por fim, os soldadinhos de chumbo encontram uma solução: a única forma de viverem em paz, sem guerra, seria viverem num museu! E para lá que fogem e esperam que todos os soldados do mundo venham viver num museu para que assim as guerras acabem.
O roteiro da história aqui resumida é muito interessante. À antropomorfização de soldadinhos de chumbo é o reverso de sua própria inspiração: eles são representações dos soldados reais, dos guerreiros reais sempre comandados por generais loucos para porem em prática suas estratégias de guerra aprendidas no estudo de guerras do passado. Torná-los seres vivos, pequenos mas pensantes, estes soldadinhos de chumbo desvelam um pouco do que vai na cabeça de cada convocado para as guerras em sucessão que acontecem no mundo, mesmo quando nos imaginamos em paz como agora. Com a doutrina de que “o mundo é um palco de guerra” introduzida na “diplomacia” norte-americana após o atentado terrorista de setembro, há guerra em diferentes locais do planeta, com a preferência óbvia pelo Oriente Médio onde se concentram as reservas petrolíferas do planeta.
Tomar consciência de que estamos vivendo num tempo de guerra, ainda que estejamos longe dela, é talvez o primeiro caminho de um processo que inicie uma mudança. Apostar, como faz este livro, na leitura e reflexão de crianças e adolescentes, descartando os dois principais argumentos usados para justificar as guerras, é já um começo. Como o livro é de 2003, talvez devesse ter trazido à baila um terceiro argumento que justifica as intervenções militares contemporâneas: o combate ao terrorismo pelo exercício do terrorismo. Acabar com o terrorismo através do terror: eis o que estamos vivendo e apoiando com nossos silêncios.
O livro Os 422 Soldadinhos de Chumbo do General deveria ser de leitura obrigatória nas escolas, não fossem estas também lugares de formação para o sistema de injustiças e de guerras em que estamos vivendo. Toda vez que uma escola se insurge contra os objetivos para os quais foi constituída, são seus agentes – os professores, os coordenadores, as direções – que são acusados de partidários, como se cumprir a missão de formação de espíritos “dóceis” para aceitarem a guerra não fosse também uma tomada de partido. Não há e nunca houve neutralidade na formação e educação de nossas crianças, seja na família, seja na escola. Por isso, reproduzimos hoje as mesmas guerras da antiguidade nas novas formas tecnológicas da engenharia de guerra, talvez a indústria mais desenvolvida do planeta.
Vamos a uma curiosidade de percursos de leitura. Comprei meu exemplar num sebo. Ao final do livro há algumas páginas em branco. Numa delas há um manuscrito, provavelmente texto de adulto, professor(a) ou não, isso pouco importa: “O que você(s) colocaria(m) no museu para que ficasse somente na lembrança das pessoas?”
A resposta: “As botas do general e a inveja. A segunda parte deste enunciado é legível mas foi apagada! Que terá acontecido numa possível correção feita à resposta dada? Certamente a correção foi guiada pelo fato de que a inveja, não sendo material, não poderia estar num museu. Também a inveja não aparece explicitamente como uma das causas da guerra. Aparece apenas implicitamente na discussão do poder. No entanto, a resposta da criança pondo a inveja no museu mantém o mundo da invenção própria do livro que está lendo. Se o museu é o lugar onde ficariam guardadas coisas que somente devem ficar na lembrança e não na prática da vida, por que não estarem no museu: a fome, o exercício da tirania e a inveja? Este seria o melhor museu do mundo: aquele em que não só objetos se tornam apenas ícones resposta corrigida.
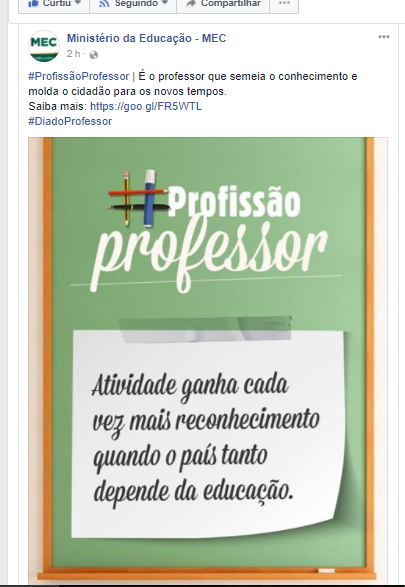
Comentários