Nota introdutória
No texto-gerador que remeti aos convidados desta mesa-redonda, havia tomado uma passagem (pela segunda vez) de Proust como epígrafe. Face à dinâmica do próprio Congresso, acrescento nesta “nota introdutória” três epígrafes-homenagens:
. Ao povo brasileiro, seguidamente logrado, é verdade, mas que falando hipoteticamente ou parataticamente, tem sabido compreender mais do que monossílabos, embora lhe sobrem somente partes monossilábicas da riqueza que produz para o consumo polissilábico de uma pequena minoria;
. A Paulo Freire, que obviamente não assessorou o Mobral, na década de 70;
. À feijoada brasileira, invenção escrava, a mostrar que nem sempre nem obrigatoriamente o gosto tem que ser “enformado” num enlatado (cultural ou alimentar).
… nossa sabedoria começa onde a do autor termina, e gostaríamos que ele nos desse respostas, quando tudo o que ele pode fazer é dar-nos desejos. (Proust. Sobre a leitura)
Pelas indicações dadas por Manacorda em seu estudo sobre a sociedade e educação no antigo Egito, nota-se que a preocupação com a linguagem e com seu ensino é uma constante na história. Um fragmento citado pelo autor ilustra como a questão era fundamental e em que sentido era fundamental:
Se a sua boca procede com palavras indignas, tu deves dominá-lo em sua boca, inteiramente… A palavra é mais difícil do que qualquer trabalho, e seu conhecedor é aquele que sabe usá-la a propósito. São artistas aqueles que falam no conselho… Reparem todos que são eles que aplacam a multidão, e que sem eles não se consegue nenhuma riqueza. (Do ensinamento de Ptahhotep , vizir do rei Isesi, da 4ª. dinastia – 2450 a. C.)
Dois mil e quinhentos anos de Quintiliano, o ensinamento de Ptahhotep lança as bases dos estudos da oratória, apontando com clareza meridiana que a formação das castas dirigentes envolve o domínio da linguagem.
Evidentemente, as diferentes respostas dadas para esta formação especificada variaram ao longo da história, pois tais respostas estão/estarão estreitamente entrelaçadas às necessidades e momentos políticos vividos em cada civilização. Ao tempo de Ptahhotep a escrita já existia, mas era aos escribas que cabia a técnica da escrita, e ao dirigente a fala no conselho. Mas a escrita, “que guarda a recordação de tudo e é a mãe das Musas”, rapidamente deixa de ser um mero saber técnico. Mais oumenos quatrocentos anos depois de Ptahhotep, já se pode ler numa antologia escolar egípcia:
Os escribas cheios de sabedoria, do tempo que seguiu ao dos deuses… escolheram como próprios herdeiros os livros e os ensinamentos que deixaram. Elegeram como sacerdote ritualista o rolo de papiro; da prancheta da escola, fizeram seu filho preferido. Os ensinamentos são as suas pirâmides; o cálamo, o seu filho; a prancheta de pedra sua esposa; do grande ao pequeno, todos se entregam a eles como filhos, porque os escribas estão à frente … E são chamados pelos livros que escreveram… (Manacorda, História da Educação. Cortez/Autores Associados, 1989:31)
Se antes, para o exercício do comando bastava o domínio da palavra falada, e a escrita servia apenas para o registro histórico, agora um sábio já não se faz sem sua bagagem de livros. E o domínio da técnica de ler e escrever tornar o escriba não só aquele que tem a chave de acesso à sabedoria historicamente produzida e registrada, mas também o produtor desta sabedoria: leitores dos registros dos “tempos dos deuses” dão às palavras do passado a interpretação no presente. Entre a força do dizer e a força do fazer, introduz-se uma nova forma de construção da força do que diz: a autoridade do saber, um saber que não mais deriva diretamente da fala dos deuses, mas um saber que se funda na recolha dos saberes registrados a que a leitura dá acesso.
Muitos anos nos separam dos antigos egípcios; as sociedades contemporâneas são muito mais complexas; aparentemente não vivemos mais em sociedades de castas; formas novas de registros de saberes estão povoando nosso cotidiano. Entretanto, continuamos às voltas com uma questão básica, a do acesso ao saber e, consequentemente ao poder do saber.
Numa sociedade que se quer construir democrática, o direito de acesso à cultura historicamente produzida passa pelo problema da leitura, e para ler não basta dominar técnicas de registro: o mero domínio de um alfabeto pode produzir outros tantos Walfried Strabo, que depois de muito zelo aprendeu a “ler” textos em latim e surpreendeu-se com um pequeno livrinho em alemão, “maravilhado porque era possível ler e, ao mesmo tempo, entender o que tinha lido”.
Esquadrinhada por muitas pesquisas, nosso feliz gosto pelo detalhe vem apontando cada vez maior quantidade de questões envolvidas no ato de ler. Evidentemente, a estas questões por si sós de difícil tratamento, associam-se outras de ordem social que, respondendo a um projeto de manutenção e aprofundamento da atual estrutura da sociedade, complicam ainda mais a ação pedagógica daqueles que se dedicam ao ensino da leitura. Sem qualquer demérito aos estudos de detalhe, mas, ao contrário, a partir deles, toma-se consciência de que um projeto de democratização da leitura caminha junto a um projeto de democratização da própria sociedade. É absolutamente impossível a formação da cidadania quando se recusam ao cidadão os meios de sobrevivência, que numa sociedade como a nossa inclui o direito à leitura. E de uma leitura cuja prática não se dá pelo reconhecimento de um sentido dos textos que se leem, mas de uma leitura cuja prática seja a da construção de sentidos, nas contrapalavras que o leitor traz às palavras do autor.
Numa tal perspectiva, a alfabetização é apenas um primeiro passo, inicial, de um processo que deveria ser, a partir de então, uma constante. Pela leitura, ampliam-se para o leitor suas possibilidades de interlocução e, consequentemente, suas possibilidades de construção de categorias de compreensão do mundo: constituímo-nos nesse processo e, quando a sociedade recusa ao cidadão o direito de ler está recusando a ampliação de suas possibilidades de constituição enquanto sujeito. Note-se que não se está defendendo que somente pela leitura um sujeito se constitui como cidadão. Defender um tal ponto de vista, além de fetichizar o livro e a leitura, seria recusar evidências óbvias. O que se está defendendo é que somos o que somos graças aos processos interlocutivos de que participamos e de nossa ação neles. É neste sentido que a escolarização, ao possibilitar a aprendizagem da escrita, aprendizagem que exige mediadores, pode expandir as oportunidades de participação nestes processos.
A ênfase no “pode” não é gratuita. Em breve exercício de montagem, extraindo falas de alguns autores que discutiram questões de ensino da língua nos últimos cem anos, perplexo, surpreendo-me com a morosidade da escuta: desde Rui Barbosa insiste-se que a aprendizagem da linguagem se dá pela prática linguística e não pelo domínio de conceitos de análise da língua. E é no contexto de uma prática de linguagem que se situa a leitura – encontro entre sujeitos – (e não estou pensando num sujeito ex-nihilo mas num sujeito heterogêneo e ideologicamente constituído) que não cabe ao professor apenas testemunhar: enquanto sujeito, também ele leitor, é sua tarefa acompanhar a caminhada interpretativa do leitor que se forma, apontando pistas, restabelecendo passos para compreender que contrapalavras seu aluno trouxe para o texto que lê, produzindo a compreensão que produziu.
Nos últimos anos, grande número de pesquisadores tem associado a seu trabalho de reflexão tentativas de ação em escolas ou fora delas, buscando tornar a leitura uma prática social efetiva. Utopistas ou não, a maioria deles compartilha a crença de que não é possível cruzar os braços esperando que mudem as condições sociais concretas para que o acesso ao saber possa se dar. Apostando nas frinchas de uma estrutura que se quer eterna, tem apontado alternativas para um trabalho escolar aqui e agora que se some ao conjunto dos movimentos sociais de construção de uma sociedade democrática. Defendendo a leitura crítica, lúcida, ou processual, o fato mais importante é que tornaram a leitura um tema compreendido hoje como uma questão bem mais complexa do que um simples exercício de preencher espaços em branco de uma lição de casa.
Num tal quadro e considerando a) que uma leitura crítica não se faz sem categorias outras que, como contrapontos, dialogam com as categorias que orientaram a produção; b) a situação efetiva da prática escolar, cujos conteúdos se definem numa relação muito particular entre injunções internas e externas à própria escola mudar de linha como pensar a formação de um leitor crítico, no ambiente escolar ou fora dele, escolarizado?
Nota
Por anos seguidos participei dos Congressos de Leitura do Brasil – os concorridos COLEs, eventos em que a voz dos professores podia ser ouvida, sem que necessariamente fossem professores universitários. Possivelmente, à época, um dos eventos científicos mais democráticos no sentido da disponibilidade de espaço para falas que não procedessem da academia: experiências levadas a efeito por professores; reflexões sobre a leitura na escola; tentativas de construção de concepções e mesmo teorias: tudo aparecia na programação e nas comunicações apresentadas. Desde o terceiro COLE estive presente, inicialmente apresentando uma comunicação com base no projeto em desenvolvimento em Aracaju, elaborado por Nilma Gois Fonseca e por mim, em 1983 (O circuito do livro e a escola, texto incluído na coletânea “O Texto na Sala de Aula”).
O texto que se segue foi elaborado para participação na mesa-redonda “A leitura crítica na e sua promoção na escola”, de que participaram a Profa. Alfredina Nery, do ensino básico; o escritor Elias José; o editor Fernando Paixão (Ática, na época); Maria Antonieta Antunes Cunha (UFMG/ Câmara Mineira do Livro). A mesa tentava, portanto, trazer a voz de diferentes formas de atuação na produção, circulação e leitura de livros. O texto que segue deveria ter tido a função de deflagrador das discussões que ocorreriam (e ocorreram). Ele foi publicado nos Anais do 8o. COLE (Leitura: autonomia, trabalho e cidadania). Campinas, ALB, 1992:195-198. Não tenho qualquer lembrança da razão de ter feito a nota prévia, com “epígrafes-homenagens”. Certamente é fácil saber a razão para a referência a Paulo Freire, com quem àquela altura compartilhara a oferta de disciplinas no programa de pós-graduação em Educação da FE/Unicamp. Falar de leitura é lembrar Paulo Freire. As outras duas “homenagens” devem provir das discussões havidas em sessões anteriores do Congresso.
Por fim, o leitor notará que aqui, como em vários outros textos, ocupo-me dos mesmos problemas, manuseando uma bibliografia seguidamente citada. Repetem-se aqui passagens de outros textos. A atividade militante não esconde o retorno às mesmas ideias, a textos anteriores e aos mesmos autores, o que se esconde sem sucesso na produção de textos “científicos”, particularmente aqueles que falam “sobre” e não produzem senão comentários, com alegada “neutralidade”.
João Wanderley Geraldi é reconhecido pesquisador da linguística brasileira e formou gerações de professores em nosso país. Há já alguns anos iniciou esta carreira de cronista-blogueiro e foi juntando mais leitores e colaboradores. O nome de seu blog vem de sua obra mais importante, Portos de Passagem, um verdadeiro marco em nossa Educação, ao lado de O texto na sala de aula, A aula como acontecimento, entre outros. Como pesquisador, é um dos mais reconhecidos intérpretes e divulgadores da Obra de Mikhail Bakhtin no Brasil, tendo publicado inúmeros livros e artigos sobre a teoria do autor russo.
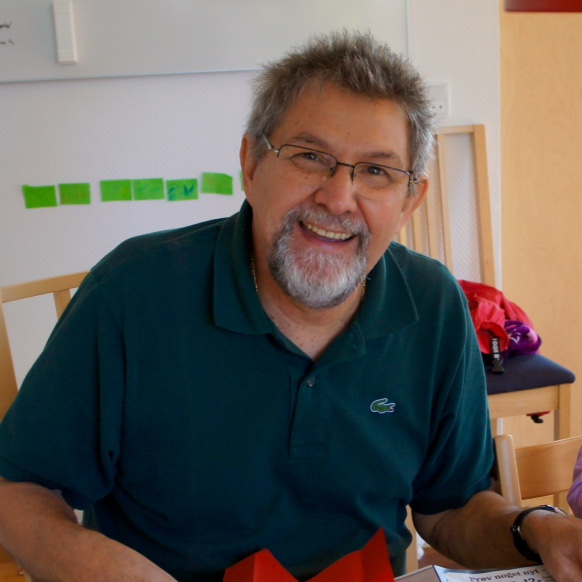
help with coursework http://courseworkhelpxeg.com/ – coursework on a resume п»їcoursework coursework questions degree coursework
money loans short term http://shorttermloanshek.com/ – short term cash loans london short term cash loans for students cash crusaders short term loans short term cash loans bad credit
online payday loans for georgia residents [url=http://onlineloansdhx.com/]online payday loans legal[/url] what the best online payday loan company orange cash loans online best online payday loan sites
quick cash loans amarillo http://quickloansrgl.com/ – quick cash loans online australia quick loan advance where to get quick cash loans quick cash loan adelaide
quick cash loans with no credit check http://quickloansrgl.com/ – quick cash loans glasgow quick cash long term loans quick cash loans washington mo quick small payday loans
pharmacy drugs store https://pharmacystorefvnh.com/ – world pharmacy store reviews walgreens pharmacy store cvs store hours pharmacy target store pharmacy