O conselho tecido na substância viva da existência tem um nome: sabedoria. A arte de narrar está definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está em extinção. (Walter Benjamin)
Introdução
Inicio contando um diálogo com dois colegas da Universidade de Siegen (Alemanha) quando estive lá como pesquisador visitante, hóspede do Prof. Bernrd Fichtner e María Benites. Num jantar, também regado a vinho, tive coragem de fazer uma pergunta que sempre me intrigou e eu queria ouvir a resposta de um amigo cujo pai morreu em campo de concentração porque era o chefe do partido comunista da aldeia em que moravam. E como consequência disso, o Prof. Fichtner, pelo seu sobrenome, teve inúmeras dificuldades para ser contratado depois de concursos em universidades alemãs, muitos anos depois de encerrada a guerra, mas em plena guerra fria. Seu contrato na Universidade de Siegen foi possível porque o reitor de então colocou seu cargo à disposição do Ministério caso a liberdade acadêmica fosse recusada à universidade que dirigia. Nada melhor do que dirigir a pergunta precisamente a um dos que sofreu na infância pela orfandade não da guerra, mas da perseguição ideológica e que continuou a sofrer nos começos da sua carreira universitária pela perseguição política a um sobrenome!
Queria saber “- Como o povo alemão não notou o que estava acontecendo nos tempos de Hitler?”
Recebi uma resposta que me fez calar: “- Como vocês, brasileiros, conseguem caminhar pelas ruas de suas cidades vendo pessoas dormirem no chão das calçadas, sem teto, sem comida, sem nada?”
Desde então, a questão da sensibilidade me fustiga. Como chegamos à insensibilidade? Como construímos relações sociais tais que naturalizam a miséria, que cegam os passantes que não as veem e que segam, ceifam os futuros de milhões de habitantes do planeta?
—————–oo0oo——————-
- As guerras e a bestialidade humana
Aceitemos, antes de tudo, que os horrores das guerras brutalizam os homens; o sangue e a morte nas trincheiras transtornam: a guerra é um espaço impossível para a sensibilidade. Mas as guerras sempre existiram, pode-se responder. Sim, existiram porque o mal, desde a Antiguidade, sempre foi considerado o outro, o estrangeiro; e feios foram considerados seus modos de vida, seus vestuários e indigestas suas comidas: os franceses eram criticados pelos ingleses por comerem rãs; os ocidentais consideram inaceitável que chineses comam cães!
Do medo do Outro, do estrangeiro, associado ao desejo de posse e poder, surgiram as guerras. E as guerras destroem não só as cidades e os homens que nelas morrem: desconstroem a humanidade que o processo civilizatório, a duras penas, foi fazendo emergir em cada um de nós. Estes momentos de catástrofes que continuam a assolar a humanidade nas atuais guerras localizadas persistem e insistem: os bombardeiros teleguiados, os mísseis enviados de longe, tudo não deixa de martirizar o Outro que foi tomado como inimigo. Nos dias atuais, sem sombra de dúvidas, este Outro demonizado são os muçulmanos, cujos fanatismos se aprofundaram precisamente porque foi a única fórmula que encontraram para sobreviver ao martírio constante iniciado desde a Guerra do Iraque, passando pela fabricada “primavera árabe”, continuada no Afeganistão pelo Nobel da Paz Barack Obama e ampliada para a Síria por um demente que governa a maior potência bélica do mundo.
No mundo moderno, que sempre representou o inimigo religioso ou nacional com feições grotescas, nasce a caricatura política. Foram ferozes, na época da Reforma, as caricaturas com as quais protestantes e católicos representavam o papa e Lutero. […] Entre os séculos XIX e XX temos a caricatura anticlerical. (Eco, 2007, p. 190)
Para os brasileiros que estão vivendo estes tempos sombrios e tenebrosos, não é necessário lembrar como a imprensa marrom, entre nós representada pela revista VEJA, vem caracaturizando lideranças populares e políticos que de alguma forma ou outra lutam por outras relações sociais no mundo da capitalismo financeiro.
Em um romance notável, O Relatório Lugano, de Susan George, jornalista e escritora, toma como seus personagens os supostos cem maiores cientistas do planeta, reunidos no final do Séc. XX, para realizarem as seguintes tarefas (2002, p. 25):
- a de identificar as ameaças ao sistema capitalista liberal e os obstáculos para sua generalização e preservação à medida que adentramos o novo milênio;
- a de examinar o presente curso da economia mundial à luz dessas ameaças e obstáculos;
- a de recomendar estratégias, medidas concretas e mudanças de rumo com o objetivo de ampliar ao máximo as possibilidades que o sistema capitalista de mercado aberto globalizado proporcionará.
Sob o crivo do grupo, passaram os problemas mais graves do mundo contemporâneo: o crescimento populacional; a crise ecológica, o capitalismo de quadrilhas (que levou à crise ainda não superada de 2007/2008); a exaustão dos recursos naturais; os extremismos de diferentes naturezas – fanatismo religioso ou nacionalismo fascista, etc. A cada dia os cientistas-personagens recebiam as instruções e as pautas de discussão. Tudo num mundo ficcional compreensível. Susan George simula debates, estabelece relações amorosas, construindo um enredo que enreda o leitor.
Mas é surpreendente que a recomendação principal das personagens-cientistas será a redução da população do planeta em, no mínimo, dois bilhões de pessoas, sugerindo que isso se faça por guerras localizadas, em territórios definidos. O ideal para o planeta seria uma população que não ultrapassasse 4 bilhões (hoje a população é de 7,6 bilhões – http://www.worldometers.info/br/). O esforço de guerra, diziam os cientistas, levaria à produção, a indústria continuaria a produzir e a ciranda financeira poderia permanecer por mais uns 100 anos.
- A velocidade e a obsolescência
Talvez se possa atribuir às guerras a bestialidade que nos habita, uma suposta violência inata que tornaria letra morta as interpretações de Rousseau e do bom selvagem ou da criança de natureza livre e boa. Mas também ruiria a consciência cristã incutida pelo Espírito Santo na pia batismal que nos permitiria distinguir o bem do mal. E tantas outras interpretações metafísicas do modo de constituição do homem. Restaria sempre pensar nas condições que nos fazem ser o que somos, como chegamos a ser o que somos: retomar, portanto, os estudos dos processos civilizatórios apesar da barbárie que nos circunda.
Para fazer isso, teremos que pôr sob exame os valores da sociedade contemporânea. E entre estes valores, um deles se sobressai: a velocidade. Vivemos um tempo veloz. Ninguém tem tempo de ócio, todos correm. Para onde? Não se trata simplesmente da velocidade conseguida pelas novas tecnologias. Também as tecnologias tradicionais, se examinadas, mostraram que há mais ou menos 150 anos procuramos desenvolver máquinas que nos tornem velozes: desde os carros com alavancas ainda puxados por cavalos, os carros, os aviões supersônicos e os drones contemporâneos. Deslocamentos rápidos. Objetos teleguiados. Se isto foi um bem para a humanidade, trouxe também um efeito colateral que a cada vez se aprofunda mais: o desenraizamento. Com a internet, nos tornamos habitantes do mundo, estamos aqui e em outros lugares. Ou em lugar algum. Tornamo-nos virtuais, velozes e … obsoletos.
Com uma rapidez espantosa, fomos galgando outros patamares graças às tecnologias. Para não ficarmos apenas na literatura, lembremos outra arte: Cinema Paradiso, filme de Giuseppe Tornatore que focaliza os primórdios das salas de projeção nos centros das cidades a que acorriam os habitantes. Era o máximo de tecnologia. E uma vida em comunidade era suspensa durante os filmes, vivendo a ficção da tela por momentos, mas sempre em conjunto de modo que o estar ali vendo era um estar com os outros. No entanto, os cinemas desapareceram das cidades e se recolheram às catedrais contemporâneas, os shopping-centers. Vai-se ao cinema quando se cansa de ficar em casa, porque os filmes que se podem ver estão disponíveis em diferentes canais da TV, no Netflix e outras empresas semelhantes.
Mas nesta área nossa geração passou por mudanças constantes: nem bem sabíamos usar o vídeo – em torno dele surgiram inúmeros negócios que estão hoje esquecidos – passamos para o DVD e nem chegamos a aprender a usar todas as potencialidades do aparelho e já estamos com o Blue-Ray. O cinema veio para dentro de casa; não se vai ao cinema, ninguém se arruma para ver um filme: vê-se filme de pijama em casa, no sofá.
Não se trata de imaginar que estou pensando que isso não deveria ter acontecido! Quanto mais facilidade houver de acesso do povo à arte, melhor será. O que estou apontando como uma consequência tenebrosa é a obsolescência produzida e desnecessária.
Quando o apanágio de uma sociedade se tornou a velocidade, a obsolescência se torna uma necessidade. As novas tecnologias e os novos aparelhos cada vez mais sofisticados vêm criando um lixo eletrônico que o planeta, cujos recursos são finitos, não poderá aguentar para sempre. Talvez uma parada; talvez pudéssemos continuar com nossos telefones celulares sem trocá-los pela mais recente invenção da Apple, da Samsung ou de qualquer outra empresa.
Quando a mercadoria se tornou a marca social; quando o consumo do novo se tornou símbolo de progresso pessoal; quando ao lado da miséria encontramos todas as mercadorias consumíveis no supermercado, quando tudo isso nos aconteceu e nos tornamos nós próprios mercadorias e portadores de mercadorias, chegamos a um ponto em que tudo deve passar rápido. Ora, todo sentimento perdura. Então é preciso jogar o sentimento para a cesta do lixo. E com isso se cumpre o projeto da modernidade: a razão sem sentimentos afastou do mundo a sabedoria, que é o lado épico da verdade como disse um dia Walter Benjamin (1994): “Não há tempo para nada. Todos nos queixamos da falta de tempo. Precisamos seguir velozmente, mas para onde?”.
- Desde quando o falso se tornou um valor?
Há pouco tempo estive lendo um livro de Paulo Setúbal – Nos Bastidores da História. Uma leitura deliciosa para os tempos que correm, porque se volta atrás na linguagem e no que ocupava o pensamento das pessoas. O livro é de 1928, mas o que conta como “bastidores da história” é do tempo do primeiro e segundo Impérios e do começo da república. Ele nos soa hoje como se fossem crônicas de fofocas (e elas foram publicadas inicialmente em jornais). Para usufruirmos um pouco destas “fofocas”, tomemos a crônica dedicada a Dona Carlota Joaquina.
O autor explora o fato de que D. João VI e sua mulher, Carlota Joaquina, simplesmente se detestavam! Jamais estavam juntos a não ser quando o protocolo o exigia. Chega a pormenores: quando D. João adoecia, Carlota Joaquina o visitava e cuidava dele; quando Carlota estava doente, D. João não aparecia… Também é sabido que D. Carlota, nossa primeira rainha, detestava o Brasil, tanto que no retorno, ao chegar a Lisboa, dizem que jogou ao mar (ou ao Tejo?) os sapatos que usava porque desta terra não queria levar nem um grão de pó! “Não teve ainda esta nossa pobre, inofensiva terra de papagaios, detratora tão azeda e tão feroz…” A fofoca desta crônica fica por conta dos amores de D. Carlota com Fernando Carneiro Leão, casado com a ciumenta D. Gertrudes.
A rainha fez loucuras pelo moço. Mas Fernando Carneiro Leão era casado e tinha mulher ciumenta. A mulher, D. Gertrudes Pedra, enfureceu-se. Disse coisas tremendas contra D. Carlota. Não houve impropérios, por mais nus, que o ciúme não fizesse espumejar na boca da enganada. A rainha soube daquelas iras. O seu orgulho, evidentemente, não sofreu o ser assim violentamente ultrajada por uma mulherinha.
Aconteceu um dia que D. Gertrudes é assassinada. D. João ordena que o desembargador Albano Fragoso investigasse. E depois dessa investigação, D. João recebe o desembargador:
– Que apurou, desembargador?
– Senhor! Como juiz, sei quem mandou matar a D. Gertrudes, mulher de Fernando Carneio Leão. As peças do processo não deixam dúvida.
– Muito bem. Então?
– Como homem, Majestade, eu não sei!
João intrigou-se. Determinou:
– Ordeno que fale!
– Vossa Majestade ordena-me. Não tenho que discutir. Cumpro as ordens de V. Majestade: foi a Rainha, minha senhora, quem mandou o mulato Corta-Orelha assassinar a D. Gertrudes. Vossa Majestade poderá constatá-lo neste processo…
Lá arremata o cronista:
“D. João, aturdido com o que ouviu da boca do desembargador José Albano Fragoso, disse ao juiz:
– Convém que desapareça, para sempre, mais este escândalo de minha mulher.
“Tomou o processo, leu-o, e mandou queimar a papelada. Nunca mais se falou em juízo deste crime.”
Como se sabe, a “fofoca” tem que parecer verdade para fazer sentido, mas também tem que parecer exagero. Ela pode ter um fundo de alguma verdade, mas em geral a fofoca tem por base a invenção mentirosa. A mentira com seus exageros.
Parece que a inverdade passou a valor a partir da “publicidade e propaganda”. O marketing mente, todos sabemos. Em minha cidade, com frequência ouço uma estação de rádio que se apresenta como “a rádio online mais ouvida do Brasil”. Trata-se de uma FM que há poucos quilômetros de distância da cidade desaparece. O marketing da emissora não poderia dizer “a mais ouvida do Brasil” porque isso tornaria o enunciado ridículo e ridicularizável. Mas ao dizer “a rádio online”, o ouvinte não tem a mínima chance de verificar se há alguma verdade no enunciado. Para a dicção do marketing não importa qualquer verificação de verdade. Continuará a dizer de qualquer coisa que é “a melhor” e nossos ouvidos esqueceram de escutar e nosso cérebro de pensar. A falsidade passa por verdade.
Da fofoca para o marketing, do marketing para os vazamentos de informações sigilosas até chegar às Fake News: vivemos num mundo em que a não-verdade se tornou tão comum, tão presente, de convívio constante, que foi preciso cunhar o conceito de “pós-verdade”. Não é preciso trazer exemplos das consequências da eleição do falso como valor social. Suas consequências são gritantes: desde a destruição de sujeitos jogados na lama até guerras moralmente justificadas numa inverdade, como foi o caso das “armas atômicas” de Sadan Houssein com que, sabendo que era mentira, Bush desencadeou a guerra do Iraque. Logo saberemos que o bombardeio da Síria, além de imoral e diplomaticamente desastroso, foi justificado numa mentira.
E o pior é que no mundo da pós-verdade as mentiras deslavadas são apontadas quase instantaneamente e nada acontece! Particularmente as mentiras ou meias verdades da imprensa tradicional. Destrói-se a vida dos “outros”, aqueles que não comungam com o mercado e com o neoliberalismo, e nada, mas absolutamente nada acontece! E na semana seguinte as mesmas capas, os mesmos dizeres. A honra de dizer o apurado, de dizer o mais fielmente possível o acontecido se tornou obsoleta.
- A banalização da vida
Para além da circulação do não verdadeiro, da meia verdade ou mesmo da falsidade, algo mais sutil e menos visível vem acontecendo: a banalização da vida pela espetacularização de tudo. Há um acidente com um morto no asfalto, a TV sem autorização dos familiares, filma, divulga, torna ‘acontecimento’ sem sequer pedir licença! Vai mesmo aos empurrões, cinegrafista e repórter estão junto do fato. Não importa a imagem mutilada, o sofrimento ali, presente. Importa a imagem. Importa conseguir uma manchete. Importa chegar ao nacional… e se possível ao internacional: fazer virar notícia. E faz-se tudo em nome do sagrado princípio da “liberdade de expressão”, como se por direito divino o exercício jornalístico desta liberdade permitisse a exploração do corpo e do sentimento das pessoas.
E o pior veio junto: muitos intelectuais fazem questão de estarem “na mídia”. Juízes se tornaram atores mais do que julgadores. Delegados não precisam investigar, basta dar entrevistas… Tudo é uma questão de imagem.
Em prosa poética, Mara Emília Gomes Gonçalves registra a tragédia do 1º. de maio de 2018, o incêndio do Edifício Wilton Paes de Almeida, ocupado por “sem tetos” numa sociedade em que há 100 milhões de pobres e 6 bilionários que detém a mesma riqueza que despossuem estes mesmos 100 milhões:
“A tragédia colocada no Primeiro de Maio anuncia as dificuldades e tormentas de um tempo vindouro muito mais do que a bonita música de Alceu Valença: “tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais…”. E os sinais não são sutis e se apressam pelo tempo da desesperança.
Assistimos entorpecidos pela incredibilidade e pela fúria ensandecida dos que se opõem. Mostram a tragédia invertendo culpas e vítimas, não aproximam as câmeras, não “intimizam” os ângulos de forma que apareçam estragos e ruínas, não precisam estar humanizados.
Aproveitam as imagens do fogo que consome tudo, é ainda o mesmo fogo que queimou hereges, rebeldes, bruxas e curandeiras. Não vasculham sequer a dor das perdas, como se não fossem humanos por não ter: – não perderam nada, os que nada tinham!
E assim figuras blasés pululam em inserções midiáticas com seus comentários realizados em tons elegantes e, por vezes, sofisticados, dotados de sentidos absurdamente envernizados de ordem e bons costumes, um disfarce ideal num mundo desigual para iguais.
O que temos nós se não as vidas? As nossas próprias vidas e de mais ninguém? Teremos tempo? Compaixão? Respeito? Teremos amor? Teremos futuro? E as perguntas fazem um processo inverso ao erguer de um muro, como se fosse possível cada pergunta encerra em mim um tijolo, e um vazio enche meu peito e cabeça.” (disponível em https://blogdogeraldi.github.io/uma-dor-habitando-meu-peito-e-desabrigada-de-humanidade/?preview=true#.WuuREYS02nM.facebook )
O filósofo espanhol José Luís Pardo analisa esta banalização produzida pela mídia a partir da seguinte hipótese: “o significado de uma comunicação audiovisual é um conjunto de diretrizes para seu esquecimento, um convite à amnésia. Neste sentido é irrelevante dizermos que as mídias são banais, é desnecessário recordar suas mensagens, estamos seguros de sua reprodução, tornam supérflua toda memória.”(Pardo, 1989, p.25)
Ora, o que não é memorável, que não merece guarda, é banal, é corriqueiro. Com a tecnologia da produção de mensagens televisivas, e depois com todas as possibilidades de arquivo de tudo, a memória já não é mais corporal, não é interna. A memória é externa, está nos arquivos, no computador e no celular, nas “nuvens”. E por lá ficam à disposição, de modo que o memorável é um arquivo revisitável, não uma experiência irrepetível, um amor abrasador, uma paixão avassaladora, e… uma leitura que nos toca, que nos move, que nos comove.
Nada disso é necessário guardar: ponha no arquivo e esqueça por lá, porque amanhã haverá outras mensagens, aos borbotões; outros arquivos a salvar; outras experiências – outro edifício pegará fogo!; outros amores, outra paixão. Coisas para serem postas “nas nuvens”, desde que não fiquem em nós, não nos incomodem, não nos movam, não nos tirem da rotina do cotidiano corrido. Que sejam apenas informações rápidas, que outra imagem vem logo, outra reportagem. Virem a página! é a ordem que nos dão sem nada dizerem. E no sem tempo… para a sentir a vida se torna superficial.
- A violência que nos confina
A construção da esclerose da sensibilidade tem outro fator: a violência. Num mundo em que milhões são postos à margem, e da margem veem pelas imagens o que é a vida dos incluídos, não se poderia esperar que, confinados às periferias, nada os provocasse à revolta. Não uma revolta que ponha o mundo de cabeça para baixo, infelizmente. Mas uma revolta contra o fato de não estarem lá, de haver as mercadorias à disposição, mas não poderem ser adquiridas por seus bolsos ou para seus focinhos! É a inclusão no mercado de consumo, é “ser mercadoria” (Bauman, 2008) que leva à violência física a que estamos assistindo e com que estamos convivendo. No entanto é preciso reconhecer: esta violência é diariamente incentivada pelas imagens da publicidade e propaganda, mostrando um mundo disponível e inacessível.
Provavelmente o melhor romance que retratou recentemente esta triste realidade de vivermos assombrados e de criarmos diariamente os motivos de nosso assombro, é a obra de Isabel Moustakas, Esta terra selvagem. Quando o ódio e a intolerância assombram uma cidade:
“A bandeira está precisando ser lavada”, disse Saulo, como se adivinhasse par aonde eu olhava. “A bandeira. A cidade. O país”.
Abri um sorriso. É sempre engraçado esse tipo de conversa. Passar o Brasil a limpo. Lavar, higienizar. Sempre me lembrava de Travis Bickle antecipando (ou profetizando, vai saber) a “chuva de verdade” que viria (virá?) limpar tudo. O problema é que a “chuva de verdade” desses caras é quase sempre uma mistura de sangue e merda. Mais sangue do que merda, muito mais. Daí que esses papos são engraçados, mas de um jeito perigoso. (p. 49-50)
Numa cidade de assassinatos em que quadrilhas armadas executam à vontade, e com frequência cada vez maior, graças às possibilidades de filmagens amadoras e das muitas câmaras de segurança espalhadas por toda parte vigiando a todos, tem sido possível enxergar policiais executando pessoas a sangue frio. Vale a pena acompanhar as reflexões do repórter, João, o personagem-narrador da história, que anda acompanhando as ações de uma milícia de extermínio na maior cidade do país, ambiente do romance. Um bando que usava “cadarços verde-amarelos. Calças pretas, camisas brancas. Máscaras. Suásticas nas cores da bandeira”.
Tem acontecido um monte de coisas nos últimos meses. Um monte de ações que podem ou não estar ligadas a esse grupo em particular. Quer dizer, pode ser paranoia minha, mas fico pensando no que a Marta me contou, o velho dizendo pra ela que era só o começo, que a hora estava chegando, e isso foi há mais de sete meses. Muita coisa escrota tem rolado desde então. É claro que sempre teve babaca tentando vandalizar sinagoga e espancando gay aqui e ali, mas, sem falar em Marta e nos país dela, esses ataques mais recentes parecem obedecer a um plano, a uma estratégia de ação, algo desse tipo […]
E parece que tem rolado muita merda com os imigrantes, sabe? Não só com os bolivianos, colombianos e haitinianos, mas também com os africanos. Essas coisas são difíceis de apurar porque a maioria é ilegal e, exceto quando morre alguém, eles não procuram a polícia. (p. 58-59)
Somente num país que perdeu por completo a sensibilidade, podem circular enunciados como “bandido bom é bandido morto”. Somente onde a barbárie, fruto do desaparecimento da sensibilidade, pode um homem bem posto na vida usar chicote para bater, em público, noutro homem pela simples razão de que propõem diferentes caminhos políticos para a sociedade.
- A sabedoria: alternância da prosa e da poesia
Edgar Morin escreveu um livro em prosa poética sobre Amor Poesia Sabedoria. Os três conceitos remetem à experiência subjetiva irrecuperável e irrepetível. Como toda experiência estética. O êxtase do amor, o êxtase estético e a escuta da sabedoria somente são possíveis quando racionalidade e sentimento se unem, destruindo o homem partido ao meio a que nos levou a modernidade: o lado da luz, a razão; o lado obscuro, a sensibilidade.
A literatura trabalha com estes dois lados num mesmo texto, num mesmo enredo, contando o que não foi – porque é ficção – para entendermos o que foi ou é. Os liames que ligam personagens ao espaço e ao tempo interno da ficção não deixam de referir ao mundo externo, aquele em que vivem o autor e os leitores. Sem estas remessas ao que lhe é exterior, perderíamos completamente nosso sistema ântropo-cultural de referências e toda obra artística se tornaria não hermética – porque todo hermetismo contém uma chave de acesso – mas improdutiva, porque não permitiria o êxtase estético, e inexistente para o mundo dos leitores e autores, homens e mulheres que vivem no mundo da vida e que o compreendem com o mundo da cultura em que a literatura habita junto com as demais artes e junto com a ciência.
De toda experiência estética, sob pena de alienação, retornamos mais enriquecidos (Bakhtin, 2003), mais humanos e, por isso mesmo, mais sensíveis a tudo que nos rodeia. Vivemos alternadamente entre a poesia (o êxtase estético) e o mundo prosaico da cotidianidade. Ambos nos constituem. Se as catastróficas guerras, se a velocidade, se a mentira, se a banalização conspiram todas para construir a esclerose da sensibilidade, a literatura com as demais artes navega contra esta correnteza que nos afoga. São nossas tábuas de salvação postas em auxílio da humanização do homem, de modo que com a literatura podemos deixar de sermos estes pobres homens com a pobreza de seus conhecimentos e informações, porque “nada é mais pobre que uma verdade sem sentimento de verdade” (Morin, 1997, p.33).
Pode parecer estranho que para falar de literatura, eu tenha falado muito do mundo em que vivemos. Acontece que, quando participei de um encontro nacional sobre Literatura Brasileira, no ano de 1975, na PUC-Rio, num debate academicamente acalorado entre dois críticos literários, ambos estruturalistas, tive a oportunidade de presenciar dois fatos memoráveis.
A mesa-redonda encerrava o evento. E a discussão era tão hermética e somente para iniciados que Clarice Lispector e Nélida Piñon se retiraram entre decepcionadas e indignadas. Ao final, tomou a palavra o escritor Osman Lins para ressaltar: durante todo o evento a palavra “censura”, que rolava solta e bem equipada, prejudicando a produção literária, jamais foi pronunciada durante toda a discussão sobre a literatura brasileira! Vivíamos numa ditadura implacável com as artes, e no entanto professores universitários, pesquisadores, reúnem-se para falar do sexo dos anjos da estrutura e da escritura, do grau zero da palavra impossível, etc. etc.
Desde então, em oportunidades como a deste encontro, cuido-me para não cair na implacável crítica de Osman Lins. E por isso não posso deixar de dizer:
LULA LIVRE!
* Texto elaborado para conferência no Clisertão – 4º. Congresso Internacional do Livro, da Leitura e da Literatura no Sertão, Universidade de Pernambuco, Petrolina, maio de 2018.
Referências bibliográficas
Bakhtin, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo : Martins Fontes, 2003.
Bauman, Zygmunt. Vida para consumo. A transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro : Zahar, 2008.
Benjamin, Walter. Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas, vol. I. São Paulo : Brasiliense, 7ª. ed. 1994
Eco, Umberto. História da feiúra. Rio de Janeiro : Record, 2001.
George, Susan. Relatório Lugano. São Paulo : Boitempo, 2002.
Morin, Edgar. Amor. Poesia. Sabedoria. Lisboa : Instituto Piaget, s/data (original em francês de 1997).
Moustakas, Isabel. Esta terra selvagem. Quando o ódio e a intolerância assombram uma cidade. São Paulo : Cia. das Letras, 2016.
Pardo, José Luis. La banalidad. Barcelona : Editorial Anagrama, 1989.
Setúbal, Paulo. Nos bastidores da história. São Paulo : Cia. Editora Nacional, 1928.
João Wanderley Geraldi é reconhecido pesquisador da linguística brasileira e formou gerações de professores em nosso país. Há já alguns anos iniciou esta carreira de cronista-blogueiro e foi juntando mais leitores e colaboradores. O nome de seu blog vem de sua obra mais importante, Portos de Passagem, um verdadeiro marco em nossa Educação, ao lado de O texto na sala de aula, A aula como acontecimento, entre outros. Como pesquisador, é um dos mais reconhecidos intérpretes e divulgadores da Obra de Mikhail Bakhtin no Brasil, tendo publicado inúmeros livros e artigos sobre a teoria do autor russo.
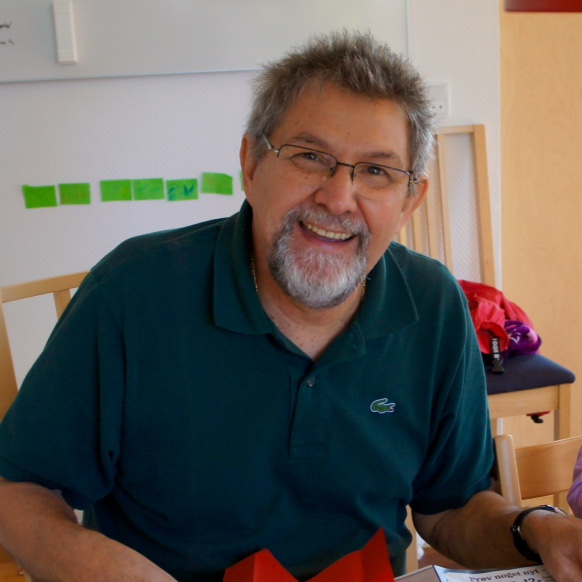
Wanderlei, obrigada pela partilha.
Wanderley, lendo seu texto, lembrei-me desse que carrego há anos no peito:
Aves de Rapina
Há muitos anos que os caminhos se arrastavam
Subindo para as montanhas.
Percorriam as florestas perseguindo distâncias,
Lentos e longos deslizavam nas planícies.
Passaram chuvas, passaram ventos,
Passaram sombras aladas…
Um dia os aviões surgiram e libertaram a distância,
Os aviões desceram e levaram os caminhos.
Joaquim Cardoso