O tema da “constitutividade” remete, de alguma forma, a questões que demandam explicitação, já que supõe uma teoria do sujeito e esta, por seu turno, implica a definição de um lugar nem sempre rígido a inspirar práticas pedagógicas, e por isso mesmo políticas.
Quando se admite que um sujeito se constitui, o que se admite junto com isso? Que energeia põe em movimento este processo? É possível determinar seus pontos alfa e ômega\/ Em que sentido a prática pedagógica faz parte deste processo? Com que “instrumentos” ou “mediações” trabalha este processo?
Obviamente, este conjunto de questões, a que outras podem ser somadas, põe em foco a totalidade do fenômeno humano, sua destinação e sua autocompreensão. Habituados à higiene da racionalidade, ao inescapável método de pensar as partes para nos aproximarmos de respostas provisórias que, articuladas um dia – sempre posto em suspenso e remetido às calendas gregas – possam dar do toda uma visão coerente e uniforme, temos caminhado e nos fixado nas partes, nas passagens, mantendo sempre no horizonte esta suposição de que o todo será um dia compreendido.
Meu objetivo, aqui, é pôr sob suspeição a esperança que inspira a construção desse horizonte ponto de chegada. E pretendo fazer isso discutindo precisamente a noção de constitutividade e as seguintes implicações que me parecem acompanhá-la:
- admitir a noção de constitutividade implica em admitir um espaço para o sujeito;
- admitir a noção de constitutividade implica em admitir a inconclusibilidade;
- admitir a noção de constitutividade implica em admitir o caráter não-fechado dos “instrumentos” com que se opera o processo de constituição;
- admitir a noção de constitutividade implica em admitir a insolubilidade.
No movimento pendular da reflexão sobre o sujeito, os pontos extremos a que remete nossa cultura situam o sujeito ora em um de seus lados tomando-o como um deus ex nihilo, fonte dos sentidos, território previamente dado, racional por natureza, onde se processa toda a compreensão. Na outra extremidade, o sujeito é considerado mero ergon, produto do meio ambiente, da herança cultural de seu passado. Produto da história. Entre a metafísica idealista e o materialismo mecanicista, pontos extremos, movimenta-se o pêndulo. E a força deste movimento é territorializada em um dos seus pontos. A absorção de elementos outros, não essenciais segundo o espaço em que se situa a reflexão, são acidentes incorporados ao conceito de sujeito que cada corrente professa. Exemplifiquemos pelas posições mais radicais.
Do ponto de vista de uma metafísica religiosa, destinando-se o homem a seu reencontro paradisíaco com seu Criador, de quem é feito imagem e semelhança, os desvios de rota, os pecados, enfim a vida vivida por todos nós, tempo de provação, a consciência que, em sua infinita bondade, nos foi concedida pelo Criador, aponta-nos o bem e o mal, ensina-nos do nada o arrependimento pela prática deste e a alegria daquele. Deus e o Diabo, ambos energeia. Impossível um sem o outro, como mostra o “evangelista” contemporâneo José Saramago em O Evangelho Segundo Jesus Cristo.
Do ponto de vista de um materialismo estreito, o sujeito na vida que vive apenas ocupa lugares previamente definidos pela estrutura da sociedade, cujas formações discursivas e ideológicas já estatuíram, desde sempre, o que se pode dizer, o que se pode pensar. Recortaram o dizível e o indizível. Toda e qualquer pretensão de dizer a sua palavra, de pensar a motu proprio não passa de uma ilusão necessária e ideológica para que o Criador, agora o sistema, a estrutura se reproduza em sua igualdade de movimentos. Assujeitado nestes lugares, o sujeito conduz-se segundo um papel previamente dado. Representamos na vida. Infelizmente uma representação definitiva e sem ensaios. Sempre a representação final de um papel que não escolhemos. E aqui a lembrança de leitor remete a Milan Kundera de A insustentável leveza do ser.
Em nenhum dos extremos a noção de constitutividade situa a essência do que define o sujeito. Elege o fluxo do movimento como seu território, um território sem espaço. Lugar de passagem e na passagem a interação do homem com outros homens no desafio de construir categorias de compreensão do mundo vivido, nem sempre percebido. Das histórias contidas e não contadas. Dos interesses contraditórios, das incoerências. De um presente que em se fazendo nos escapa porque sua materialidade “inefável” contém no aqui e agora as memórias do passado e os horizontes de possibilidades, uma memória do futuro. Associar a noção de constitutividade à noção de interação é aceitar o fluxo do movimento, cuja energia não está nos extremos, mas no trabalho que se faz cotidianamente movido pelas utopias, pelos sonhos, limitados pelos instrumentos disponíveis, construídos pela herança cultural e reconstruídos, modificados, abandonados ou recriados pelo presente.
Professar tal teoria do sujeito é aceitar que somos sempre inconclusos, de uma incompletude fundante e não casual. Que no processo de nos compreendermos a nós próprios apelamos para um conjunto aberto de categorias, diferentemente articuladas no processo de viver. Somos insolúveis (o que está longe de volúveis) no sentido de que não há um ponto rígido, duro, fornecedor de todas as explicações.
Que papel reserva à leitura neste processo?
Pessoalmente, incluiria a leitura como uma das formas de interação entre os homens. Leitura do mundo e leitura da palavra, processos concomitantes na constituição dos sujeitos, pois a primeira não se dá sem a segunda. E, na história de cada palavra, a história da compreensão do passado e a construção das compreensões do presente. Na palavra, passado, presente e futuro se articulam.
Isto nos leva a duas categorias essenciais do processo de interação: o reconhecimento e a compreensão. O reconhecimento é uma condição necessária para que se dê a leitura, mas não é condição suficiente. É preciso reconhecer e ao mesmo tempo ultrapassar o reconhecimento para compreender o que se diz, o que se ouve, o que se lê. Neste sentido, a leitura é sempre co-produção do texto, uma atividade orientada por este, mas que o ultrapassa. Retome-se aqui a estética de Ingardem (apud Iser) a produção esquemática do texto com pontos de indeterminação que o leitor preenche, não como uma espécie de preenchimento de vazios desleixadamente deixados num texto, mas sum preenchimento que releva da articulação que faz o leitor.
Por fim, que espaço reservar à prática pedagógica numa concepção constitutiva do sujeito? Habituados a mediar os processos de desenvolvimento proximal dos estudantes (movi8mento de um ponto do “sabido” para outro ponto de um saber já dado), a prática pedagógica, para fugir à inconclusibilidade, à insolubilidade, ao não-fechamento, acaba atuando unicamente nos processos de reconhecimento e por isso mesmo insatisfatoriamente na construção de compreensões. Como com sequência, a leitura passa a ser um gesto de repetição do saber já construído. Note-se a necessidade do reconhecimento, mas acrescente-se necessidade de compreensão para que o movimento não se fixe nos pontos extremos de nosso pêndulo.
Este desafio do professor, que somente uma construção própria, cotidiana, nem sempre coerente, pode levar à manutenção do fluxo da vida humana. Lembremo-nos o imperativo desta autonomia, porque a fixidez produziu na história o Holocausto e também Los Angeles ou o socialmente realmente existente, cujo muro acaba de ser derrubado. No século futuro, é preciso construir autonomamente a liberdade (inclua-se aí a liberdade individual), ainda que tardia.
Nota
A APEOESP – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – realizou no ano de 1992 um conjunto de seminários, sobre cada componente curricular do ensino básico. Fui convidado para um deles, na regional de Campinas. Deste trabalho surgiu um número específico da sua publicação anual, a Revista de Educação (n. 7, dezembro de 1992) com textos sobre o ensino de cada área. Meu tema foi a leitura, que perpassaria todas as áreas. No volume, o texto representou o componente curricular de Língua Portuguesa. Não lembro as razões que me levaram, naquele momento, a me restringir a um aspecto da área. Pensava então que a proposta de ensino com que vinha trabalhando já era suficientemente conhecida e se tornara “arroz de festa” em todas as minhas participações em encontros com professores. Também nessa época já estava ministrando cursos sobre o pensamento de Bakhtin no programa de pós-graduação em Linguística, saindo dos cânones disciplinares da Análise do Discurso que predominavam no programa. Talvez isso explique ter tomado a questão da “constitutividade” como o verdadeiro tema de minha exposição. Analisando à distância, penso que minha participação não contribuiu para o projeto que o Sindicato estava desenvolvendo, já que todas as demais áreas tiveram como foco central o ensino da respectiva disciplina. Lembro até hoje que uma das pessoas que me convidou para a exposição ter dito que eu não desvalorizara meu público, falando de forma didática, e preferindo o tom mais reflexivo. Deve ter sido algum ‘consolo’ ante a apatia de minha exposição.
João Wanderley Geraldi é reconhecido pesquisador da linguística brasileira e formou gerações de professores em nosso país. Há já alguns anos iniciou esta carreira de cronista-blogueiro e foi juntando mais leitores e colaboradores. O nome de seu blog vem de sua obra mais importante, Portos de Passagem, um verdadeiro marco em nossa Educação, ao lado de O texto na sala de aula, A aula como acontecimento, entre outros. Como pesquisador, é um dos mais reconhecidos intérpretes e divulgadores da Obra de Mikhail Bakhtin no Brasil, tendo publicado inúmeros livros e artigos sobre a teoria do autor russo.
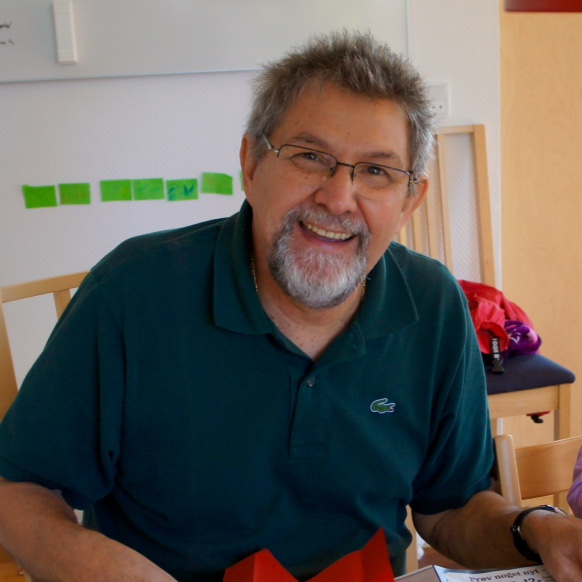
Trackbacks/Pingbacks